No princípio de tudo é preciso coordenadas. 61º04'18.9"N 149º49'39.2"W. Dão-nos o ponto da estrada que sai de Anchorage rumo a sul. Logo após a curva há um imenso cinzento prata a reflectir a luz como um espelho. Perder o horizonte é isto, ficar suspenso numa paisagem onde não há fronteira entre chão e tecto devido a um efeito de luz. A linha imaginária que divide terra e céu não existe e é como mergulhar num vazio infinito. O mapa diz que há ali mar, mas não se vê movimento de água. E que há terra a entrecortar, mas não se nota nem um ligeiro socalco. Tudo parece uma gigantesca planície de cinzas, ou lodo translúcido numa extensão que termina muito longe, numa montanha que surge também cinzenta no seu recorte. Os olhos fixam-se nesse sítio antes de reconquistar perspectiva, ganhar coragem para seguir e largar aquele efeito que truncou todos os sentidos.
Anchorage, a maior cidade do Alasca, com menos de 300 mil habitantes, ficou para norte. É um aglomerado novo de blocos de cimento no centro, e pequenas vivendas e prédios de apartamentos de dois ou três pisos junto às saídas. Foi completamente destruída em 1964 por um sismo seguido de um tsunami, o maior da história dos Estados Unidos e o segundo do mundo, com uma escala de 9,2, provocado por uma ruptura nas placas tectónicas do Pacífico e da América do Norte. As ondas provocadas foram notadas em vinte países e submergiram o sudeste do Alasca. As maiores tinham de 67 metros de altura. Morreram 139 pessoas. Mais de 50 anos depois a reconstrução ainda não terminou.
A estrada que segue em direcção a Seward, um dos mais antigos portos de pesca e de cruzeiros no Alasca, é nova. São 204 quilómetros que naquele ponto começam a contornar o Turnagain Arm, um vasto braço de mar que delimita uma das mais povoadas zonas daquele estado americano denominado a "última fronteira". Não há, no entanto, sinal humano até onde o olhar pode alcançar. O choque que se sente assemelha-se a uma vertigem. Tudo poderia começar ali.
Talvez por isso, no princípio de tudo, foi preciso coordenadas. "O mundo no princípio era um campo enorme, e a Terra era plana. E todos os animais erravam pelo campo e não tinham nomes, e os que eram maiores comiam os mais pequenos, e ninguém se sentia mal com isso. Depois apareceu o homem nos confins do mundo, encurvado, peludo, estúpido e fraco, e multiplicou-se e tornou-se tão numeroso e retorcido e sanguinário com a inactividade que os confins do mundo começaram a deformar-se.” Um pai adapta desta forma o Genesis, primeiro livro da Bíblia, ao seu filho, um adolescente de 13 anos que conseguiu convencer a acompanhá-lo na aventura de resistir um ano numa cabana entre a floresta e o mar numa pequena ilha do Alasca, vivendo com pouco mais do que a natureza, gelada mais de metade do ano, lhes desse. O pai chama-se Jim, e o filho, Roy. São os protagonistas de A Ilha de Sukkwan (editado pela Ahab), romance onde David Vann vai à sua biografia pessoal para a transformar numa história crua e trágica da relação entre o homem e a paisagem e que, segundo o escritor, não é mais do que a relação que está na génese dos Estados Unidos da América. Mais ou menos determinante, mais ou menos imponente, inóspita, rica ou árida, a paisagem enforma a existência, individual e a colectiva, como diz metaforicamente o livro da criação do mundo. Vann pega nele para dizer, na escrita e na conversa, que no princípio era a paisagem, o verbo veio depois.
Até chegar a Seward há mar e montanha, pântanos, parques e reservas naturais, glaciares, centros de recuperação e preservação de espécies, cadeias de montanhas com os picos brancos de uma neve que muitas vezes não chega a derreter, floresta de muitos tons de verde, veados e alces e floresta morta. Milhares de árvores que parecem espectros, decepadas, sombras na paisagem que adquirem um tom fantasmagórico. Alguém disse que os fantasmas não morrem. Elas têm esse estatuto. Morreram mas permanecem de pé desde que o mar invadiu a terra em 1964 e o chão ficou salgado. São poiso de corvos, águias de cabeça branca, mas não há ursos nem veados por perto. Só ao largo, a umas milhas. “Atenção aos animais selvagens. Se vir um urso não tenha reacções bruscas”, vai-se lendo. “A maior parte nunca vê este lugar no Inverno”, diz Jim a Roy, tentando mostrar-lhe o privilégio. Refaz-se a frase: a maior parte não vê este lugar.
Longe
É preciso chegar lá. Nova Iorque é o ponto de partida. O voo sai do aeroporto de La Guardia às 7h45 em direcção a Detroit, no Colorado, e dali às 11h30 para aterrar em Anchorage pouco depois das três da tarde, hora local, menos quatro do que em Nova Iorque. São doze horas de viagem com uma hora de paragem. Não há voos regulares directos entre a costa leste e o Alasca e à chegada a sensação confirma o que já se sabia: o Alasca, para o bem ou para o mal, fica muito longe. Longe dos centros de decisão políticos, económicos, culturais, sociais. E longe do país de que faz parte mas de que não é contíguo. O Alasca não tem fronteira terrestre com os Estados Unidos, mas com o Canadá, mais concretamente com as províncias da Colúmbia Britânica e do Yukon. Toda essa lonjura é uma evidência logo no momento de aterrar.
É o primeiro dia de Maio, o primeiro dia aconselhado aos viajantes para chegar àquele estado ou há o risco de não conseguir circular devido ao gelo. É a data em que os portos abrem aos cruzeiros e se inaugura a época turística. Até lá só alguns aventureiros incitados por aquilo a que Jack London chamou de “velhos instintos” e uma população residente de 738 mil habitantes (censos de 2015) – metade vive na zona de Anchorage - num território de um milhão e 700 mil quilómetros quadrados. É o mais vasto estado americano, tem mais de sete vezes o tamanho do Reino Unido e é maior do que a Califórnia, Texas e Montana juntos. É também a mais simbólica afirmação de conquista americana e da sua noção de fronteira, no extremo geográfico do “go West” celebremente gritado no século XIX pelo escritor e jornalista Horace Greeley. “Go West, young man, go West”, disse Greeley para que se alargassem as fronteiras de um país que começou junto ao Atlântico e acabaria no Pacífico num movimento que ficou conhecido como a conquista do Oeste. Era o auge do fascínio da corrida ao ouro que alimentou o imaginário americano. Arrancou com a conquista de território aos indígenas no século XVII e terminou em 1912 com a integração do Novo México, Arizona e, formalmente, do Alasca. Foi uma compra. Em Março de 1867 os americanos passaram um cheque de sete milhões e 200 mil dólares à Rússia por iniciativa de William Henry Seward. Houve contestação. Muitos achavam que a América não tinha comprado mais do que uma terra de gelo. Provou-se que não. O Alasca tinha recursos naturais. Minério, gás, petróleo, floresta, mar e passou a ser uma terra para alargar o sonho, mais um território a explorar seguindo a ideia americana de fronteira sobre a qual Mark Twain escreveu em As Aventuras de Huck Finn, e que criou uma literatura onde se reflecte sobre a noção de identidade e de mundo selvagem. Nela é central a figura do homem solitário, que se isola e muitas vezes perde a razão. Encontramo-lo no conto de Ambrose Bierce (1842-1914) Um Incidente na Ponte de Owel Creek (1890). O protagonista tenta escapar à sua realidade criando uma fantasia de evasão. É uma ideia que permanece, e tão literária como antes, mas num estilo menos romântico. Foi nela que mergulhou Jim, o pai de Roy.
Como Roy, David Vann é do Alasca por acaso. A família é de vários sítios do Lower 48, designação que se dá aos 48 estados que formam o território contínuo dos EUA. De fora ficam o Alasca e o Hawai. Vann nasceu em 1966 nas Ilhas Aleutias, arquipélago onde o Mar de Bering encontra o Pacífico Norte. Em 1943, aquelas ilhas foram palco da única batalha da II Guerra Mundial em território norte-americano. Na década de sessenta o pai de David foi para ali ao serviço do exército, como dentista, e a mulher seguiu-o, contrariada. Não gostava do clima nem do isolamento. Pouco depois mudaram-se para Ketchikan onde viveram até David fazer cinco anos, e dali para Anchorage até ao divórcio, tinha ele seis anos. O pai ficou no Alasca. David, a mãe e a irmã mais nova mudaram-se para a Califórnia. Esse passado é comum com Roy. Um e outro ficavam nas férias de verão com o pai. À caça, à pesca, em escaladas ou a andar de barco, a partilhar uma perspectiva semelhante em relação a um lugar que lhes suscitava sentimentos ambíguos, embora quase sempre de pertença, como no dia em que Roy saiu para uma caminhada com o pai.
“Subiram acima da linha de nuvens e passaram da espessa vegetação rasteira para o musgo mais fino e umas ervas curtas e duras e viam-se de onde a onde algumas pequenas flores de cores esbatidas. Atravessaram pequenas formações de rochas e depois rochedos e treparam umas fragas mais escarpadas, agarrando o solo mais acima com uma mão, as espingardas na outra, até que o pai parou e estavam naquilo que parecia ser o cume e não conseguiam ver nada para além das formas esbatidas abaixo deles desaparecendo a mais de seis metros, como se o mundo acabasse numa falésia a toda a volta deles e não houvesse mais nada para cima. Ficaram ali durante muito tempo, o suficiente para que a respiração de Roy acalmasse e o calor se libertasse do corpo e sentisse o frio nas costas e nas pernas e o suficiente para deixar de sentir o sangue nos ouvidos e conseguisse ouvir o vento que agora soprava sobre o cimo da montanha. Estava frio, mas havia uma espécie de conforto naquele sítio pela maneira como os envolvia. O cinzento estava por todo o lado e eles faziam parte dele.”
Naquele primeiro dia de Maio, ainda no aeroporto e mesmo antes de aterrar, era o branco que imperava. Uma lonjura branca e o impacto de tudo ser muito mais esmagador do que a imaginação foi capaz de construir à custa de informação, canções, literatura, filmes, séries de televisão. Isso e uma luz de meio de tarde que parece de início de manhã tornava o cenário irreal.
O aeroporto fica a uns vinte minutos do centro de Anchorage. Mary Sue, americana rosada, de caracóis louros mal definidos e óculos dourados, é a guia provisória. À pergunta “é daqui?”, responde com um risonho e provocador “ninguém é daqui”, enquanto olha pelo retrovisor. Ainda não tinha andado cinco minutos, e antes de entrar numa rotunda junto a uma via rápida, abranda e aponta para a rua. Há um alce a roer as folhas de um arbusto no pequeno espaço que divide uma estrada da outra. “Provavelmente irá ver muitos, este é o primeiro. Costumam andar por aqui, temos de estar sempre atentos a conduzir”. Conta que chegou ali pequena, com o pai que foi trabalhar para as minas. “Sou do Midwest, de Kentucky, mas estou aqui há mais de 40 anos”, continua, acrescentado que se contam muitas histórias sobre o Alasca mas a maior parte não é de fiar. “É preciso cá vir e não vem muita gente. Alguns turistas e pessoas para trabalhar, muitos são clandestinos a precisar de ajuda, até para comunicar.” Faz uma pausa. Diz que é voluntária num centro comunitário católico que ajuda a integrar imigrantes ilegais. Que chegam sobretudo da América Latina e do Médio Oriente. Porque vão para o Alasca? “Porque ouvem dizer que aqui há condições ou porque fogem de alguma coisa. Aqui uma pessoa pode-se perder se é isso que quer.”
A protagonista de The Alaska of Giants and Gods quis. Publicado na revista New Yorker em 2014, este conto do escritor Dave Eggers (n. Boston, 1970), autor de Zeitoun (2009) retoma e actualiza esse clássico de fronteira de forma mística e parodiando o cliché da fuga. “O lower forty-eight estava cheio de cobardes e de ladrões e era tempo das montanhas e de pessoas corajosas e de verdade. Por isso, o Alasca”, justifica a protagonista. Ela escolheu o sítio que lhe parecia o melhor para ganhar invisibilidade numa caravana branca; seria só mais uma num milhão, pensava à partida. “Mas tinha de ver o Alasca dos gigantes e dos deuses. O que tinha visto até agora não lhe pareceu uma fronteira. Pareceu-lhe o Kentucky, só que mais frio e muito mais caro. Onde estava o Alasca da magia e da claridade e do ar puro? Achem-me alguma bravura, pediu às árvores escuras à sua frente. Achem-me alguma substância, pediu às montanhas atrás.”
Como ela, há gente de todo o lado à procura de qualquer coisa no Alasca e já não é o ouro da ideia inicial de fronteira. “O Alasca é como uma super-América, uma gigantesca representação das ideias americanas de fronteira, de autoconfiança, de imersão no mundo selvagem”, afirma David Vann numa conversa a partir da Califórnia onde viveu e vai regularmente desde que deixou os Estados Unidos para morar entre a Inglaterra e a Nova Zelândia. E acrescenta que não é a mesma coisa ser de lá ou do Lower 48. “É, sobretudo, outra escala”, adianta, um sítio que atrai gente meio enlouquecida que “fala como a Bíblia” para explicar o que por ali acontece. Como se o discurso tivesse que conter uma religiosidade que a paisagem impõe. Haja ou não Deus. “Cada religião, cada deus, é uma história. Não importa se ele existe ou não, se ela é verdadeira ou não. Não é o facto de ser verdade que a torna mais ou menos importante. Importa o que leva a essa história, à criação desse discurso”, refere ainda David Vann que, em A Ilha de Sukkwan, constrói o Alasca como um lugar capaz de aproximar ou de separar o homem.
Quando Jim convida o filho para ir com ele, o argumento é o de que isso os vai unir. Na ilha seriam só eles e a paisagem. O seu segundo casamento tinha chegado ao fim. Incapaz de viver sozinho, Jim vendeu o consultório de dentista numa cidade do Alasca e comprou uma cabana e munições para um ano. Ao princípio hesitante, Roy acaba por se juntar a ele vindo da Califórnia, onde vivia com a mãe e a irmã mais nova, e no fim da primavera estavam os dois por sua própria conta num sítio onde a natureza imperava, onde “tudo era cruamente aquilo que era e nada mais”. Eles numa cabana “aninhada no interior de um fiorde, uma enseada como um pequeno dedo no sudoeste do Alasca ao largo do estreito de Tlevak, a noroeste da Reserva de South Prince of Wales e a cerca de oitenta quilómetros de Ketchikan. O único acesso era por água, de hidroavião ou de barco. Não havia vizinhos. Mesmo por trás deles erguia-se uma montanha de uns seiscentos metros num cabeço imenso, que se unia através de umas colinas baixas a outras numa embocadura da enseada e mais longe. A ilha onde se encontravam, a Ilha de Sukkwan, estendia-se atrás deles por vários quilómetros, mas eram quilómetros de cerrada floresta virgem, sem estradas nem trilhos, uma densa vegetação…” Lá chegado Roy sentiu-se numa “terra encantada, um lugar que não podia ser real”.
“Ser do Alasca é sentir essa ligação como algo primordial diz”, David Vann que, como Roy, sabe o que é fazer parte, sentir-se chegar a casa mesmo quando lá não esteve durante anos. E sabe, mais do que o rapaz, que não é uma ligação pacífica. “A história do Alasca e de quem lá vive é dura, são poucos os que resistem. Quem vai, vai normalmente a prazo, mesmo quando acha que é para sempre”, diz este homem de olhos muito claros, quase transparentes, que mudaram de expressão para sempre quando o pai deu um tiro na cabeça no momento em que estava ao telefone com a ex-mulher, madrasta de David. Ela ouviu tudo e imaginou tudo. Ele, como Roy, tinha 13 anos mas ao contrário da personagem recusara o convite que o pai lhe fez para morar com ele durante um ano numa cabana no Alasca. “Foi o momento mais importante da minha vida, mudou tudo, formou-me mais do que qualquer outra coisa”, afirma num tom calmo que contrasta com a tensão do livro, o desespero do isolamento quando esse isolamento já não é mais desejado. E desde então houve uma pergunta íntima, silenciosa, repetitiva: “e se eu tivesse aceitado o convite, se tivesse dito sim ao desafio que ele me fez?”
Durante muito tempo não foi capaz de a verbalizar. Tinha dor e raiva e quando lhe perguntavam dizia que o pai tinha morrido de cancro. Não viu o cadáver, mas construiu-o na cabeça, incapaz de passar isso para a escrita. Até ao dia em que começou a descrever uma paisagem. “Começo sempre por aí, pelo lugar e só depois surge o resto.” E o lugar era igual ao da sua infância, como Ketchikan, mas em Sukkwan. Foi aí que apareceu o rapaz de 13 anos que disse sim ao desafio louco do pai.
“As armas estão muito enraizadas na tradição do Alasca e a lei é muito mais permissiva do que noutros estados”, sublinha David Vann. Ser portador de uma arma não implica obedecer a regras especiais a não ser a interdição em determinados espaços públicos, como escolas. Ele aprendeu a disparar muito cedo, com o pai e com o avô. “No verão era muito comum passarmos 18 horas por dia a pescar ou a caçar. Tenho uma memória muito fantasiosa e quase mística disso. O que o meu pai me mostrou ao levar-me para o lado selvagem da vida teve um efeito. Continuo a gostar do mundo selvagem, de escaladas, de navegar, mas não caço desde os 13 anos, quando o meu pai morreu. A última vez que matei de facto alguma coisa tinha 11 anos. Matei dois veados. Isso perturbou-me tanto que a partir daí falhei tudo de propósito. Passei os últimos dois anos de vida do meu pai a fingir que tentava caçar e quando ele morreu nunca mais dei um tiro.”
Sukkwan é um livro político? “Não escrevo sobre política, não tenho um programa, mas é impossível não ser político quando se fala do indivíduo enquanto ser complexo. Sempre senti que alguém que na ficção escreve alguma coisa política intencionalmente só escreve porcaria. Mas a ideia de que o lado pessoal é sempre político é verdade. Ao descrever a paisagem do Alaska para contar uma tragédia baseada numa história real da minha família, não estou a ser político, mas não estou a romantizar a paisagem ou a falar da bondade da América no modo como lida com o mundo selvagem. Falo das nossas falhas e limitações. Não é uma visão anti-americana. É apenas um espelho do que somos em vez de ser um depósito da nossa bondade. Por isso talvez a descrição da paisagem sem a mínima intenção política termine a ser política. Já escrevi um livro de não ficção sobre tiroteios em escolas e acho louca a maneira de controlar as armas. Escrever esse livro foi uma decisão muito mais política.”
Não houve intenção de denúncia, mas do apurar de sentidos. Por exemplo, para o facto de se estar num estado com uma elevada taxa de suicídio (23 suicídios em cem mil habitantes, em 2014, quase o dobro da média nacional), de consumo de álcool (cerca de 9,5 por cento da população com mais de 12 anos é dependente), de violações (a maior taxa dos EUA com 80 violações por cem mil residentes). Em Sukkwan, Roy tem pesadelos. O medo da morte é tão grande quanto o do confinamento, e há uma arma por perto.
Ser-se
Sukkwan existe mas David Vann nunca lá esteve. “Criei a ilha para o livro dando-lhe uma paisagem que me era familiar”, conta. É parecida com a paisagem de Ketchikan, cidade de oito mil habitantes onde Vann passou parte da infância, no sudeste daquele estado, não muito longe – tendo em conta as distâncias do Alasca -- da capital, Juneau. São 478 quilómetros que se fazem em 19 horas por uma estrada sinuosa. Salvo excepções, o carro não é o melhor meio de transporte no Alasca. As grandes extensões, o clima, os acessos difíceis fazem com que um em cada cinco alasquianos tenha brevet de avião… ou hidroavião. Sobrevoam as povoações como pequenos insectos ruidosos aterrando em lagos, em clareiras nas florestas, pequenos aeródromos ou pistas, vêm lembrar a quem se esquece que talvez a invisibilidade não seja mais possível, nem no Alasca.
O lago de Hood reclama para si o epíteto de maior pista de hidroaviões do Alasca. É perto do aeroporto de Anchorage. Os primeiros motores começam a ouvir-se pelas quatro e meia, cinco da manhã, hora a que nasce o dia no início de Maio naquela parte do hemisfério, mais ou menos quatro horas depois da última luz, pela meia-noite. Há dezenas de pequenos aviões alinhados ao longo das margens atá à entrada de um dos hotéis que hospeda uma clientela de caçadores, pescadores, exploradores do ar, gente que fala muitas línguas e vai atrás da tal aventura num território limite. E há locais, nem que sejam a prazo. Lisa, uma rapariga morena de olhos rasgados, diz que está um bom dia para ir de avião até Denali, onde está a maior montanha do Alasca. “Está boa luz. É só perguntar a um dos pilotos se tem vaga”. Enche uma caneca de café, aconselha salsichas de veado para o pequeno-almoço e uma panqueca de mirtilos acabados de colher. A viagem pode custar entre uns 400, 500, 600 dólares que podem ser partilhados por dois ou três passageiros e durar uma ou duas horas. Lisa já fez e garante que vale a pena. Arrisca a tal pergunta: “É daqui?”; “Não, sou da Malásia”, e espera a inevitável reacção de espanto de quem a ouve antes de contar que está ali há cinco anos e gosta; só tem saudades do calor. Quando tempo vai ficar? Encolhe os ombros. Não sabe. Quem sabe?
Anchorage parece menos uma cidade do que um grande entreposto onde a população se abastece ou trata de burocracia. Às dez da manhã, as ruas estão quase desertas. É tarde para começar a trabalhar, e cedo para sair do trabalho. A beleza da paisagem em volta contrasta com um urbanismo bruto, utilitário. É preciso arriscar uma caminhada para ver que há gente na espécie de túneis que ligam uns edifícios aos outros e protegem das temperaturas geladas. Estão cinco graus, faz sol, é um dia ameno, mas a rua naquela cidade parece não ter sido pensada para andar a pé. Anchorage é um ponto de retorno em toda a região do centro-sul do Alasca, local de distribuição de transporte, de estradas, de abrigo, de visita para quem vive isolado, a muitos quilómetros, precisa de readquirir um sentido de colectivo, ter um sopro cosmopolita.
Marco Túlio apresenta-se como brasileiro. Tem 21 anos, é natural do Connecticut e há dois que serve o exército norte-americano na base militar de Fairbanks, a 578 quilómetros para norte e para o interior. “Estou de folga e vim passear”, comenta, como quem já repetiu aquilo outra vezes, enquanto anda com a namorada pelo centro comercial de Anchorage, três pisos de lojas que replicam marcas internacionais, mas com produtos ajustados ao clima e à geografia. “Isto é bonito mas é muito isolado”, lamenta, feliz por estar quase a mudar-se para o Hawai. “Pelo menos lá há calor e praia”, salienta num português que enrola os érres à americana e antes de dizer que o seu sonho é morar no Brasil.
“O Alasca é um sítio muito duro para se viver. Nesse sentido é um lugar um pouco desesperado, faz uma selecção natural de população. Caçadores e pescadores, claro, e pessoas que querem fazer muito dinheiro depressa porque tiveram sucesso em alguma coisa”, explica David Vann. A mãe de David quis ir embora e foi. E ele foi com ela. Marco Túlio quer ir, Lisa irá um dia, Mary Sue não pensa nisso. Nascer no Alasca parece um acaso, ir para o Alasca é uma decisão. Essa vida a prazo cria um modo de ser. “É um lugar com uma influência muito conservadora por causa da presença militar, de grande polarização política à esquerda e à direita, muito mais polarizado do que o resto dos Estados Unidos”, refere David Vann. “De esquerda ou de direita, muitas pessoas vão para lá para escapar um pouco à pressão do governo, e à esquerda ou à direita têm estilos de vida muito semelhantes. Caçam, usam armas, fumam haxixe. Ser conservador no Alasca não é muito diferente de ser conservador em Tallahassee, na Flórida, onde também vivi. Usam armas e conduzem pick-ups”, sorri. “Muitas vezes diz-se que o Alasca é uma excepção, que não representa a América. Mas sempre senti que representa a América profundamente e revela o que é a América. É um lugar politicamente conservador que nega as alterações climáticas enquanto as está a experimentar como poucos. A cultura americana está cheia dessas contradições que têm que ver com o modo como os americanos se vêem a si mesmos. Acho que são mais visíveis no Alasca do que noutro lugar. A coisa mais estranha no Alasca é que parece que ninguém é de lá, ninguém pertence e ninguém quer ficar muitos anos. Ser um alasquiano é simplesmente viver lá enquanto se vive e depois transportar isso ou não”.
Ninguém parece ser dali, mas cerca de 14,8 por cento da população do Alasca (censos de 2010) é nativa. Uma percentagem muito superior à média nacional onde os nativos ultrapassam pouco um por cento. É falsa a frase tantas vezes repetida “Ninguém é do Alasca”. Além do inglês falam-se vinte línguas e muitas têm livros escritos e publicados; há artesanato indígena em lojas para turistas e uma população indígena fixa. Fazem parte, mais ou menos integrada, de uma população 66 por cento branca, maioritariamente protestante e com um produto interno bruto dos mais baixos do país, apesar da percentagem de milionários ser a quinta maior entre os 50 estados americanos. A extracção do petróleo continua a ser o principal motor da economia, seguida a larga distância pelo pescado. As bases militares de Fairbanks, Anchorage e da Ilha de Kodiak e os subsídios federais ser um estado ultraperiférico contribuem para que o rendimento per capita médio esteja entre os 15 mais elevados dos EUA. A acrescentar a isto há o turismo, num desempenho crescente.
São sete da tarde de terça-feira e cai uma chuva miúda. O Southside Bistro, do chef sueco Travis Haugen, está cheio. Serve-se marisco e peixe, sobretudo, numa cozinha de inspiração mediterrânica com influências do norte da Europa. Os preços competem com os das capitais gastronómicas. Uma refeição para duas pessoas não fica por menos de 200 dólares – mais gratificação. Travis Haugen nasceu na Suécia, cresceu na Dinamarca, aprendeu cozinha em Paris e teve um restaurante em S. Francisco até conhecer Amanda. “Ela é daqui e para mim foi uma mudança perfeita. Estava farto da correria da Califórnia. Aqui tenho bons produtos, bons níveis de exigência e consigo criar os meus quatro filhos sem stress”, afirma, depois de sair da cozinha quando são onze da noite e há uma luz de fim de tarde.
O italiano Fosco (não quer revelar o apelido) é o cicerone. Tem pouco mais de 50 anos e está quase a regressar a S. Francisco, onde vive, depois de seis meses a fazer consultoria para um dos serviços federais em Anchorage. Esse tempo deu-lhe para saber alguns segredos da cidade e do modo de ser alasquiano. “São afáveis, mas um pouco loucos”, conclui. O encontro com Fosco foi casual, a alguns quilómetros dali, quando interrompeu o silêncio da montanha: “Vai subir?”, perguntou nessa tarde no sopé do Glaciar Exit, no Parque Nacional de Kenai, um dos mais belos e preservados do Alasca. A pergunta de Fosco seria a primeira frase do que se revelaria uma incontinência verbal auto-diagnosticada. Espera resposta enquanto ajeita o gorro e dá a mão a Silvia, a namorada eslovaca, designer de interiores que tirou uns dias para conhecer o Alasca antes de partiram os dois. São quase cinco quilómetros daquele ponto até atingir o glaciar. Não se avista ninguém ao longo do percurso que a partir de certa altura se faz por um carreiro estreito de chão cada vez mais negro e árido. Há fezes de animais selvagens e outra vez os avisos: nada de atitudes histéricas se ficar frente a um.
E depois? A pergunta de Roy impaciente com a história da Bíblia faz-se mentalmente à medida que o cinzento e o branco vão sendo cores cada vez mais solitárias na paisagem. E depois? É outra exibição de luz. O sol a pôr-se por detrás da montanha branca e o gelo como uma dádiva a escorrer por ela, iluminando um gigante de 6,4 quilómetros que vai encolhendo todos os anos. Os marcos estão lá. Entre 2013 e 2014 recuou 57 metros, o que é considerado um recorde na velocidade a que está a derreter. É um efeito do aumento da temperatura média anual. Um relatório da Agência norte-americana para a Protecção Ambiental, EPA, calcula que o aquecimento naquele território seja o dobro do registado no resto do país e com efeitos visíveis nos ecossistemas e na sobrevivência de algumas tribos nativas que dependem da caça e da pesca. Isso, a salinização dos solos, a erosão nas zonas costeiras, a destruição de estradas e de pontes que não resistem aos efeitos do degelo são aspectos visíveis das alterações do clima. Barack Obama esteve ali em 2015, durante a Conferência do Árctico que decorreu em Anchorage, e comprometeu-se a reduzir entre 26 a 28 por cento as emissões de gás. Já este ano, quando nas Nações Unidas 130 líderes políticos se preparavam para assinar os acordos de Paris em matéria de clima, a ex-governadora do Alasca e apoiante de Donald Trump, a republicana Sarah Palin, acusava a comunidade científica de chegar a conclusões falsas com fins políticos. A ironia é que no Alasca essas conclusões ganham grande evidência. Seja com os imensos vales negros onde antes havia glaciares, nas fendas que cortam estradas, com as florestas mortas pelo mar ou os quilómetros de floresta queimada por incêndios.
Anchorage é outra vez ponto de partida. Agora para norte em direcção a Talkeetna, à entrada do Parque Nacional de Denali onde está o ponto mais alto da América do Norte, o monte McKinley, com 6190 metros. É uma pequena comunidade de pouco mais de 800 pessoas que vivem do turismo associado à montanha. Até lá são 182 quilómetros que se fazem em pouco mais de duas horas por uma estrada larga que se alarga ainda mais. Ao longo de dezenas de quilómetros há máquinas a terraplanar uma paisagem que contrasta com a que se estende a sul de Anchorage. Estaleiros, fábricas, e uma floresta plana a perder de vista. Parte dela queimada. Em 2015 arderam 125.500 quilómetros quadrados de floresta Árctica (no Alasca, Rússia e Canadá), quase uma vez e meia a área de Portugal.
Por essa estrada segue uma carrinha amarela de transporte escolar. Pára espaçadamente em sítios onde parece não existir nada além de árvores ou casas com aspecto de abandono. Nessas paragens, um ou dois carros esperam que lhes seja entregue a sua criança. Vêm da escola de Palmer, pequena cidade de seis mil habitantes que, como outras dessa dimensão, tem infra-estruturas suficientes para uma certa autonomia. Além de escola, há posto de saúde, correios, restaurantes, bares, um aeródromo, oficinas de automóveis, bombeiros, supermercados, bombas de gasolina e, no caso, uma estação de comboios.
Anne vive aí. Como é hábito vai almoçar ao Noisy Goose Café, um chalé de madeira com vasos de flores às janelas e um parque de estacionamento de terra. Anne espera vez numa das mesas comunitárias onde se serve comida local. Salmão, frango frito, hambúrgueres de veado e de vaca, filetes de bacalhau fresco, sopas. À uma da tarde está cheio. Pais a almoçar com crianças, agricultores em conversas ruidosas, casais de idosos. Anne pede uma sopa e uma sanduíche com um enorme bife. Pertence à segunda geração de alasquianos. O pai era do Colorado e instalou-se ali. “Montou um negócio de carros”, conta a mulher de longos cabelos grisalhos e gargalhada fácil que em criança ia aos domingos almoçar a Anchorage. “Agora vou lá muito pouco…”, e a conversa perde-se no barulho.
O ruído de motores no céu anuncia a chegada a Talkeetna. A chuva deu tréguas e há gente na rua junto ao aglomerado de casas de madeira num cruzamento de estradas e de três rios, com um aeródromo. Há também letreiros por toda a parte a anunciar quase tudo, mas há sobretudo lojas de souvenirs e bares. Além disso, uma mercearia que dá para outro bar com as paredes cobertas de frases escritas a marcador. Quem quiser escreve, se ainda houver espaço. Um grupo de rapazes e raparigas bebe cerveja local ao balcão. Junto ao tecto, um televisor está ligado num canal de notícias. Ted Cruz, um dos candidatos do Partido Republicano, acaba de anunciar que se retira da corrida. Donald Trump vai mais só à Convenção agendada para Julho. Ninguém se move para comentar. Não há uma reacção. As cervejas e a conversa continuam enquanto na rua quatro meninas passam num carro plástico colorido. Vão sozinhas na estrada de asfalto, com os pais vigilantes, ao fundo. É o centro daquela terra. Uma estalagem exibe a placa “Vende-se” e ao lado uma rapariga com o cabelo às cores levanta o auscultador da cabine de telefone público enquanto deita uma moeda. “Alguém é de Talkeetna?”, apetece perguntar. E seguem-se histórias de gente que se refugiou ali durante anos, sobretudo do preconceito. Homossexuais, ex-presidiários. “Hoje já não é assim”, diz o homem que serve cervejas. “São miúdos à procura de aventura, turistas que param e depois vão.”
A abstenção não aparece contabilizada. Em 2004, mais de metade da população do Alasca dizia-se apartidária. Entre os simpatizantes de algum partido, os democratas situavam-se nas áreas metropolitanas de Anchorage e Juneau e junto à Universidade do Alasca, no campus de Fairbanks. A base eleitoral republicana está na província de Kenai, também no sudoeste do estado, em Anchorage, Fairbanks, Polo Norte e no vale de Manatuska-Susitna, no sopé das montanhas de Talkeetna. O estado elege três representantes para o Congresso, e desde 1960, ano em que ganhou Lyndon B. Johnson, os Republicanos venceram sempre as presidenciais no Alasca, estado sem pena de morte, onde é permitida a posse de marijuana se não ultrapassar uma onça (28 gramas) e há um partido independentista que ganha adeptos. Se o Alasca fosse independente, seria o 17º maior país do mundo em área, e tem petróleo, recursos naturais e uma história antiga.
São algumas das contradições de que falava David Vann? Ele responde que talvez, mas alerta para os perigos da generalização. Já lhe chamaram muitas vezes anti-americano. A última, diz, foi um jornal francês. Vai buscar isso a propósito de Donald Trump. Não acredita que possa ser eleito. “Já não vivo nos Estados Unidos, mas voto aqui. E vou votar em Hillary Clinton”, afirma antes de qualquer pergunta. “Passo a vida a dizer que há milhões de americanos que são uns perfeitos idiotas. A maior parte das pessoas é resistente a isso. Mas Trump é a prova de que há dezenas de milhões de americanos que são idiotas. Mas não são suficientes. Acho que mais de metade da América está aterrorizada com a ideia de ter Trump como presidente. E isso inclui muitos republicanos, os mais formados sabem que ele é demasiado perigoso.”
Em Maio decorriam as primárias, mas sem sinais de nada nas ruas. Era outra vez como se tudo se passasse longe, e dentro do próprio Alasca houvesse muitas camadas de lonjura. Como a que se está prestes a atravessar, desta vez uma barreira física, um longo túnel escavado numa rocha até um lugar improvável. Fica também na província de Kenai, não muito longe da estância de desportos de inverno de Girdwood, a mais exclusiva do Alasca, a uns trinta minutos de Anchorage para sueste. Chove no caminho e às vezes as gotas transformam-se em flocos de neve. Junto a outro glaciar, uma fila de carros espera o sinal verde para avançar. A cada hora, as luzes do túnel abrem num sentido e são mais de sete minutos de travessia na escuridão por cima dos carris de um comboio. Caem pingos de humidade da rocha no tejadilho e o ar é quente e húmido. No fim chega-se a um cenário de Guerra Fria. Barcos atracados ao longo da estrada, parados em baldios, e ao fundo um único edifício de 14 andares que esconde a ruína de outro. E muitos contentores e cargueiros e uma escola com escorregas e baloiços. Quem vive ali?
O sítio chama-se Whittier, fica à entrada de um do canal no Golfo do Alasca e aquela é a única entrada por terra. Moram ali 214 pessoas (números de 2015), todas no mesmo edifício. A passagem exista, mais tosca, até que durante a II Guerra Mundial o exército americano construiu ali uma base militar. Em 1964 o complexo de edifícios foi destruído pelo sismo. É hoje um enorme volume cinzento recortado por janelas e invadido por musgo. À frente, está a nova construção de finais dos anos cinquenta. Tem 150 apartamentos de um e dois quartos que servem funcionários do porto e é uma atracção bizarra de navios cruzeiro.
Sai-se por onde se entrou com a imagem de 35 crianças a viver e a frequentar a escola ali. É a paisagem a determinar, conforme acredita David Vann.
Chove mais no caminho de volta. A luz desenha um cinzento brilhante no asfalto. Cheira a pinho e a qualquer coisa doce. Em Anchorage, um rapaz fuma sozinho num jardim, capuz na cabeça. Pelas oito da noite o sol espreita e a conversa sobe de tom num restaurante de marisco e bifes. Há um jornal local que anuncia a abertura de uma livraria onde até há pouco houve um clube de strip. As obras vão começar… A noite não cai. Mais um olhar à volta. Fala-se sobretudo inglês mas os sotaques são muitos. Pelas onze e meia, num lusco-fusco, um grupo cruza a rua em direcção a uma das discotecas abertas, a maior da cidade. Várias pistas numa decoração tosca. O balcão está cheio e uma das salas concentra a maior parte das pessoas. Há um crooner a cantar When Doves Cry. A morte de Prince é recente e o luto ainda se faz, também por ali. Se havia lonjura até aí, quebrou-se naquelas lágrimas.




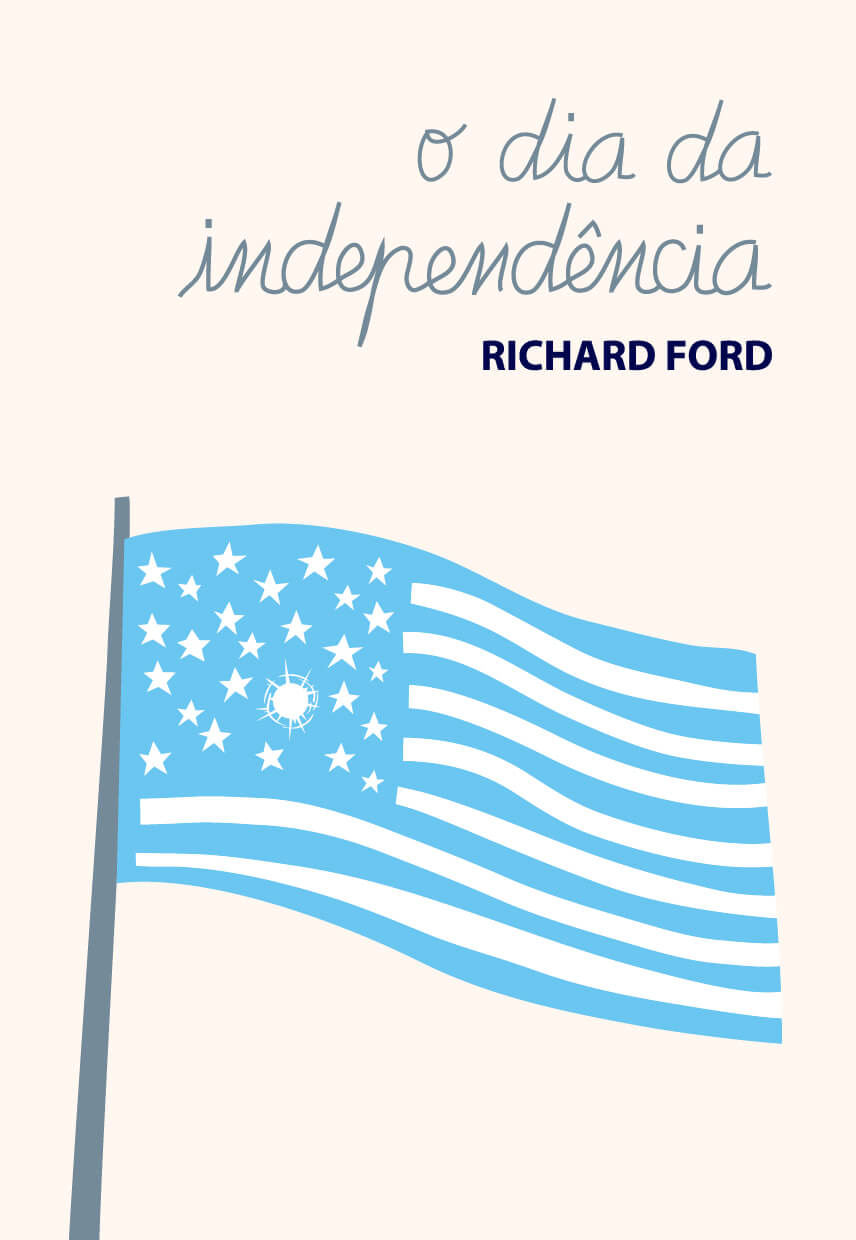

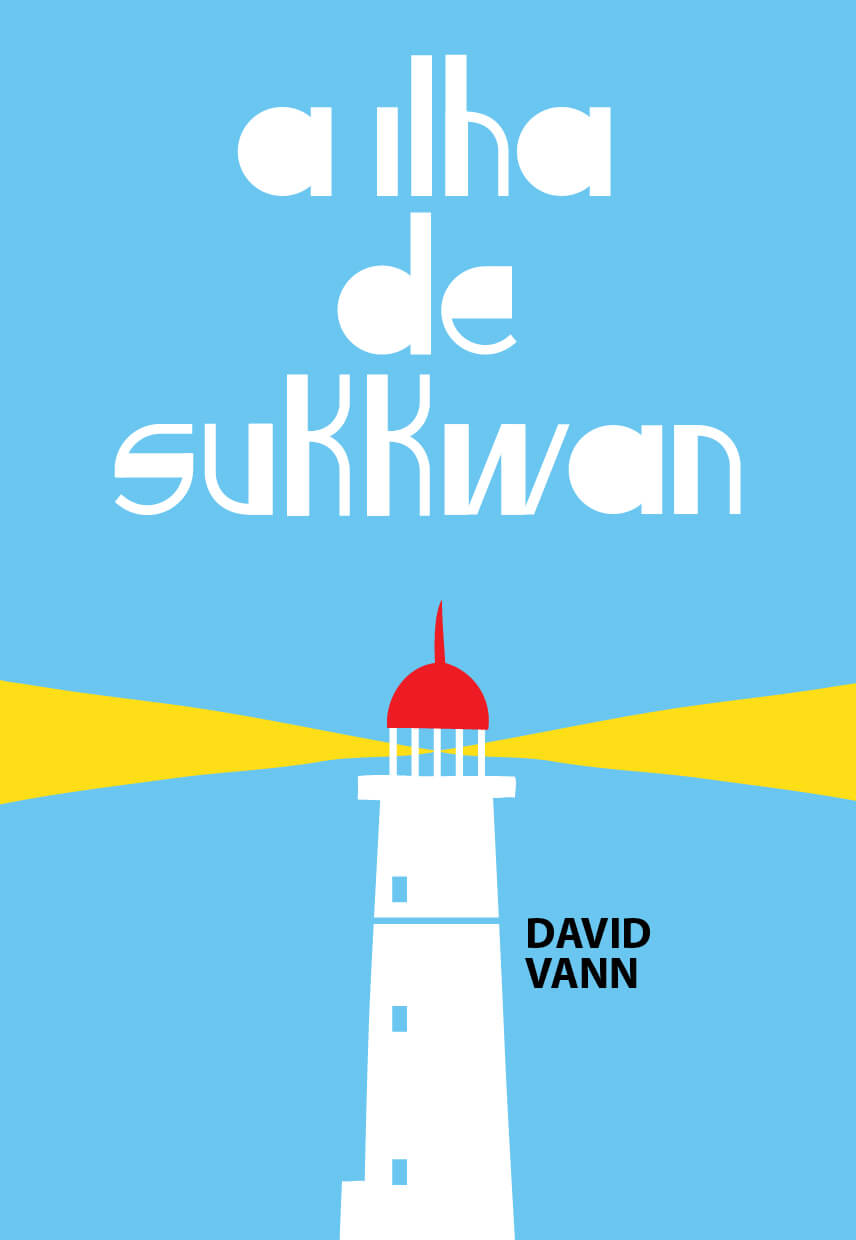
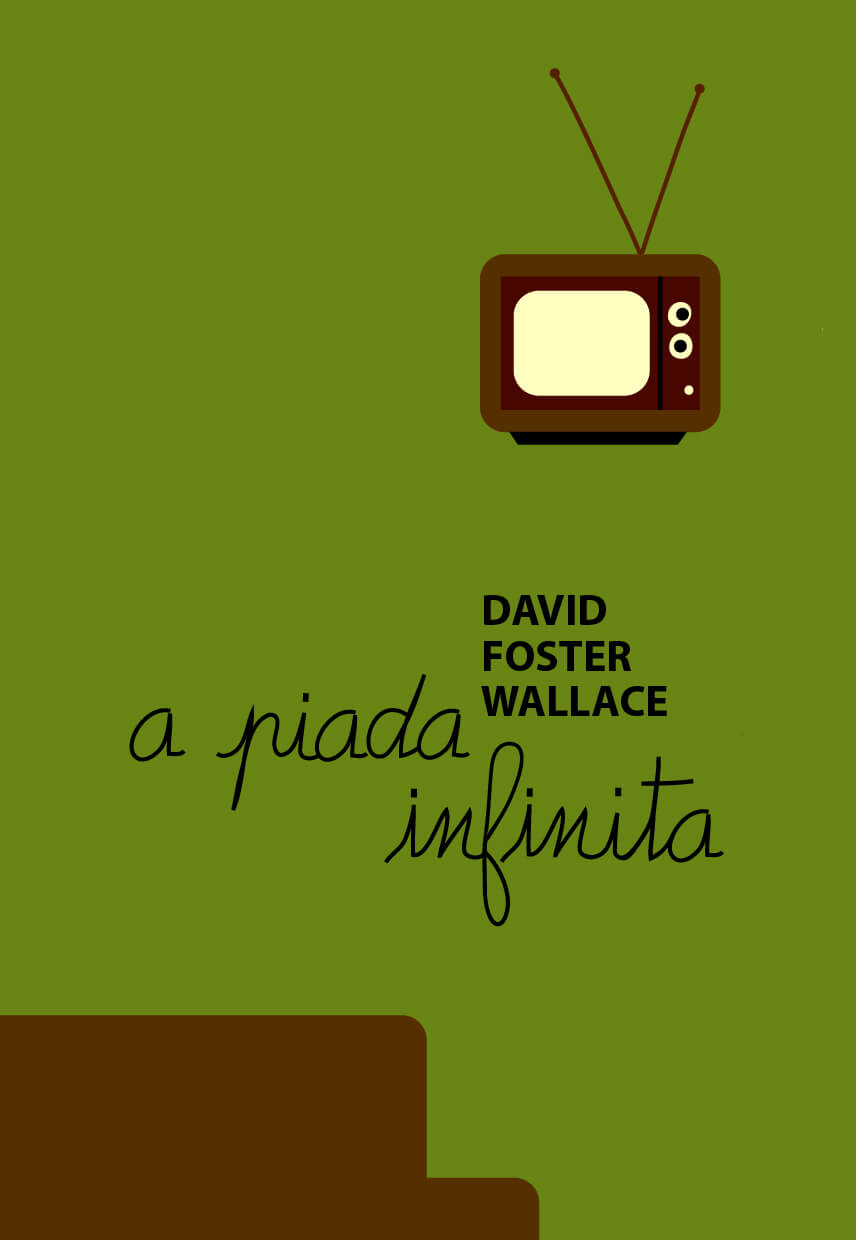


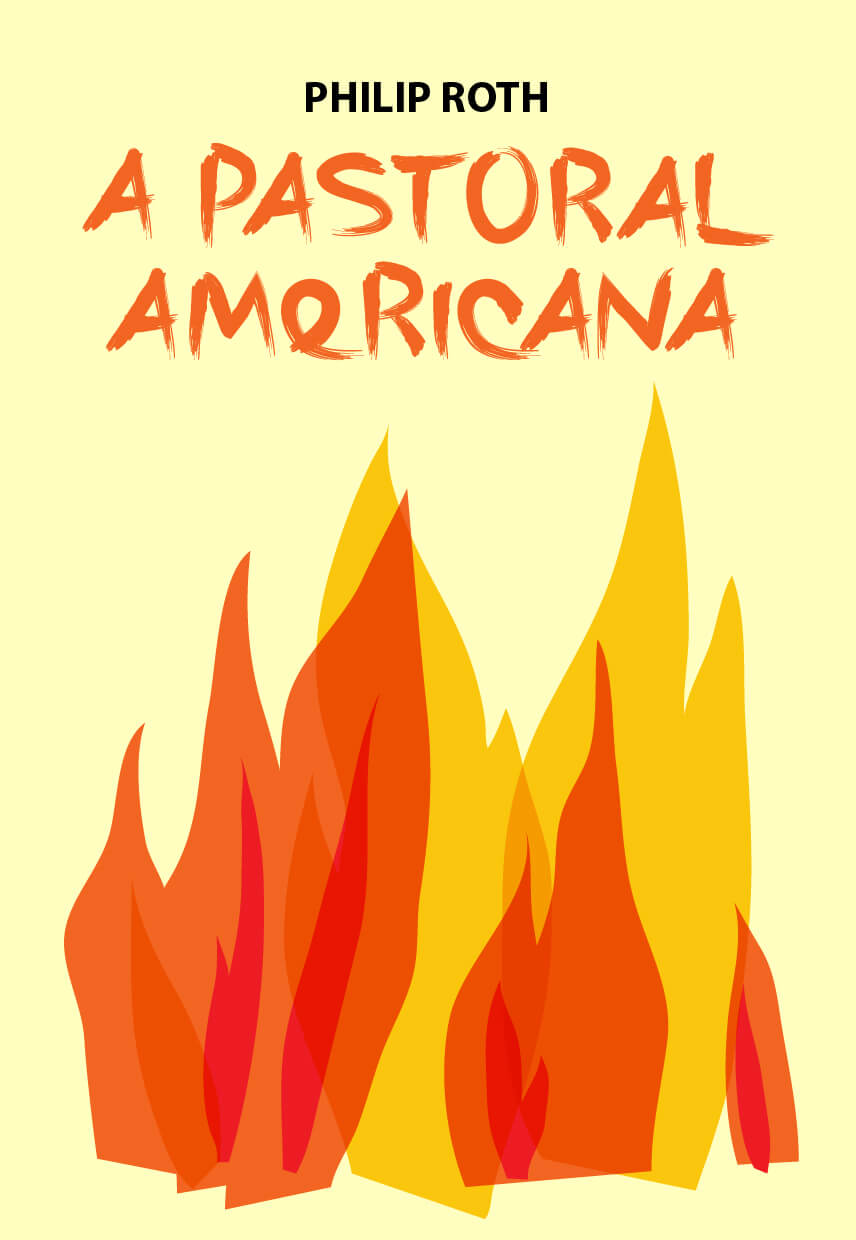
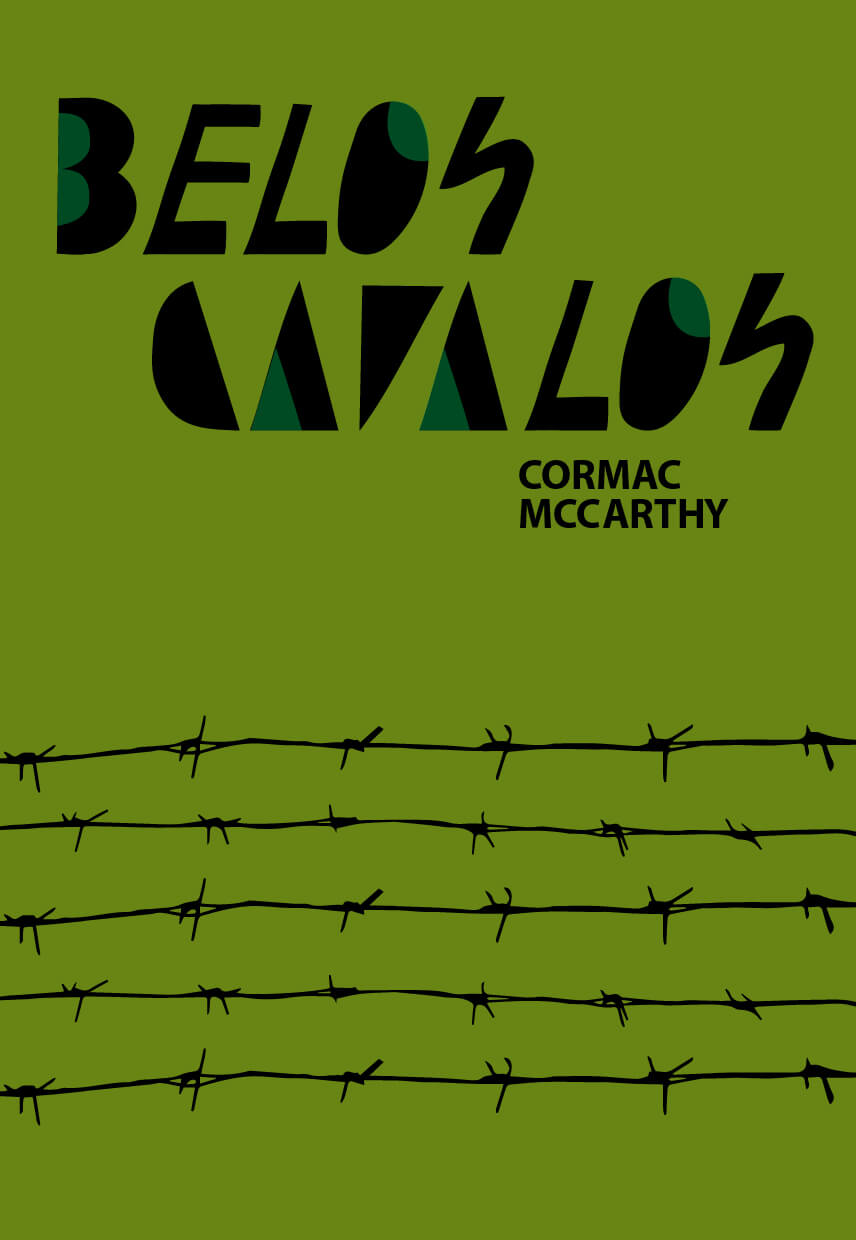
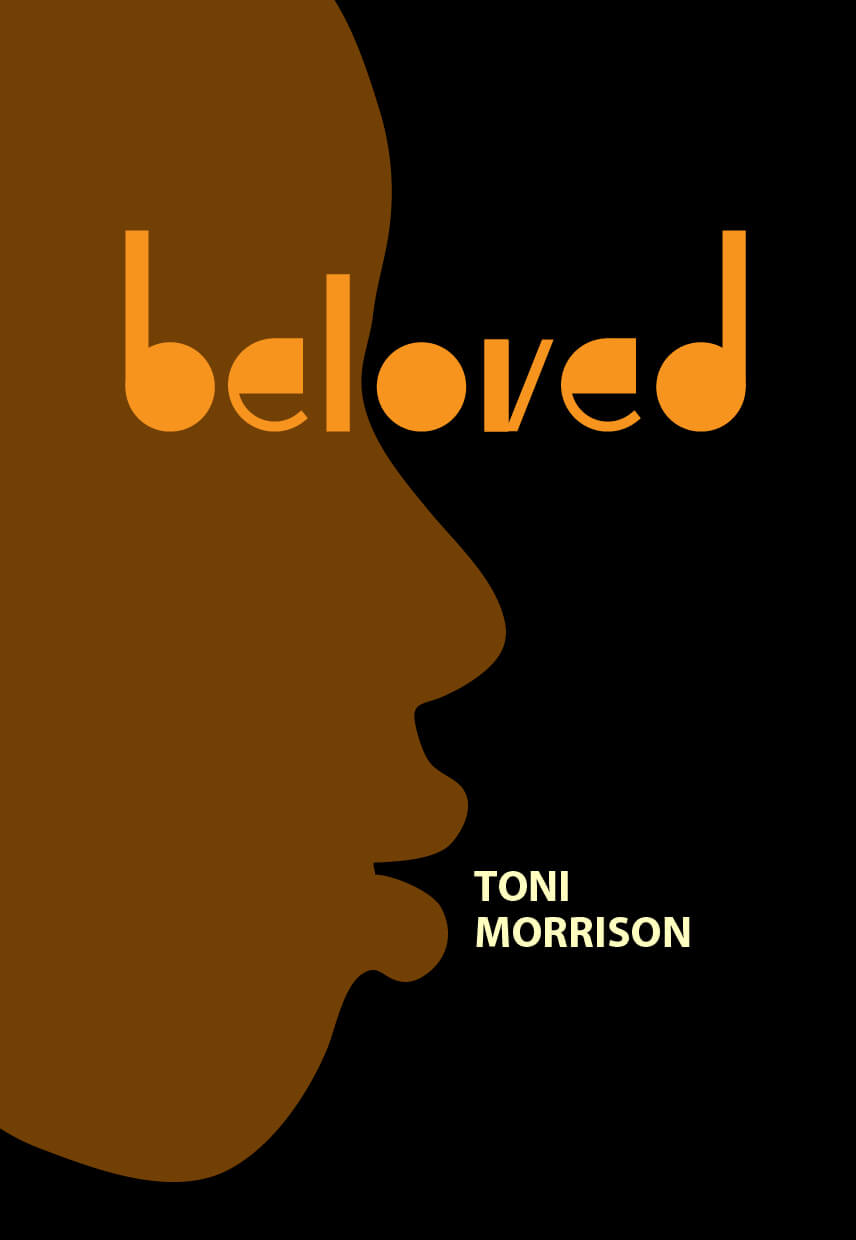
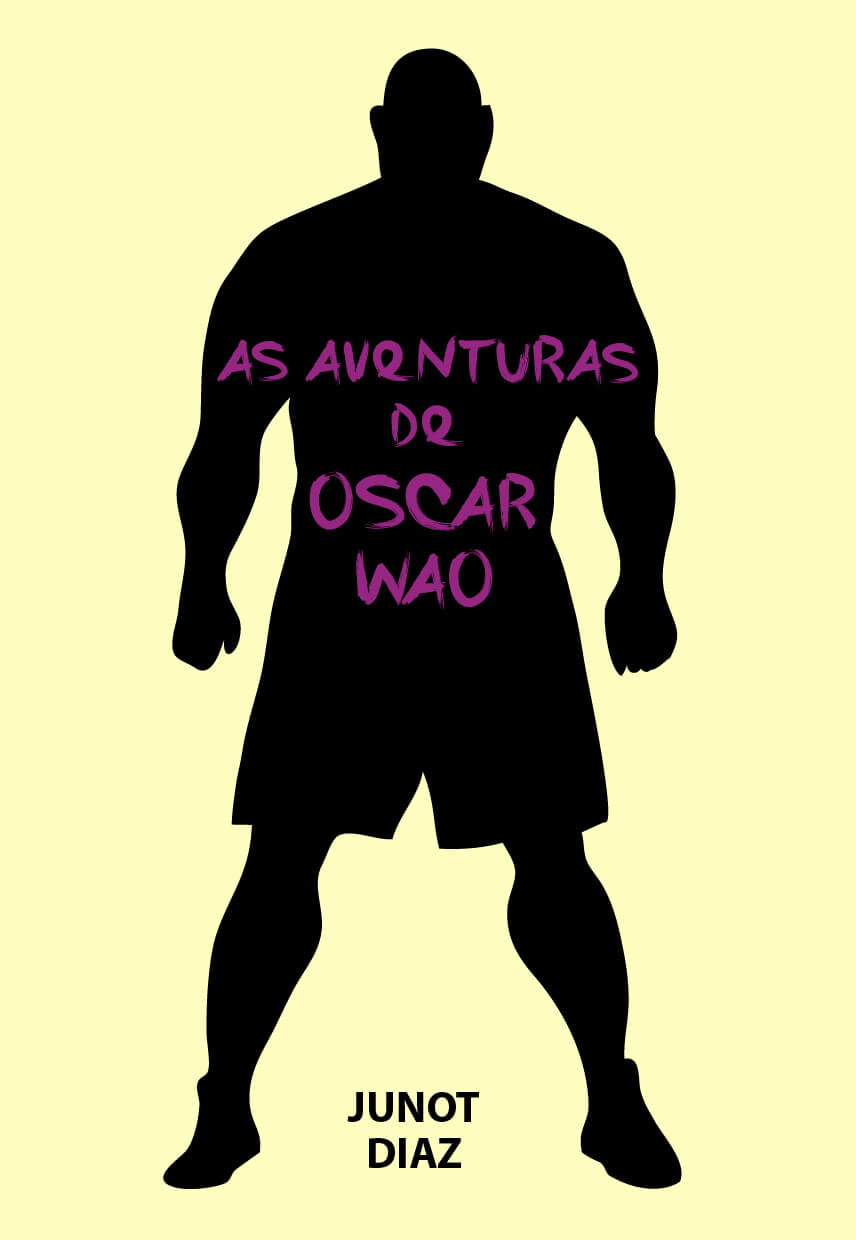



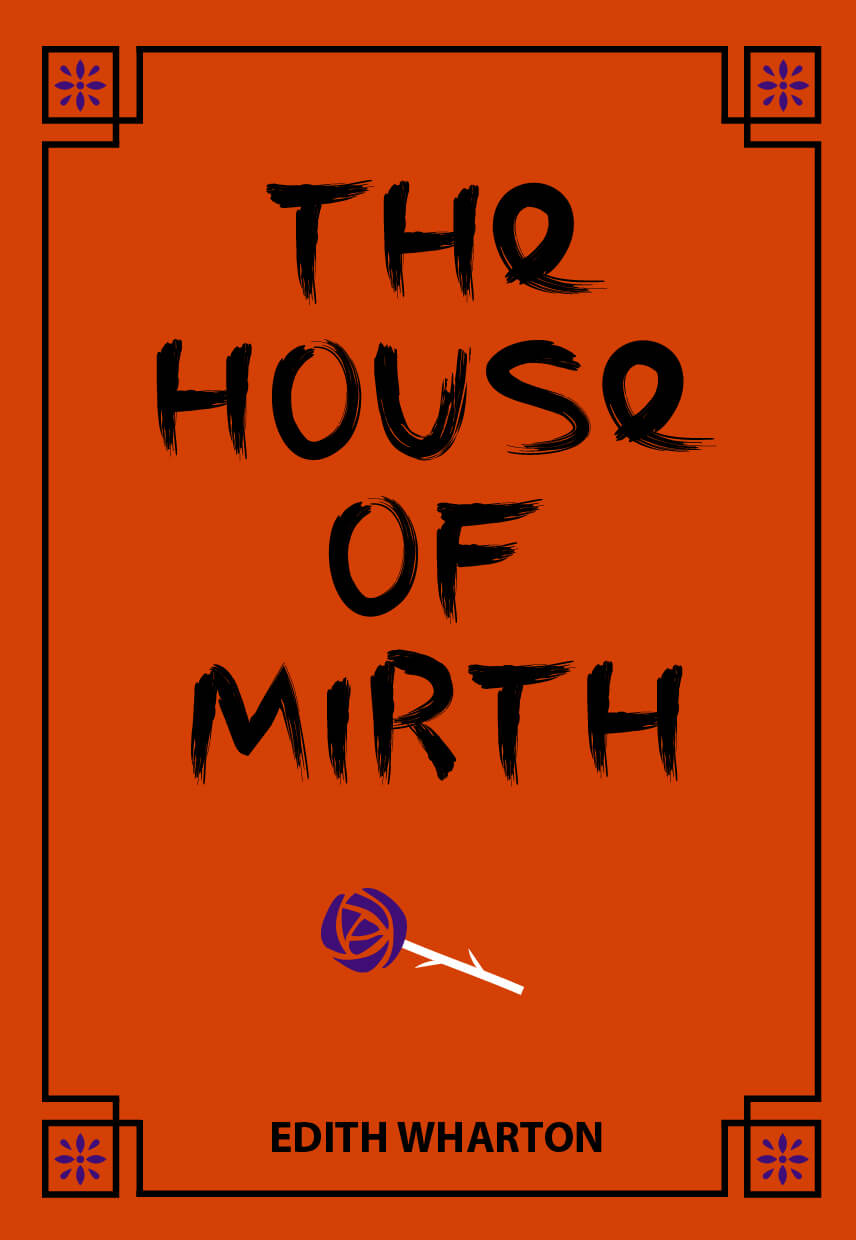



Comentários