A mais curta viagem entre o amor e o ódio
I
E os soldados alemães passam de comboio.
As raparigas movem as cabeças, os cabelos, fartos caindo dos gorros, rodopiando com o pescoço; as raparigas apontam.
Do comboio vem aquele som entorpecedor como um silêncio em bruto. E os soldados alemães passam. E elas quebram o silêncio rindo. E como um eco, logo, a ofensa.
A dúzia de raparigas avança na direcção da ponte em pequenos passos que no gelo são quase dançados, voltam as bocas para os soldados alemães que passam de comboio. Sabem que as palavras não chegam aos soldados alemães que passam de comboio mas que não é preciso, como beijos atirados a intenção é imediata e eles recebem os insultos, parece-lhes que há resposta na forma como olham para elas.
Os soldados alemães vêem os desenhos que as raparigas já deixaram no rio gelado, vêem círculos de felicidade no gelo, fechando a pouca alegria entre elas. Naquele inverno, o que havia de fartura estava apenas dentro delas: nos corpos de adolescentes com os seios avolumando-se, o sangue bombeando desenfreado o coração, e também nas imaginações que buscavam aventuras sem crueldade. A fartura dos cabelos que não param de crescer é bonita vista do comboio pelos soldados alemães que passam.
As raparigas juntam-se num círculo cada vez mais apertado, o gelo ficará algum tempo marcado pelo movimento recto e ríspido do travar dos patins, e quando apontam parece um só braço e um só dedo e quando riem, só uma boca abrindo-se.
A sua troça tem uma raiz individual – cada uma delas tem a sua queixa: um parente em perigo de vida, um prisioneiro de guerra que amam, uma saudade nauseante do que deixaram para trás durante as fugas – mas o ódio é colectivo. O ódio tem uma natureza orgíaca, o prazer mais intenso quanto mais partilhado.




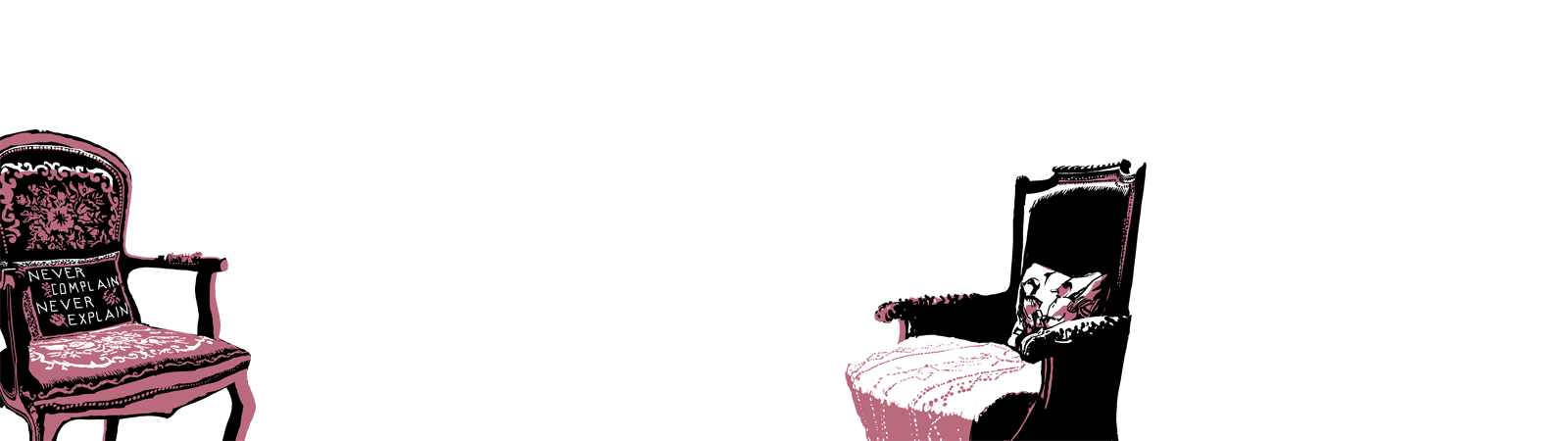
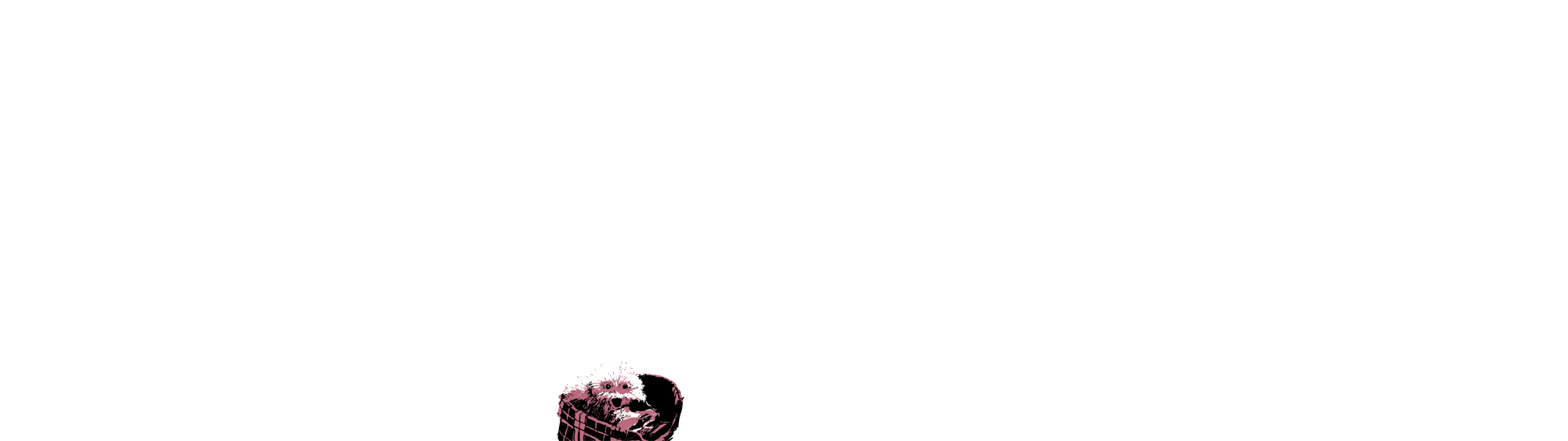
E o inimigo passa de comboio. O inimigo vai ser tratado num bom hospital ali perto. Parece-lhes inaceitável, os soldados alemães chegarem para passar o Natal num bom hospital francês, longe das batalhas glaciares do leste, confortáveis, com o que se aquecer, o que comer e o que beber. Os oficiais alemães talvez lhes dêem champanhe para brindar na consoada, quem sabe terão até bombons de chocolate. Quando se recompuserem, para iniciar o ano de 42, procurarão uma mulher.
E o comboio passa mas os soldados ficam. A imagem que fica é mais fiel do que uma fotografia: braços e pernas embrulhados; orelhas negras queimadas do gelo; as cabeças feridas; os rostos sem identidade.
As raparigas, com a estranha sensação de que há qualquer coisa de errado nestas férias de Natal, porque qualquer festa foi temporariamente suspensa, abrem o círculo, descalçam os patins e cada uma se afasta para casa, sentindo-se mais pequena e só.
Daí a pouco tempo, voltaria a cair neve, e uma nova camada branca e limpa substituiria o ringue improvisado.
II
Quando chegou a casa, a guerra não tinha acabado. Tinha sempre a esperança de que um dia chegasse a casa e o pai, que se teria enfiado no forno da padeira para ouvir a rádio livre como normalmente fazia, anunciasse o fim de tudo aquilo.
Pouco depois, caiu a noite total. Não era só uma noite sem luz, mas uma noite sem passos, sem vozes, parecia até que os cães estavam informados do recolher obrigatório, ou talvez já não sobrassem cães.
Os pais não lhe deram qualquer castigo nem sequer um ralhete quando lhes contou: “...e os soldados alemães passam de comboio...” Deram-lhe uma reprimenda sem energia, balbuciando questões de consciência e também de compaixão. De qualquer maneira, ela tinha apenas desejo de confissão.
Como soldados, as noites não se diferenciavam umas das outras. Nem sequer, passado poucos dias, a noite de Natal, que caiu à mesma hora, com essa sensação de um buraco sugando toda a possibilidade de luz. Poderia o mundo desaparecer que, se não fizesse estrondo, ninguém daria por nada, nem o lamentaria.
Os dois toros de lenha que tinham sido oferecidos ao pai na fábrica, o único presente do Natal de 1941, queimaram depressa. Não comeram doces porque não havia açúcar. Não comeram carne porque não havia rações suficientes. Não beberam vinho porque a mãe sempre trocava as senhas do vinho por mais batatas ou mais cenouras. Não tinham outra família nem grandes amigos com quem celebrar porque estavam ali de passagem, eram estrangeiros, refugiados.
Para uma adolescente, o aborrecimento era tão difícil de suportar quanto a fome e o frio. A avó, que tinha deixado a Rússia no tempo da revolução bolchevique para se instalar na Bélgica quase três décadas atrás, mantinha melhor do que todos uma certa disposição para o entretenimento e a alegria. Achava que tudo, mesmo a História, passa.
Era com a avó que ela dormia, porque a casa alugada só tinha dois quartos. Cada uma levava o seu tijolo aquecido na salamandra para pôr ao fundo da cama junto dos pés. Depois, o Tristan, o gato tigre que o pai tinha recolhido na fábrica, vinha aninhar-se nas pernas delas.
Na noite de Natal estava tanto frio que se deitou cedo para se poder aquecer. Nesse Natal não se contaram histórias. Não podendo ler, deixou-se de qualquer maneira perder numa das aventuras de Alexandre Dumas que já conhecia. Nos livros normalmente havia uma resolução, e os motivos e as reacções das personagens ficavam explicados.
A avó adormeceu ou fingiu ter adormecido tranquila. Ela ficou ainda muito tempo acordada, a ver passar o comboio que trazia os soldados alemães feridos.
III
No caderno de poesia, já numa das últimas entradas feitas em Nevers, numa letra irrepreensível alguém copiou da oração de São Francisco de Assis:
“Onde houver ódio, que eu leve o amor
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão
Onde houver discórdia, que eu leve a união”
Voltou a lê-lo cinco anos depois, dois anos depois da guerra acabar, em 1947. O caderno tinha sido guardado, junto com outros pertences dos pais e da avó, pelo guarda da fábrica como agradecimento à mãe, que tinha conseguido, num dos piores períodos da ocupação nazi, que um médico alemão salvasse a filha do francês de uma meningite. O automóvel, embora sem rodas, ainda lá estava. Não foram rever o apartamento de rés-do-chão, onde o pai tão perigosamente tinha falsificado passaportes junto da janela dando para a rua onde passavam constantemente soldados alemães.
Do colégio das Irmãs de Saint Sulpice tinha ficado com a recordação quase física do chão frio onde se ajoelhava a rezar antes de começar as aulas às oito da manhã.
Em 47, algumas das amigas do colégio, com quem tinha patinado nesse inverno de temperaturas de -20º que tinham gelado o Loire, ainda lá estavam. Outras, como ela refugiadas, tinham partido; não voltaria a vê-las.
Eram, como ela, meninas católicas educadas, tão educadas que tinham cedo percebido como seria difícil manter, ao longo da vida, a consciência tranquila.
Esse caderno, onde as amigas escreviam para que não se esquecesse delas, não era um diário e não havia qualquer referência às dificuldades daquele inverno. Muito menos havia qualquer referência às férias de Natal de 1941 e aos soldados alemães que viram chegar feridos.
A entrada mais próxima desse Natal era de 21 de Dezembro, tinha a fotografia de uma delas, com um cabelo grosso caindo ondulado e perfeito até ao pescoço, dizia: “Que esta foto te lembre da tua camarada alegre e os momentos bem passados nas aulas e também com o Tristan enquanto nós enchíamos as nossas cabeças de pensamentos maravilhosos sonhando com o [detective ficcional] Arsène Lupin.”
A oração de São Francisco de Assis aparece depois, já em 42, alguns meses antes de voltar a fugir, em direcção a Lisboa:
“Onde houver desespero, que eu leve a esperança
Onde houver trevas, que eu leve a luz
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria”
Suzanne (nome falso) ainda tem esse caderno. Guarda-o com álbuns de fotografias de família onde não aparece Nevers. Essa ausência é em si uma memória. Os natais que teve depois desse foram no calor de África e, mais tarde, no clima temperado de Lisboa. Teve sempre saudades dos Natais na Bélgica anteriores à Segunda Guerra Mundial. Com os anos, as descrições da guerra, os testemunhos, os muitos livros que se escreveram, criou uma imagem mais complexa daquele tempo, mas sem nunca modificar aquilo que tinha entendido em primeira mão da fragilidade da civilização. Chegando a época do Natal, volta a ver esse fragmento, do episódio da patinagem no gelo, e ainda a perturba.

