Na mesa de jantar da família Quelhas, há pratos de várias origens: bebinca (uma sobremesa goesa), doce de mandioca e coco e matapa (pratos típicos de Moçambique), chamuças (especialidade indiana). Há também mandioca frita, beringela, mangas e papaias.
Celisa Quelhas (n. 1953) é auditora e nasceu em Goa; o marido, António (n. 1947), é engenheiro e português; os filhos são moçambicanos e a nora Tasia também.
Na sala de estar há vários aperitivos, uma taça com desenhos do pintor moçambicano Malangatana destaca-se pelas suas cores vivas. “Fazemos uma grande mistura de pratos goeses, portugueses, moçambicanos”, explica Celisa, apontando para a mesa.
Normalmente, a reunião familiar dá-se em sua casa, ao domingo. Porém, hoje, uma noite de Maio, o encontro é em casa do filho, Nuno (n. 1978) gestor de uma empresa de investimento e pai de uma criança de meses.
É uma moradia que fica no Bairro do Triunfo, na Costa do Sol, um pouco a seguir ao famoso Mercado do Peixe, onde moçambicanos e estrangeiros comem peixe e marisco fresco. Situada na zona Sul, é considerada uma das zonas abastadas da cidade. É frequente ver seguranças à porta das casas que se seguem umas às outras em linha recta, a de Nuno Quelhas não é excepção.
Celisa e os irmãos nasceram em Goa, de onde saíram em 1962, depois de o território ser anexado pela Índia. Os pais eram enfermeiros, foram para Portugal e depois para Moçambique. A seguir à independência, a 25 de Junho de 1975, as famílias de Celisa e de António regressaram a Portugal mas os dois acabariam por ficar e casar um par de anos depois de se conhecerem, em 1973.
“A família do meu pai já é constituída por uma diversidade cultural grande, tem ascendência judaica e outras”, descreve Nuno a olhar para o pai. “Em Moçambique, encontra-se muita gente com esta influência multirracial, vem do tempo antes de Portugal chegar a Moçambique. A componente árabe já tinha prevalecido.”
Em 1973, a população branca de Moçambique era de 190 mil (2,3% da população), segundo um gráfico reproduzido pela investigadora Cláudia Castelo em Passagens para África — o Censo de 1970 indicava um total de 8 milhões de habitantes em Moçambique. Actualmente, 99% da população moçambicana é negra, diz o Censo de 2007, 0,4% de raça mista e 0,6% de outras raças.
Celisa e António nunca sofreram pressão social por serem um casal de diferentes origens, porque em Moçambique “havia muitas famílias mistas” — brancos com negros, brancos de diversas origens com africanos, asiáticos. “Nunca senti racismo e posso até dizer que nunca ouvi falar de raça na minha família. Em minha casa entravam pessoas de todas as classes”, sublinha Celisa. Lembra-se também de, em 1963, olhar para a placa do gabinete onde o pai trabalhava, ver escrito “consulta externa indígena” e perceber “que naquela consulta só havia pessoas negras”.
António Quelhas também nunca sentiu que houvesse diferenciação racial. Pertenceu à tropa local, onde havia “uma mescla de gente africana, goeses, negros, hindus, muçulmanos” e “um chefe que era eu, tinha formação superior”. “Nos empregos, havia alguma discriminação mas eram regras impostas pelo Governo; até certa altura, dizia-se que os brancos que estavam cá eram brancos de segunda.”
Da geração mais velha à mais nova, em casa da família Quelhas, a percepção é que no país há e houve uma harmonia racial. Nuno estudou na África do Sul, Suazilândia, Inglaterra e não hesita em afirmar que “Moçambique é o país mais multirracial” que conhece. “Já vivi em Londres, e existem leis que criam integração racial. Em Moçambique as pessoas convivem sem ter de haver nenhuma regra. Um partido como a Frelimo [Frente de Libertação de Moçambique], que assumiu o poder depois de 1975, não teria conseguido um governo multirracial se isso não fosse intrínseco. Os países lusófonos são dos que mais miscelânea têm e Moçambique é onde acontece de maneira orgânica”, defende.
Tocam à campainha os amigos de Nuno e Tasia, moçambicanos negros. Vêm jantar, é sexta-feira.
A desconfiança sobre os portugueses
O teatro está fechado mas o director do grupo Gungu, Gilberto Mendes (n. 1966), faz a visita guiada. Ele é uma estrela em Maputo, param-no na rua para o cumprimentar. No edifício, que tem o seu nome, bem no centro da cidade, acontecem também gravações de programas de televisão. Dramaturgo e encenador, autor de mais de 60 espectáculos, teve uma peça, O Julgamento, censurada por retratar um processo de corrupção moçambicano. Já por várias vezes abordou a questão racial nos seus espectáculos.
Uma das peças do Gungu faz a caricatura de uma mulher portuguesa, branca, que consegue, sem ter qualificação profissional para isso, ser contratada para trabalhar num hotel e obter mais uma tão almejada estrela para o estabelecimento. “A melhor maneira de passar exemplos é fazendo exemplos rácicos, não no sentido pejorativo mas de analogia”, explica Gilberto Mendes.
Uma das ideias de abordar a questão racial até surgiu por causa de um amigo português que decidiu viajar de Lisboa a Maputo de carro. A travessia demorou dois anos e quando ele chegou Gilberto Mendes gozou: “Isso é brincadeira de branco. Se fosse um preto a fazer uma viagem dessas, já tinha morrido há muito tempo.” Fez então um espectáculo que pegava “em coisas que, entre aspas, podem ser feitas por uns e não podem ser feitas por outros, que a gente olha e acha que pertencem a uma determinada raça”, explica.
E os espectáculos têm sucesso porque ainda há no inconsciente colectivo moçambicano um preconceito que se traduz em pequenos exemplos como o facto de, “se um negro abrir um restaurante, não ter tanto sucesso quanto se for um branco”, observa. “Se as pessoas não têm a formação para perceber estes clichés, acabam induzidas em erro e a respeitar uns e a não respeitar outros.”
Em 2013, segundo o Observatório da Emigração, havia pouco mais de 24 mil portugueses em Moçambique. É vulgar nas ruas de Maputo ver portugueses, e a imagem que permanece é que a maioria ocupa cargos de chefia.
No parque onde encontramos Calton Cadeado, que fica numa das zonas altas e nobres da cidade, vêem-se meninos com as suas amas, fardadas, a marcar de forma evidente a divisão de classes — algumas das fardas fazem lembrar o imaginário colonial e é, aliás, comum venderem-se nas ruas de Maputo no mercado paralelo. Calton Cadeado é chefe do departamento de Paz e Segurança do Instituto Superior de Relações Internacionais.
Nascido na Beira, tem centrado a sua investigação na população e dá-nos a leitura de alguns discursos sobre a questão racial, como a percepção de que há uma discriminação que privilegia os brancos, que vieram em maior número nos últimos anos por causa das riquezas naturais do país: “Ainda é muito cedo para dizer que os brancos vieram para controlar. Na teoria da conspiração, ninguém tira isso da cabeça dos moçambicanos”, considera. Mas não nota tensão racial em Moçambique — e se existir será nos espaços urbanos como Maputo, até porque as elites negras e brancas se misturam nos mesmos lugares, nos mesmos restaurantes, nos mesmos círculos intelectuais, defende.
Para ele, no discurso sobre as identidades, primeiro aparece a questão da etnia, depois da região e só em último a raça.
Em relação aos portugueses, poderá haver uma desconfiança e o fantasma de que voltaram para recuperar a propriedade perdida, diz — para mais, a ideia de que os portugueses foram obrigados a abandonar o país em 24h e a levar apenas 20 quilos com eles criou o sentimento de perda, sublinha. Calton Cadeado não acha que essa desconfiança seja significativa. Se eram vistos como os maus da fita, os portugueses seriam, mais tarde, “protegidos” pelo discurso insistente de Samora Machel (1933-1986) de que a luta tinha sido contra o sistema — Samora seria, aliás, criticado por ter demasiados brancos no seu governo, lembra.
A relação hoje entre portugueses e moçambicanos não é de igual para igual, há muitos que chegam a ganhar mais do que os nacionais, sobretudo nas empresas multinacionais, diz. “A explicação que arranjo para a diferenciação salarial é que quem financia dita as regras. A outra ideia é que há uma drenagem do capital, que vem e volta para o local de origem” — mas esta última ainda é só uma hipótese de investigação que está a aprofundar.
A redacção do semanário Savana fica no bairro da Polana. É uma moradia onde à porta estão vendedores que improvisam uma pequena livraria com livros que se espalham no passeio em cimento. Bem perto, uma “instalação” com ténis de marcas internacionais, novos, faz a curva — as cores vivas de sapatilhas sem par, à espera que as comprem, tornam a imagem original. Fernando Lima, director, está sentado à sua secretária, onde imensos jornais se empilham. É filho de portugueses. “Já houve movimentos que tentaram estabelecer a definição de nacionalidade moçambicana numa base racial. O facto de a própria lei da nacionalidade estar incorporada na Constituição é um excesso, mas reflecte o quão sensível é a questão da raça em Moçambique”, contextualiza. “Moçambique é independente, com um background racial completamente distorcido. Portugal gostava de se apresentar como um país não racista, ora isso não é verdade: havia racismo, havia discriminação racial. Aliás, a grande maioria da população negra não tinha documentos de identificação como portugueses — só os assimilados e eram uma minoria. Isto significa discriminação na escola e profissional.”
Por isso um movimento de libertação teve de lidar com este passado de opressão e humilhação baseado na raça, mas ao mesmo tempo não alienar as diferentes comunidades — havia diferentes grupos de origem asiática, com diferentes backgrounds religiosos, muçulmanos e hindus. As minorias não negras tinham um melhor nível de vida, maior ascendência económica e maior poder para se defenderem em termos de oportunidade de emprego, lembra.
Não cresceu num ambiente privilegiado, apesar de ser branco. “A minha origem era humilde, sob o manto colonial que dava mais privilégios à minha família, mas isso não afasta o facto de eu ser filho de um operário portuário. Ao contrário da esmagadora maioria da população branca de Moçambique, estava do outro lado da barricada: fui líder estudantil desde a escola secundária e na altura da independência não pertencia à esmagadora maioria das pessoas que tinham de fazer as suas opções de ficar ou ir porque já tinha feito a opção muito antes.” Toda a família e amigos se foram embora.
Do lado paterno, muita gente ia para Moçambique trabalhar em colonatos, ele próprio teve família a chegar que não sabia ler nem escrever “e muitos nem sapatos usavam”. Lembra: “Ora eu andava na escola, fui à universidade e sou filho de pessoas que têm a 4.ª classe. Olhávamos para a sociedade portuguesa com uma certa sobranceria”, recorda. Por outro lado, Moçambique estava colado a África do Sul, país já desenvolvido. “Aliás, bebíamos Coca-Cola, que nem existia em Portugal. Chamavam-nos os ‘Coca-Cola’.”
Fernando Lima foi o primeiro da sua família a ser moçambicano. Ser branco e moçambicano gera, “às vezes”, surpresa. “Não foi sempre assim. Durante os primeiros anos da independência, nunca senti questionarem a minha cor de pele.” Hoje é habitual a polícia e as repartições públicas pedirem-lhe o passaporte em vez do BI. “Isto significa que o meu interlocutor está a assumir que eu não sou moçambicano.”
A nova vaga de emigração portuguesa, que não tem relação nenhuma com o colonialismo ou com Moçambique, divide-se em grupos diferentes, analisa: os que se integram pacificamente e os que criam alguns problemas, pessoas que pertencem a camadas mais baixas da população migrante e que muitas vezes vêm para trabalhar na construção civil. Neste aspecto, “a tolerância em relação a portugueses é zero”. Exemplo: a expulsão do treinador português Diamantino Miranda em 2013, depois de ter dito que todos os moçambicanos são “ladrões”. E há ainda o grupo dos que viviam na África do Sul e se mudaram para Moçambique depois do fim do apartheid nos anos 1990, trazendo consigo “alguns tiques colonialistas” que ainda mantêm.
De resto, Fernando Lima diz que em geral as relações são pacíficas e muitos usam as camisolas dos clubes portugueses, torcem por clubes portugueses, enchem os restaurantes e cafés durante os jogos. “Somos muito melhores do que a generalidade dos países africanos” em termos de relações raciais. “Vem aqui um sul-africano e zimbabweano e fica de boca aberta porque nas nossas festas há pessoas de todas as raças.”
É-lhe, porém, difícil aceitar a brandura do colonialismo português. Quando começou a ir à escola, tinha noção plena de que vivia num país de maioria negra, mas na escola não só os negros eram minoria, como ficavam sentados nas últimas carteiras.
Os pais eram conservadores e as conversas acabavam muitas vezes com Fernando Lima a abandonar a mesa e os convívios familiares: via muitas vezes ridicularizado o facto de defender a não discriminação. Havia discriminação na sua família, “de forma completamente aberta”, lembra. “É preciso ver que se um empregado partia dois copos, a senhora levava-o à administração e o empregado ia apanhar umas seis palmadas para que não partisse da próxima vez. Não estou a dizer isto de ter ouvido falar, assisti a estas situações, estive na administração e vi. Se contar isto a uma criança hoje, acha que é ficção.”
Anti-racismo de Samora Machel
A seguir à independência, houve um discurso fortemente anti-racista, veiculado pela ideia de que se devia matar a tribo para fazer a nação nascer, recorda Tomás Vieira Mário (n.1959), jornalista e docente na Universidade Politécnica, além de presidente do Conselho de Regulação.
Tomás Vieira Mário escolheu a fortaleza de Maputo para a conversa, lugar com simbolismo colonial pelo que representa de poder militar. A fortaleza é hoje visitável mas há pouca gente, sobretudo se comparada com a zona envolvente da baixa da cidade onde os comerciantes se espalham pelas ruas, muitas vezes a vender as mesmas coisas do que as lojas em frente: pentes, escovas de dentes e outros produtos de higiene, livros, sapatos, pilhas, roupa, telemóveis, cartões de carregamento de chamadas, tudo e mais alguma coisa. Entre os muros grossos e laranja tijolo, Tomás Vieira diz, na sua voz delicada e tranquila, que Samora Machel tinha, deliberadamente, criado um governo com este cariz de anti-racismo. “Samora Machel dizia: nós somos anti-racistas. Isso associava-se um pouco ao facto de estarmos rodeados de dois países racistas, a Rodésia e a África do Sul.”
Tanto foi assim que, ao mesmo tempo, “havia a sensação de ‘parece que não valeu a pena a independência porque o governo tinha muitas pessoas de raça branca e de origem asiática’”.
No tempo de Samora Machel era “quase crime” usar qualquer tipo de expressão conotada com racismo. “Não quer dizer que não houvesse um vulcão à espera da oportunidade para a sua erupção — quando ele morreu apareceu”.
O jornalista sublinha que depois do colonialismo “há sempre uma espécie de ressaca que vem ao de cima” e ele próprio se lembra de muitas canções a falar do “branco que nos oprimiu”. A Frelimo, porém, “proibiu-as”.
Hoje essa ressaca sente-se muito muito menos, até porque as pessoas que viveram o colonialismo tendem a ser uma minoria porque Moçambique é um país jovem. Quer dizer, “as oportunidades de hoje têm muito pouco a ver com o colonialismo português”, considera.
Não que as histórias de discriminação do período colonial estejam esquecidas, pelo menos para si. Tomás Vieira lembra-se do caso de um tio que tinha feito umas poupanças e as guardou nos Correios numa vila de Inhambane. O tio decidira abrir um negócio e pediu autorização ao administrador do distrito, mas recebeu uma resposta negativa porque não era comum os negros estarem à frente do comércio. Queriam-no forçar a aderir à PIDE como contrapartida para abrir a loja, mas ele recusou-se. Então ouviu “preto de merda” e o dinheiro foi-lhe tirado dos Correios: ficou sem poupança e sem loja.
Da sua biografia, Tomás Vieira Mário conta que chegou a ser um dos três únicos alunos negros da escola secundária em Maxixe, isto porque era caro estudar mas o pai, camponês, podia pagar. “Havia um racismo no acesso aos recursos e na capacidade de superar a vida e desenvolver-se”. Algo que não era oficial como na África do Sul e na Rodésia. “O meu tio tinha uma frase: os que limpavam Lourenço Marques [hoje Maputo] nunca viam quem sujava e vice-versa. Ou seja, havia uma parte que vinha de madrugada e saía antes que os moradores acordassem”.
O primeiro negro que entrou num liceu foi Joaquim Chissano, em 1957, afirma Tomás Vieira. Não foi nem há 60 anos, e isso é muito recente. Qual era a chance de, em Moçambique, naquela altura, os negros ultrapassarem a barreira da ignorância?
Pior do que o apartheid sul-africano
Aos 76 anos, Joaquim Chissano mantém um espírito crítico. O homem que sucedeu a Samora Machel em 1986, depois da sua morte, e que ganharia o título de “arquitecto da paz”, foi o vencedor das primeiras eleições multipartidárias em 1994. A seguir à independência, Moçambique adoptou um sistema marxista-leninista liderado pela Frelimo, aliado soviético e nascido do grupo que tinha combatido o colonialismo português. Instalou-se uma guerra civil de 16 anos com a Renamo (Resistência Nacional Moçambicana) que provocou a morte de um milhão de pessoas e outros milhões de deslocados. Chissano ficou dois mandatos e saiu pelo seu pé em 2004. Hoje preside a uma fundação e dedica-se à agricultura.
Em 2010, publicou o livro Vidas, Lugares e Tempos, onde afirma que o racismo em Moçambique, nos anos 1940 e 1950, era “pior que o apartheid na África do Sul”, pois apesar de a lei dizer que não havia segregação, “tudo estava bem separado”. E descreve: “Bairros de caniço para preto, bairros indígenas chamados mesmo assim desta maneira, ‘Bairro Indígena’, caderneta indígena diferente do Bilhete de Identidade de branco, escola primária para preto, acesso ao ensino secundário dificultado para o preto e ingresso quase impossível ao liceu até 1951.”
O retrato é tudo menos brando. E o retrato vivo que Chissano nos traçará também. Recebe-nos no escritório em Sommerchield, um dos bairros mais chiques de Maputo — um escritório que é uma estrutura com várias salas, jardim bem tratado e piscina. Os espaços públicos aqui estão bem cuidados, contrastando com a terra e pedras na estrada de algumas zonas da cidade. Chissano fala com muita ponderação. “Apartheid significa desenvolvimento separado, e em Moçambique não havia pura e simplesmente desenvolvimento para os outros. Quando começámos a nossa luta de libertação, tínhamos duas pessoas formadas com título de doutor, o dr. [Eduardo] Mondlane e o dr. [Domingos] Arouca.” Além disso, havia as casas de banho para “europeus” e para “não europeus”. “Nessa coisa de provocação, às vezes íamos à casa de banho de europeus”, lembra, em tom de riso.
Chissano viveu várias situações de discriminação. Na altura em que Maputo era Lourenço Marques, sentou-se no lugar vago de um autocarro; um jovem branco entrou e o cobrador de bilhetes mandou-o levantar para lhe dar lugar — “e isso acontecia com pessoas idosas, tinham de dar lugar aos brancos”. Havia um cinema para brancos, onde passavam filmes bons, e um cinema para negros, onde passavam filmes menores, lembra. Havia o sistema de assimilação e portanto o assimilado podia ir ao cinema para brancos, mas tinha de exibir o documento de assimilação. “Isso era algo de humilhante, ter de mostrar que já assimilou os valores dos brancos.” Num restaurante, uma vez perguntaram-lhe: “Importa-se de se sentar lá atrás?”
Chissano lembra-se de conviver com angolanos de Luanda, nos anos 1960, “que estranhavam o que se passava em Maputo” porque não havia um apartheid tão forte na sua cidade. A desculpa que havia no tempo colonial para o racismo era que acontecia “uma discriminação involuntária feita na base das diferenças de rendimento económico”, nota. Mas “essa justificação não cola. Agora que ficámos independentes, alcançámos esses níveis. Portanto, é porque não havia incentivos para essas pessoas de singrar na vida. Era a mesma gente!”
Hoje não há um problema racial em Moçambique, diz. A discriminação foi-se esbatendo — os grupos raciais convivem de acordo com as semelhanças, só que isso não se trata de racismo mas de cumplicidades, nota. Desenvolveu-se uma política deliberada pelo não racismo, não etnicismo, não tribalismo. Porque a experiência do passado foi marcante. “Eu e todos os que participámos na luta libertámo-nos disso faz tempo.”
Abandonamos a sala espaçosa, que dá para o jardim, mais de uma hora depois de conversa. Joaquim Chissano tem um carro à sua espera. “Continua a existir racismo por causa das sequelas. ‘Nós, os negros’, ou ‘nós, os brancos,’ tem de acabar. Mas uma vez identificado isto, deve-se criar a vontade política de acabar com o racismo”, conclui.
Noutro lugar da cidade, num dos campus da Universidade Eduardo Mondlane, Inês Raimundo (n. 1962), geógrafa doutorada em Migrações e directora adjunta para pós-graduação da Faculdade de Letras e Ciências Sociais, fala-nos daquilo que considera ser a permanência de um apartheid em Moçambique, em que as raças vivem separadas e pouco se misturam, mesmo agora. “O que cria essas diferenciações é o poder económico, mas quem tem fraco poder económico continuam a ser os negros”, sublinha. Moçambicanos de origem branca e indiana são os que detêm o poder; têm acesso a empregos com salários mais altos. “O negro fica lá, no subúrbio.”
Em Maputo, essa divisão pode ser vista a olho nu, defende. “As questões raciais acabam por se misturar com as questões económicas.” Por isso já sentiu discriminação no atendimento em lojas de roupa, por exemplo. “Porque acontece num país africano é a parte mais dura. Fomos mentalizados que somos de uma raça inferior. Vai levar muito tempo.”
“Língua de cão” e “língua de gente”
Oficialmente, em Moçambique, não há racismo nem discriminação — até porque é algo que não se pode oficializar, lembra o poeta e jornalista Eduardo Quive (n. 1991). Mas a verdade é que ainda existe um legado de políticas coloniais que afecta áreas como a língua, algo que foi usado também como forma de distinguir entre quem pertencia e não pertencia ao sistema.
Num país com mais de 20 etnias, e com mais de 20 línguas, apenas 50% da população fala português (no meio rural, essa percentagem desce drasticamente e como língua prioritária falada em casa é pouco superior aos 12%).
Eduardo Quive está numa sessão de poesia no Centro Cultural Alemão. Jornalista numa televisão e colaborador de uma revista na área da literatura, diz: “Quanto mais distante estivermos de Maputo, mais vamos perceber que a língua portuguesa não é a mais falada. A cor transportou-se para a língua. Venho de uma família em que quando falava xichangana diziam: ‘Não fala língua de cão, a língua de gente é a língua portuguesa.’ Eu vivi isso e tenho 24 anos: imaginemos os que têm 30, 35 anos!” A própria literatura é escrita em português, não nas línguas locais.
Ouvimos alguns jovens na sessão de poesia a recitar em português. A sala está cheia, imensa gente fica de pé. Lá dentro está um dos grandes nomes da literatura moçambicana, Ungulani Ba Ka Khosa (n. 1957), secretário-geral da Associação de Escritores Moçambicanos. Nasceu e cresceu em Quelimane, uma “das zonas mais crioulas”, com grande influência do vale da Zambézia, onde há forte presença portuguesa desde o século XVI. Também ele lamenta o facto de as línguas nacionais terem sido subestimadas, porque “não tiveram a cidadania plena”. “Hoje massificamos o ensino, mas não pensamos que o acesso da criança ao português na aldeia recôndita é difícil. Isso porque herdámos o olhar quase luso-tropicalista de Portugal: somos mistos. E isso não vingou.”
Filho de dois enfermeiros, assimilados, pertencente à pequena elite negra, Ba Ka Khosa diz que na sua geração, “com a intensificação da luta armada”, houve uma espécie de corrida do colonialismo para a criação de uma classe média negra com o objectivo de travar as lutas pela independência — e as escolas secundárias começaram a crescer.
“A relação preto-branco sempre foi de olhar o branco de forma superior”, diz na sede da associação, em plena Avenida 24 de Julho. “Até porque o branco que chegou aqui foi da elite, não tivemos como em Angola o branco pobre. Nunca foi uma relação de igual para igual.” Mas as relações foram-se alterando e “hoje não podemos falar de uma questão racial”. Do que “podemos falar é de alguns conflitos que acontecem nas elites”.
O autor de obras como Entre as Memórias Silenciadas (2013) ou Ualalapi (1987) afirma que ainda não houve um tempo histórico de grande convívio inter-racial no pós-independência e que esta relação foi ideologicamente fechada porque “não se podem abordar questões de ordem racial e étnica”, pois isso significa levantar, ao mesmo tempo, questões de tribalismo e de racismo. Ou seja, ainda hoje “há uma camada de preconceito que se mantém”.
Mesmo que existam manifestações individuais, o racismo não é um problema social em Moçambique hoje: “Pode existir como complexo, mas não sinto que seja um grande problema.” Esse “complexo de inferioridade é a grande herança do colonialismo que resta e que o moçambicano tem de se libertar”, sintetiza. “É a incapacidade de nos afirmarmos e de olharmos o que é nosso de maneira positiva. Também podemos dizer que fomos colonizados por um país periférico — e isso dá uma mentalidade periférica.”
De qualquer forma, lamenta que em Portugal o desconhecimento sobre a cultura moçambicana, mesmo na elite, seja “total”. Os moçambicanos, por outro lado, sabem muito sobre Portugal. “As relações de cooperação nascem, crescem e morrem na esfera económica. Na dimensão cultural, no sentido de conhecimento mútuo, não há uma política definida”, critica.
Relações improváveis
Ickx Kwizera é fruto de uma “relação improvável” no seu país. O pai era ruandês, tutsi, que em 1976 foi para Moçambique trabalhar com os movimentos de libertação africana. Foi convidado pela Frelimo para ajudar no processo pós-colonial. A mãe é de origem goesa, emigrou com os pais para Moçambique quando era nova e o facto de ter casado com um negro “foi uma coisa altamente improvável para a família e para a sociedade” na altura, explica o filho.
Ickx usa muitas vezes palavras e expressões em inglês, cresceu num ambiente internacional. “Não tenho as feições do mulato. Pareço mais somali, etíope. Às vezes existe aquele olhar, mas eu não ligo. As pessoas não pensam que tenho um pai negro. Então é engraçado a perspectiva de como lidam contigo em relação a raças.”
Ouviu muitas vezes palavras de espanto por a mãe se ter casado com um negro. Ouviu também chamarem-lhe “monhé” quando era miúdo. Hoje é comum ouvir na rua que quem é indiano tem mais dinheiro, porque há vários moçambicanos de origem indiana nos negócios — e houve até uma onda de raptos recente que atingiu estas comunidades.
A sala de jantar e de estar da casa de Ickx está cheia de fotografias. É um apartamento no centro de Maputo, numa das avenidas mais movimentadas e cobiçadas pelos grandes negócios. A empregada traz para a mesa o almoço. Ele vai mostrando as fotos antigas, passando os álbuns, apontando para as molduras. Numa delas aparece com a irmã na Avenida Julius Nyerere, a zona que tem as casas mais luxuosas, hotéis, embaixadas e onde fica o famoso Hotel Polana. “Os meus pais sempre me levavam ao Polana ao fim do dia quando iam beber o seu drink. Aqui estou eu a aprender a nadar.”
Aos 28 anos, este relações públicas tem imensas actividades, além de organizar eventos como festivais, fazer traduções ou aluguer de casas turísticas. A sua empresa chama-se Yes — Young Entrepeneurial Solutions. Ele circula entre a classe média-alta. Há uns anos, essa mesma classe média-alta estava mais interessada em usar marcas internacionais, nota. Hoje, depois de alguns desfiles de moda e até algumas lojas internacionais comercializarem roupa com tecidos africanos, o imaginário afro passou a estar na moda, disso ele não tem dúvidas.
Num festival de música que organizou em Maio, estava a designer criativa e activista cultural Witnei Alda Chamusso. Ela tenta, com o seu trabalho na empresa Wumburi, “promover e empoderar a cultura moçambicana através da arte”, através do design de roupa, através da poesia e da literatura.
São estes temas que explora, um pouco para divulgar e espalhar a informação sobre a cultura moçambicana, que “corre o risco de se perder”. Ela é uma jovem que usa tecidos de capulanas para desenhar saias com cortes modernos ou para os enrolar na cabeça como turbantes, de forma tradicional. Já foi entrevistada pela CNN por causa do projecto Wumburi. “Vejo que os mais velhos ficam muito felizes (com a recuperação que faço da cultura tradicional), porque isto foi algo que se perdeu muito. Do lado dos jovens, também houve uma recepção positiva, mas há outros que dizem: ‘Estamos a tentar seguir a globalização e queres levar-nos de volta para aquilo que a gente passava há muito tempo’.”
No fundo há uma geração que, mesmo sendo jovem, continua com determinados preconceitos sobre a cultura africana e o que ela representa, atribuem-lhe conotação negativa. Witnei viveu em Tóquio, viveu na África do Sul e foi quando se afastou de Moçambique que descobriu “que não sabia muito” da sua cultura.
A Wumburi é também fundada pela amiga Eliana Nzualo (n.1991), escritora que trabalha numa empresa de comunicação. “Em geral temos muitas referências ocidentais naquilo que é a arte, o belo”, comenta Eliana Nzualo na FEIMA, a Feira de Artesanato de Maputo — é um parque onde vários feirantes têm produtos tipicamente moçambicanos à venda, de capulanas a cestos ou chapéus e sacos de verga; há quem os pendure nas árvores, criando uma imagem onírica com os padrões africanos dos tecidos estampados nas malas de palha suspensas. De cabelo muito curto e pintado de loiro, Eliana Nzualo faz parte de uma geração de moçambicanos que estudou fora, viajou, traz influências cosmopolitas, tem informação sobre o que era o colonialismo e consciência do que significou para as relações raciais. Moçambique é um país jovem, em que 65% dos 25 milhões de habitantes têm menos de 25 anos e 45%, menos de 15 anos. “Tento usar o turbante duas, três vezes por semana. Temos o turbante para grandes cerimónias, é raro as pessoas usarem-no a uma segunda-feira. Queremos tornar isso algo normal. E aprender a usá-lo sempre.”
Quando vai ter com os clientes de turbante, eles adoram, conta. É certo que a área de marketing e publicidade é mais aberta, mas Eliana nota que aos poucos há um renascimento do que é africano. Vai também crescendo o “afropolitan”, ou seja, o cruzamento entre o afro e o cosmopolita ocidental que se nota fortemente em algumas zonas de Maputo.
Ambas consideram que existem tensões raciais em Moçambique. Witnei lembra um episódio num chapa (carrinha de transporte público onde raramente os brancos entram) em que um negro estava sentado, entrou um branco e pediram ao negro para ele se levantar. A discriminação nota-se em várias coisas: “Vais a um restaurante e põem o preto à espera, porque o preto não tem a cultura de reclamar. Isso vem do tempo do colonialismo, em que a gente tinha de aceitar o pouco que nos era dado: se reclamasse, estava a reclamar de algo que muitos outros não tinham.”
Para Eliana, existe “alguma tensão” racial, que “não é gritante, mas há muitas microagressões na forma como lidamos com raça”. Explica: “Há uma sobreposição ao nível das classes. Há uma classe dominante que fica com certo poder. É muito raro ver uma pessoa branca que trabalha para uma pessoa negra. Então cria-se a ideia de que o branco é rico, tem dinheiro, come de garfo e faca.” As microagressões passam por coisas como o facto de amigos de Eliana se espantarem por ela ter uma cozinheira mestiça (“quanto mais claro, maior o poder”).
Ela que trabalha com arte já viu muita gente fazer preços diferentes para brancos e negros, partindo do princípio que “os negros não sabem o que é arte” e o branco “tem dinheiro”. Situações idênticas têm dado origem a críticas de racismo de brancos para negros, um conceito com o qual, de resto, Eliana discorda porque “não existe racismo de uma pessoa negra para uma pessoa branca”, defende. “Racismo é algo institucionalizado. O branco continua a ter poder. A discriminação que uma pessoa negra sofre é todos os dias, em quase todas as esferas da sua vida. A discriminação que um branco pode sofrer é um episódio isolado de um único dia ou de um local específico — mas o branco continua a ser a norma, continua a ser a referência a nível de beleza, de estilo de vida porque fala uma língua ocidental, tem mais capacidade de viajar e um passaporte que o leva a mais lugares do que o meu passaporte".
Foi quando saiu de Moçambique que Eliana percebeu “que era preta”. Já tinha tido amigos na escola portuguesa cujos pais não gostavam que as filhas namorassem com negros ou colegas que faziam comentários racistas. Mas só mais tarde, quando cresceu, é que tomou consciência de que tinha sido racismo o pai de uma amiga ter dito “que os pretos só eram giros quando nasciam”.
Depois começou a trabalhar e deu-se conta de que posições de liderança eram reservadas a pessoas brancas. Experienciou mais episódios de “microagressões”, conta. “No meu antigo local de trabalho, pedi demissão sabendo que queria agarrar outra oportunidade. E o chefe disse: ‘Sabes que é muito difícil para nós encontrar quadros moçambicanos de qualidade como tu.’ Para ele, aquilo era um elogio. Mas eu senti-me ofendida porque na cabeça dele não existem moçambicanos com capacidade.” E nota as diferenciações em outras áreas, como a literatura. Acha, por exemplo, que Paulina Chiziane, “uma grande escritora moçambicana que usa as histórias típicas moçambicanas, é posta de lado face a alguns escritores brancos”. Isto porque ainda “é mais fácil digerir uma história africana escrita por um branco, como Pepetela ou Mia Couto, do que uma história negra escrita por um negro”.
Trata-se de algo que reflecte “uma certa preguiça de perceber o que é o colonialismo e do que significa ser colonizado”. No fundo, “a independência não se dá de um dia para o outro” e Moçambique ainda está a viver esse processo. “São centenas de anos em que fomos treinados a pensar de certa forma.”
Diferenças geracionais
Ela é da geração que não viveu o colonialismo mas tem “as cicatrizes desse tempo”. Eliana sabe que a experiência de racismo da geração mais velha “é muito mais forte” do que a dela e também é mais “a preto e branco”. Para eles, nesse tempo, havia “um racismo visível, evidente”. Havia segregação, havia até um bairro que se chamava “indígena” (e que ainda hoje é referido assim). “Claro que percebo que para uma pessoa nos seus 50 e muitos anos o racismo já não é um problema.”
A geração de Eliana vê sinais discriminatórios que pessoas de uma outra geração encaram como menos pesados. Epifânia Langa (n. 1992), economista, não tem dúvidas de que a herança colonial é forte em Moçambique. “Podemos não ter vivido, mas os nossos pais carregam dentro deles essa realidade.”
Epifânia acredita que o racismo é sentido de maneira diferente entre os mais novos “porque as expectativas são diferentes”, sublinha. “As expectativas de tratamento da minha mãe em relação a um português vão ser relativamente menores porque ela tem ideia do que é o sofrimento, aquela discriminação forte que existia na altura de não se poder sentar numa mesa de um restaurante, de não poder entrar numa loja. Nós, da nova geração, temos expectativas muito maiores. A pessoa mais velha não vai questionar o seu salário, enquanto o jovem vai. A expectativa da geração mais nova é ganhar muito mais espaço do que tem agora.”
Até aos anos 2000, o patronato era sobretudo branco, analisa a jovem economista, e ainda hoje é sobretudo assim. “A emergência de um patronato moçambicano é recente. A imagem do patronato que carregamos no nosso inconsciente é de uma pessoa branca, e o respeito é maior quando ele é branco porque se impõe como tal. Do lado de portugueses, ainda acontece aquele pensamento de que existe uma raça que é superior — não conseguem perceber que um moçambicano pode gerir uma loja, não ser só servente. É uma luta que está a ser travada e a pouco e pouco a situação há-de melhorar. Então existe racismo. Mas está a ser cada vez mais reprimido porque a nova geração tem uma maneira de pensar diferente, entende o seu lugar, o seu papel como moçambicano.”
Transformar diferença em defeito
“Racismo é negar que o outro seja diferente e transformar a diferença em defeito: ser negro é um defeito, é ser inferior”, comenta Francisco Noa, doutorado em Literaturas Africanas de Língua Portuguesa com a tese Literatura Colonial. Representação e Legitimação — Moçambique como Invenção Literária. Com grande convicção nas suas opiniões, o também reitor continua: “É como se o negro fosse obrigado a abdicar da sua condição. É por isso que tivemos a assimilação.”
Francisco Noa acha que a questão racial tem sido um tabu em Moçambique e “quando emerge é imediatamente abafada como se fosse algo politicamente incorrecto”, nota. “O colonialismo português também foi um pouco puritano ao se considerar não racista e isso acabou por dar azo ao luso-tropicalismo.” Porém, não tem dúvidas sobre o seu carácter racista, algo que até está impresso na obra de grandes intelectuais do século XIX: “Oliveira Martins, Ramalho Ortigão, o próprio Eça de Queirós tiveram discursos racistas em relação a África e isso está documentado”, sublinha.
O discurso de Salazar era quase sempre paternalista, indo buscar as teorias do luso-tropicalismo “para branquear e adocicar o racismo”. O exemplo que essas teorias vão buscar é do mestiço, mas como nota Francisco Noa “muitas dessas relações não eram normais, eram relações absolutamente espúrias”. Ao reitor assusta que em Portugal muitas vezes o discurso resvale para o facto de o colonialismo português ser mais suave, “o que não é verdade”. “Havia um racismo institucionalizado. A questão racial ficou congelada.” E permanece mesmo que de forma subconsciente, aparecendo nos momentos de conflitos socio-económicos, políticos. No entanto, apesar de tudo, os mecanismos de regulação estão activos e impedem que se façam determinados comentários. Mas impera aquilo que Noa chama “uma atitude defensiva”. “Quando se toca na questão racial, imediatamente surgem mecanismos sublimatórios e de negação, porque é uma situação incómoda. Mas acaba por ser algo absolutamente traiçoeiro, porque foi esse o discurso que o colonialismo usou: ‘Não somos racistas, temos um bom colonialismo.’ E nós herdámos isto.”
Ou seja, apesar da grande diversidade racial, étnica, cultural, linguística que existe em Moçambique, há “uma conspiração do silêncio, como diz o [teórico do pós-colonialismo indiano] Homi Bhabha”. “As pessoas não estão habituadas a falar destas coisas sem ser de forma maniqueísta”, critica. “A situação colonial criou claramente uma vantagem para os brancos. Agora não posso dizer que a sociedade moçambicana é racista. Mas, por causa dessas situações que transitaram sem terem sido processadas, ficaram numa zona que é um limbo. E em determinados momentos de conflitos a questão racial aparece como álibi.”
Os problemas de racismo não se resolvem apenas com vontades políticas, são precisos alguns anos, lembra Teresa Cruz e Silva (n. 1951). “Na história de Moçambique, há uma relação entre raça e classe, que depois é transferida para a própria independência”, analisa a directora do Centro de Estudos Africanos da UEM. “Quando entrei para a universidade, havia falta de professores e de estudantes — contava-se pelas mãos o número de estudantes negros.”
É fim de dia e começa o horário pós-laboral. O campus é amplo, anda-se de carro lá dentro para ir de um departamento a outro. Há espaços verdes entre os edifícios baixos e muitos jovens em grupinhos. A terra vermelha lembra-nos que estamos em Moçambique. Na altura, antes de 1975, era normal Teresa Cruz e Silva não ver alunos negros na universidade: a taxa de analfabetismo em Moçambique era das mais altas do mundo (93% em 1975), só havia uma universidade e o número de estudantes universitários era reduzido. Hoje acontece o inverso, descreve a historiadora: “Não me lembro, nos últimos anos, de ter um estudante não negro, o que é um processo normal porque estamos em África.” Agora, 40 anos depois da independência, Moçambique tem cerca de 50 instituições de ensino superior, entre públicas e privadas (dados Ministério de Educação de 2013).
A democratização da educação é um dos “orgulhos” dos moçambicanos. Conseguiu-se diminuir a taxa de analfabetismo, embora ainda continue a ser das mais altas, com mais de 40%. Esta cidade são várias cidades, recorda, e dependendo do estrato social encontramos diferentes cores. “Muita gente vem a Maputo e diz: ‘Meu Deus, a Julius Nyerere está cheia de brancos!’ Não quer dizer que seja uma manifestação de racismo.” Mas vem do facto de ser o lugar onde estão as embaixadas, onde os brancos de classe mais alta tinham casas. O processo de olhar para o branco como superior foi-se apagando, acredita, e em determinadas zonas do país há quem nunca tenha visto brancos — “aí, será que a gente pode falar de racismo?”
Existem os saudosistas, existem os que ainda vivem resquícios do colonialismo, mas estas fatias são residuais. A raça não é hoje um problema em Moçambique, afirma, convictamente. “Não encontro no dia-a-dia qualquer manifestação racista.”
Portugal só tem o domínio de Moçambique a partir de finais do século XIX, lembra. É no início do século XX que há a instauração de uma administração portuguesa. O processo de miscigenação não era pacífico: não havendo apartheid declarado, havia apartheid, disso Teresa Cruz e Silva não tem dúvidas. “Encontramos muitas famílias em que os pais brancos não registaram os filhos. As teorias de Gilberto Freyre [do luso-tropicalismo] não colaram.” A própria avó de Teresa Cruz e Silva nunca viveu com o pai dela, branco.
Tendo vivido numa situação privilegiada, Teresa Cruz e Silva nunca sofreu discriminação racial, sublinha. “Sou o resultado do processo de colonização e de vivermos numa área geográfica que foi de comércio internacional, mesmo antes da chegada dos portugueses. Na minha família somos miscigenados de portugueses e católicos — basta ver o meu nome —, moçambicanos negros do Sul, indianos e árabes.”
No seu registo de nascimento vinha “raça mista”. “Como a tentativa do sistema era cooptar essas pessoas, eu tinha acesso às mesmas coisas.”
Andou em escolas privadas, entrou na universidade sem problema, embora só tivesse bacharelato. Seria depois convidada para fundar o Centro de Estudos Africanos, concretizando o sonho dos que lutaram pela independência e escreveram a sua própria História de Moçambique. “Acho que continuo a ser privilegiada neste momento. Se o hospital público não me serve, eu vou para o privado porque posso pagar. Bato-me pelos meus direitos como mulher, cidadã.” Porém, às vezes, as pessoas têm dificuldade em separar o social do racial — a discriminação pode ser de classe e não de raça, acredita.
O estigma do mestiço
Tassiana Tomé, 25 anos, trabalha numa ONG que desenha estratégias de advocacia e políticas públicas. Licenciou-se em Sociologia e Antropologia, na Holanda, e fez mestrado em Desenvolvimento, em Londres — ou seja, viveu fora de Maputo durante seis anos.
Vive num andar alto de um prédio de onde se avista Maputo, os telhados das casas, os minaretes das mesquitas, o fumo da poluição. Na sua varanda estão penduradas umas caixas de madeira pintadas com umas plantas. A sala está decorada com tons sóbrios. Por esta altura, Tassiana dividia apartamento com uma mulher latino-americana que está em Moçambique a trabalhar numa ONG.
Com mãe de origem lusa, estudou na escola portuguesa. Acha que se nota na sociedade moçambicana “alguma internalização do racismo”, em coisas como “enquanto negra talvez vá servir primeiro a pessoa branca antes de servir a pessoa negra”. Não duvida de que “o racismo em si, o facto de termos assimilado um certo tipo de inferioridade, veio do colonialismo”. A sua família é muito diversificada racialmente, caracteriza: a mãe é branca, os irmãos são negros, ela classifica-se como negra apesar do seu tom de pele claro. “Por razões políticas prefiro associar-me a black, por ser uma categoria que esteve sempre marginalizada. Então é um statement, ‘sou pessoa negra’.” Actualmente, confronta-se mais vezes com comentários a acusá-la de não ser “moçambicana autêntica”, algo que ouviu sobre a mãe e a tia, brancas. Sente, até, que isso está “mais forte” agora, “não só pela imigração mas pelo tipo de governação que temos”. “Acho que a questão do racismo ficou muito negligenciada. É uma discussão pouco existente nas escolas.”
Nos países em que estudou, sentia que as pessoas a viam “de forma muito ambígua” e “nunca sabiam onde me colocar”: “És de África? Mesmo de África?” Já em Portugal sentia “percepções racistas”, algo difícil de desconstruir, pois são preconceitos “sobre o negro, a pele, sobre a cultura, o país, a noção de que somos atrasados e ignorantes”. “Só o falarem ‘vou para África’ incomoda-me — há essa redução da pluralidade africana.” Ainda hoje algum do olhar exterior transfere a ideia de que “este país é subdesenvolvido”. O racismo, sente-o em expressões subtis como o facto de haver “muita exoticização, mesmo nas pessoas que não se consideram racistas”, comenta. “Isso é muito mais difícil porque mexe com questões políticas e económicas e com o preconceito maior da noção de desenvolvimento e de como se encara noções de ser moderno ou atrasado.”
A figura da mãe foi muito importante para desracializar o conceito de moçambicanidade e para crescer com o sentido de pluralidade. Por outro lado, em determinadas situações simples do dia-a-dia, como o atendimento em restaurantes, notou o privilégio de tratamento que era feito à mãe como se fosse estrangeira e com um tipo de simpatia diferente que a fez “perceber essa ideia de tratar o branco como superior”. A sua geração é mais aberta, tem mais acesso a informação, “mas sente-se a segregação pela estratificação económica”.
No bairro onde Carlos Bavo vivia, nos anos 1980, a distinção maior era entre os mestiços e os negros. Licenciado em Sociologia e com o mestrado em Estudos Africanos, no ISCTE, em Lisboa, diz que “era muito mais fácil fazer pouco dos mulatos por causa da cor da pele”. Era comum usarem-se expressões ofensivas como “és mulato, és da cor do mijo e por causa dessa mistura és bandido, o teu comportamento arruaceiro vem de seres mulato”. Ser mestiço “era associado a comportamentos erróneos”. Mas isso mudou, considera. Ele próprio tem um sobrinho mulato na família, fruto da relação da irmã com um homem branco. Na altura, essa relação não foi bem vista, até porque a irmã acabou por ser mãe solteira. “Isso mudou muito a minha maneira de ver e foi sendo reforçado com o meu próprio crescimento e uma leitura mais justa da sociedade.” Mas ainda hoje há preconceitos e olha-se para as mulheres que se envolvem com brancos como interesseiras, nota, algo que na altura ainda era mais exacerbado: “Uma negra não se podia apaixonar por um branco.”
Ainda hoje existe o estigma do mestiço. Danilo da Silva (1980), director executivo da ONG Lambda, que defende o reconhecimento dos Direitos Humanos das pessoas LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transexuais) tem um companheiro branco e nos espaços públicos a sua relação inter-racial é alvo de discriminação. As relações inter-raciais em geral “são estigmatizadas”, pois não são vistas como genuínas “mas fruto de uma suposta troca”: “Ou seja, os negros casam com brancos para ter acesso a recursos”, este é o preconceito. Ele nota que em determinados espaços — por exemplo, num restaurante — “a conta vem automaticamente” para o companheiro branco, porque “as pessoas assumem que quem tem mais recursos é o branco, que é quem paga as contas”.
Outro exemplo regular é chegarem ao mesmo tempo a um lugar e o companheiro ser atendido primeiro. Danilo da Silva sente-se mesmo mais discriminado pela raça do que pela sua orientação sexual: “Pelo menos nos sítios onde vou, e nos espaços que ocupo, a minha orientação sexual não vem muito à tona.” Algo que vem à tona sim é a questão racial. “Mesmo na classe média e média-alta não houve este processo de desconstrução dos estereótipos”, critica.
“Seu mulato”: foi o que o escritor Raúl Calane da Silva (n.1945) ouviu muitas vezes. “Era uma carga terrível”, lembra. Filho de mãe moçambicana de origem hindu e de pai português, lembra-se de ter à mesa de jantar uma mistura gastronómica que espelhava a diversidade cultural da sua família. “As pessoas esquecem-se que o litoral de Moçambique foi durante 1200 anos multicultural. Aqui miscigenaram-se povos vindos da Arábia, da Pérsia, da Índia, da China.”
Calane da Silva escolheu o restaurante Continental, bem na Baixa da cidade, para a entrevista e muito por causa da sua simbologia. Com os txopelas (tuk-tuks) e vendedores ambulantes à porta, o restaurante serve hoje muitos turistas. É um dos ex-líbris de Maputo, com uma esplanada que já é recente, mas lá dentro ainda conserva uma iconografia que remete para a época da independência — há uma espécie de escultura encrustada na parede com uma jarra, foice, uvas e a inscrição “trabalho” e “alegria”. Lá dentro está tudo renovado, paredes e mobília.
Era o lugar onde os intelectuais iam, “mas contavam-se pelos dedos os indivíduos não brancos”. Aqui, no início dos anos 1960, “um indivíduo negro não se sentava com o à-vontade que se senta hoje”. A mãe de Calane foi barrada de entrar no Cinema Variedades, hoje Cinema África, por ser negra.
Formas silenciosas
Hoje, as relações raciais estão em fase de transição, observa Calane da Silva, que foi um dos que se insurgiram contra o facto de os manuais escolares moçambicanos pós-independência apenas mostrarem heróis negros — acha que isso “é desprezar o outro, é racismo, xenofobia”.
No livro Meninos da Malanga, Calane brinca com a hipocrisia do multiculturalismo salazarista. Hoje diz que as restrições o ajudaram, na altura, a ter mais consciência da necessidade de lutar contra o colonialismo. “Sou figura pública, mestiça, adopto as culturas moçambicanas, estou à vontade”, conclui o escritor, que fala rápido e de forma convicta, habituado a conversar com jornalistas como ele.
Recebeu o Prémio José Craveirinha em 2003, tem criticado o colonialismo português e a faceta racista do sistema. Paulina Chiziane (n. 1955) não tem meias palavras: “Antes havia racismo visível e sabíamos qual era o espaço do branco e do negro. Ficámos independentes, o racismo foi proibido, houve todo o trabalho para que não existisse. Hoje, legalmente, não existe. Mas na prática assumiu formas mais silenciosas. Viaje para a Zambézia e vá a um banco: veja quem trabalha na caixa. São apenas mestiços. Vá às companhias aéreas: as hospedeiras não são negras. Basta dar uma volta à cidade: quem vive aonde? Os negros comuns estão fora ou no campo.”
Não é propiamente na literatura que esta distinção existe, é sobretudo na área económica, analisa a escritora, também na Associação dos Escritores Moçambicanos. “A destruição do eu do negro vem de há séculos e a mudança não pode ser feita de um dia para o outro”, nota. “Mesmo sem se aperceber, o negro submete-se ao branco. O processo de auto-estima e descolonização vai durar séculos.”
Quarenta anos é pouco para esquecer a colonização. Portanto, os imigrantes que chegam a Moçambique, especialmente a nova vaga de emigração portuguesa, “que venha com humanidade”, diz.
Não se lembra de viver situação de racismo no pós-independência. Mas viveu os seus primeiros 18 anos sob o regime colonial. Recorda-se de ser uma das melhores estudantes da turma e de ter a melhor nota a Matemática. “A professora ficou furiosa e disse: ‘Seus brancos, o que é que vocês pensam, até uma preta foi capaz de ser melhor?’ Rasgou e anulou o meu teste. Fiz novo teste e tive nota mais baixa. E disse: ‘Viram, assim é que é, o branco nasceu para ser superior e o lugar do negro é no chão’.” Paulina teria uns 14 anos, chegou a casa a chorar. O pai consolava-a dizendo que já era uma sorte ela poder ir à escola. “E eu não era assimilada. O meu pai dizia: ‘Eu, assimilar os valores portugueses? Prefiro morrer’.”
Relembrar esta época é muito doloroso, lamenta. Porque significa “pensar que um ser humano pode ter este ódio por outro”. Há uma pausa. Diz com voz emocionada: “Não consigo encontrar um continente que tenha sofrido tanta repressão como o continente africano. Alguém que vem e que ocupa, pisa, mata, desfaz: porquê? Há um trabalho muito grande a fazer. Não foi apenas em Moçambique, foi na África toda. Quantos milhões de pessoas morreram nesta saga do colonialismo, porquê e para quê?”
Esta série foi realizada em parceria com:















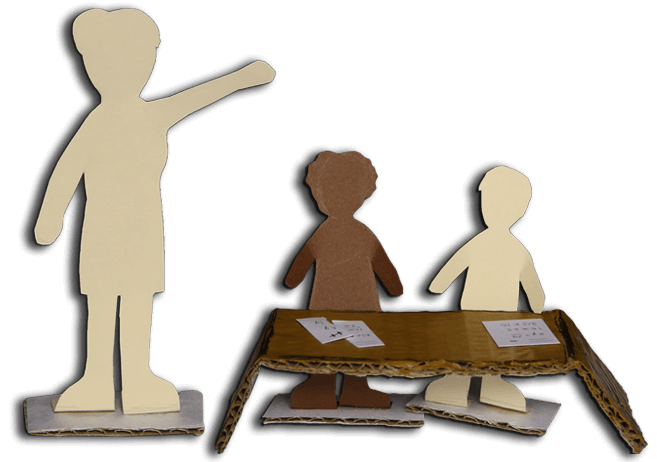

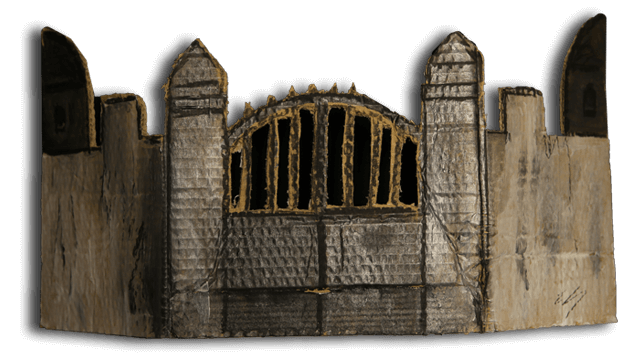






Comentários