Os pés pisam a plataforma e vem ao rosto um ar frio que faz despertar do torpor de seis horas de viagem. O último comboio do dia é mais lento. Grande parte do trajecto entre Boston e Newark é feito ao ritmo de um sono pouco profundo, corpos mal acomodados nos bancos e as luzes da rua a iluminarem a carruagem como um grande ecrã a passar, veloz, imagens no escuro. São três e meia da madrugada e agora é só o frio da estação e a náusea súbita quando se abre a porta para o grande átrio da Penn Station de Newark.
Urina, vómito, suor de muitos dias, um bafo quente que carrega toda a repulsa e gela mais do que o frio. Como avançar? Há dezenas de homens e mulheres deitados no chão, encostados às paredes, arrumados nos degraus como em beliches. Abrigam-se da temperatura negativa da rua e dormem ali. Da penumbra dos corredores à luz branca dos espaços centrais, quase não há um lugar vazio. Junto a uma das portas uma mulher está sentada. Parece descascar uma laranja, mas mais perto percebe-se que não tem nada nas mãos, é só um gesto que replica outro gesto. Quem passa tem de fazer uma espécie de gincana por entre vultos, corpos que parecem trouxas de roupa. Há uns olhos abertos a fixarem-se noutros olhos abertos e o entreolhar é insuportável para ambos.
A partir da uma da manhã e mais ou menos até às cinco, as estações de comboios da América abrem as portas aos sem-abrigo e nesses momentos, naqueles espaços, não cabe a cumplicidade; ela não é suportável. Nessas noites, na Penn Station de Newark, como em muitas outras estações por todo o país, há apenas quem não queira ser visto e quem não queira ver.
Os sem-abrigo nos Estados Unidos eram um número vago entre os 2,3 e os 3,5 milhões em 2000 (dados da Amnistia Internacional). Quinze anos depois, numa noite de Janeiro de 2015, eram 565 mil os que dormiam na rua e sete milhões os que corriam o risco de não ter brevemente onde dormir, números do último relatório da federação National Alliance to End Homelessness que indicava ainda que a taxa de sem abrigo diminuíra no último ano, de 18,3 para 17,7 por cada dez mil habitantes.
Para o orçamento para 2017 — o ano em que deixa a Casa Branca — Barack Obama propôs 11 mil milhões de dólares para gastar nos próximos dez anos na ajuda a famílias sem casa ou em risco de as perder. A iniciativa do Presidente em final de mandato pode enquadrar-se politicamente na difícil resposta à questão que Philip Roth formulou na literatura e colocou na voz de Nathan Zuckerman: “Que fazer com esta coisa terrivelmente significativa que são os outros?” Zuckerman, escritor e alter ego de Roth, era um homem adulto quando formulou a pergunta, logo depois de contar como, aos dez anos, aprendeu “toda a crueldade da vida” ao ler um romance sobre basebol. Mais tarde, mais cínico, mais desiludido, diria: “compreender as pessoas não tem nada a ver com a vida. O não as compreender é que é a vida.”
A trágica aprendizagem literária de Zuckerman deu-se num lugar que, fora da ficção, é bem próximo da Penn Station, a uma distância de minutos a pé, seguindo para sul, entre fachadas de uma opulência agora decadente, ruínas de fábricas, de armazéns e lojas, paredes grafitadas, carrinhas de venda ambulante e depois ruas com árvores, casas unifamiliares de dois pisos, parques escuros, parques mais abertos, sirenes de carros de polícia e alguém que passa num ritmo que é tudo menos de passeio. Não há uma hora boa para fazer esse percurso; há apenas as horas proibidas onde não é possível adivinhar o que está do outro lado da rua, ao virar a esquina.
Há muitas sombras em Newark, mesmo à luz do sol de um dia de semana sem frio. A baixa, onde o avô de Philip Roth foi morar como operário pobre de uma fábrica de chapéus, e que é hoje um mar de gente sem pressa, cheira a crack, a erva, a queimado do bacon numa banca de comida, a pipocas, a pretzels, a tabaco, a fumo do escape dos carros a gasóleo, a incenso das lojas de indianos. Uma mulher com uma criança pela mão pergunta onde é o tribunal de menores e o som da sua voz perde-se entre o barulho de betoneiras, picaretas, sirenes, música que sai das lojas de videojogos, pregões de quase tudo o que dá para vender na rua.
A cidade parece querer renascer entre escombros. Há edifícios novos, torres que exibem nomes de seguradoras, bancos, multinacionais. Percorrer hoje as ruas de Newark é assistir a todas as camadas que fizeram a sua história. Elas estão expostas como feridas abertas. A cidade do sonho imigrante, a cidade mutilada e a que tenta recuperar de todos os traumas foi a mesma onde Philip Milton Roth nasceu em 1933, filho de um vendedor de seguros, judeu, e onde aprendeu a “americanidade” no liceu de Weequahic, entre adolescentes como ele. “Os nossos pais eram, com raras excepções, os descendentes da primeira geração de imigrantes pobres vindos da Galícia e da Rússia polaca no virar do século, quase todos criados no seio de famílias de Newark onde se falava iídiche e onde a ortodoxia religiosa ainda não começara a ser seriamente desgastada pela vida americana. Por muito que falassem sem sotaque e com sonoridade americana, por muito secularizadas que estivessem as suas convicções religiosas, por muito competente e convincente que fosse o seu estilo de vida de americanos da classe média-baixa, continuavam a ser influenciados pela educação recebida na infância e pelos fortes laços que vinculavam os seus pais a costumes e percepções que aos nossos olhos eram antiquados, socialmente inúteis e próprios do velho mundo.” Tudo se desenrolava e ganhava raízes à volta “do fenómeno mais intrinsecamente americano que tínhamos ao nosso alcance”, conta Roth em Os Factos, Autobiografa de Um Romancista (Dom Quixote, 2014). Esse fenómeno era o basebol.
Chega-se ao parque de Weekquahic depois de atravessar a baixa de Newark, de subir uma colina e percorrer casas com jardins mais ou menos cuidados onde vivia a comunidade judaica e onde hoje moram sul-americanos e uma comunidade negra que não sucumbiu à pobreza, à droga e ao crime.
Décadas depois, o que separa este imenso jardim no Sul de Newark numa tarde de Verão, onde adolescentes jogam basebol, da estação na mesma cidade onde numa noite de Inverno se abrigam centenas de pessoas depois de um nevão que paralisou a costa leste do país? Não é apenas o tempo, cronológico ou atmosférico, mas uma falha.
Pastoral Americana (D. Quixote, 1999), o romance de Philip Roth publicado em 1997 (que acaba de ser adaptado ao cinema por Ewan McGregor e com estreia marcada para Novembro), é um livro sobre essa falha. Humana e social, individual e colectiva. Mas também sobre a ideia de decência, virtude, sucesso e a derrocada dos homens grandes que afinal são homens comuns ou de como o progresso e a evolução não seguem um sentido necessariamente ascendente e positivo. Foi o livro a seguir ao qual Roth afirmou numa entrevista à televisão “se não sou americano não sou nada”, em vez de dizer “se não sou judeu não sou nada”, como se esperava então de um judeu americano.
Saul Bellow, outro escritor judeu, 18 anos mais velho do que Roth, dissera o mesmo em 1953 na voz do protagonista de As Aventuras de Augie March (Quetzal, 2010) outro livro sobre a condição americana. “Sou americano, nascido em Chicago.” Roth leu esse Bellow e aprendeu que um escritor judeu podia escrever sobre isso de forma inovadora, jogando com o humor, numa linguagem moderna, vibrante, sem fazer “relações públicas” — termo usado por Bellow — no combate ao anti-semitismo. Para Roth, o rapaz de Newark, como para Bellow, o imigrante do Canadá que cresceu em Chicago, ser judeu não era um absoluto, mas ser americano sim. Com todas as dúvidas, inseguranças e desconforto que uma afirmação dessas podia trazer. É esse o material de escrita de Roth.
O colapso
Às três e meia da madrugada de um dia de semana, na Penn Station de Newark, a maior central de transportes do estado de New Jersey, por onde todos os dias passam mais de 600 mil passageiros em trânsito para Nova Iorque, Filadélfia, Washington, Boston e para os subúrbios da cidade há uma espécie de vertigem de civilização. Fundado em 1935, o edifício actual é controlado pela polícia da Port Authority, entidade que gere as infra-estruturas na zona portuária entre Nova Iorque e New Jersey, terminais de navios, aeroportos, estações de comboio e de autocarro. Agentes de farda azul com as inicias PA,PD controlam quem entra e sai e ficam à porta quando à noite a estação abre para quem se quer abrigar do frio. “Ninguém vê isto a não ser eles mesmos e quem lhes abre as portas. Ninguém passa nestes sítios a esta hora, e como ninguém vê, não existe, estas pessoas não existem, são invisíveis para o mundo.” O homem que diz isto não tem expressão na voz nem no olhar. É um polícia com uma arma no coldre, onde repousa a mão direita por dentro do casaco quente. Vive perto, “meia hora de autocarro”, precisa, e pergunta o que se faz ali àquelas horas com a mesma sonolência com que falou até então, apontando a praça de táxis em frente. “Olhe que não são horas nem lugar por onde se ande assim.” Parece tão derrotado quanto o protagonista de Pastoral Americana depois de ter “perdido” a filha e de o pai lhe ter dito que Newark depois de 1967 era a pior cidade do mundo, devastada por um trio mortal: “impostos, corrupção, raça”, uma cidade habitada por “gente vinda de todo o lado e que se estava nas tintas para o destino de Newark”. Será?
Nathan Zuckerman conta a história. Ele nasceu em Newark, como Philip Roth que o criou à sua imagem, filho de imigrantes judeus que, como todos os que ali chegavam, queria seguir a pastoral americana: “a luta ritual pós-imigrante pelo sucesso”, como a definiu Seymour Irving Levov, conhecido como o Sueco, personagem central de Pastoral Americana, romance-síntese de uma identidade carregada de contradições com génese na América e, nos casos de Roth, Zuckerman e do Sueco, formada em Newark, a cidade que um dia se tornou “impossível” porque subverteu essa pastoral. Quando é que tudo entrou em colapso?
Na cidade, foi com os motins de 1967, um protesto violento contra as políticas sociais do Presidente Lyndon B. Johnson, que tomou conta das ruas de muitas outras cidades americanas e assumiu proporções dantescas em Newark. O sucessor de John Kennedy parecia incapaz de cumprir as promessas de igualdade de oportunidades independentemente da raça. A comunidade, constituída por irlandeses, polacos, italianos, americanos brancos de várias gerações, sofrera alterações desde a década de 50, quando milhares de negros migrados da forte segregação do Sul se instalaram, respondendo à oferta de emprego que crescia na indústria e nos serviços. No final dos anos 60, representavam mais de 50% da população de Newark, mas estavam no fundo da pirâmide social. Eram os mais pobres, os menos representados, sentiam-se à margem no trabalho, na educação e na riqueza. Toda a tensão acumulada explodiu nas ruas depois de dois polícias brancos terem prendido um taxista negro. Foram seis dias dos mais negros na história recente da América. Morreram 26 pessoas, houve centenas de feridos e a cidade nunca mais se recompôs. Quem pôde fugiu. E esse passou a ser o destino trágico de Newark até hoje: só parece ficar quem não pode sair.
No livro, o colapso foi o crime da filha do Sueco. Num dia de 1968, Merry fez explodir um edifício dos Correios em protesto contra os valores americanos que justificavam a guerra do Vietname. Era a iniciação do Sueco ao descalabro, o “desmantelamento de uma América totalmente nova, a filha e a década fragmentando em mil pedaços a sua forma particular de raciocínio utópico, a praga América infiltrando-se no castelo do Sueco, e aí, infectando todos. A filha que o leva para fora da sonhada pastoral americana e o mergulha em tudo o que é a sua antítese e o seu inimigo, na fúria, na violência e no desespero da contra-pastoral — na primitiva raiva americana”, escreve Zuckerman pelas mãos de Roth sobre a perplexidade que se experimenta perante a queda trágica. Sobre o momento em que o “impossível acontece”.
É esse o território de partida nos romances de Philip Roth, e já o fora nos de Saul Bellow, uma espécie de fantasma que espreita. Uma força transformadora de desconforto, incómoda que está muito ligada à sua afirmação americana, à identidade. Newark, como a Chicago de Bellow são uma metáfora dessa sensação de ruptura, de disrupção. A negação da linha de evolução permanente.
A ideia original para o romance foi a de uma rapariga bombista. Era a mancha a cair na imagem de pureza da adolescente feminina. Demorou anos a apurar. Ela pertencia à quarta geração de uma família de imigrantes de Newark, filha de um herói local, o melhor jogador de basebol do liceu de Weequahic, frequentado sobretudo por judeus, herdeiro de uma fábrica de luvas. O Sueco era louro como um ariano, mas com apelido judeu, um símbolo de integração, o rapaz exemplo para todos e não apenas para a comunidade judaica a que pertencia. “Os sentimentos judaicos contraditórios provocados pela sua presença eram, simultaneamente, aplacados por ela; a contradição dos judeus, que ora se sentem adaptados ora não se sentem adaptados, que ora insistem que são diferentes e ora não o são, resolvia-se com o espectáculo triunfante deste Sueco que, afinal, era mais um Seymour do nosso bairro, cujos antepassados tinham sido Solomons e Sauls e que, por sua vez, haviam de gerar Stephens que haviam de gerar Shawns. Onde é que se encontrava nele o judeu? Não se conseguia encontrá-lo, e contudo, sabia-se que estava lá. (...)”, lê-se no início de Pastoral Americana. O Sueco era um instrumento da história por toda essa simbologia de integração ao mesmo tempo que anos depois a filha também seria por contestar o movimento da História.
O leitor vai sabendo de tudo isto pela voz do narrador, Nathan Zuckerman, o escritor que Philip Roth criou em 1974 em My Life as a Man e que seria protagonista e/ou narrador de mais nove romances de Roth. Aqui ele tem sessenta e tal anos, está deprimido e encontra o seu herói de infância, o Sueco, no momento em que ele tem uma segunda família. Antes, casara-se com a Miss New Jersey 1949, católica de Newark, e foram viver longe do bairro judeu, numa terra nos subúrbios. É aí que em 1968, aos 16 anos, a sua filha põe uma bomba e mata um homem. Zuckerman, ao serviço de Roth, quer chegar à consciência desse homem e pô-la em palavras, mas fá-lo em contraponto com outro estado de consciência: a de Zuckerman.
Zuckerman e o Sueco são dois pólos opostos — pelo seu íntimo — de uma mesma realidade, social, religiosa, local. De um lado, o obcecado, torturado pelo conflito interno, tantas vezes assaltado por sentimentos de raiva e frustração e que se salva com a escrita; e do outro, “o banal e convencional”, acredita Zuckerman, alguém que se define pela “ausência de valores negativos e mais nada”. Zuckerman quer escrever sobre ele partindo de um pergunta: qual é, onde está, como se manifesta a subjectividade do Sueco? A construção da narrativa, de que o leitor se sente parte como espectador privilegiado, é a perseguição dessa essência pelo escritor. O livro foi publicado, a crítica aplaudiu e ganhou o Pulitzer em 1998. Muitos viram nele um romance político, de alguém que parecia ter mudado de lado e surgir como um neoconservador.
No entanto, como refere Claudia Roth Pierpoint na biografia literária Roth Unbound (2012), nos seus livros ele não dá nunca uma única perspectiva das coisas. A autora, que apesar de partilhar o mesmo apelido não tem parentesco com o escritor, cita-o: “Eu não escrevo sobre as minhas convicções. Escrevo sobre as consequências cómicas e trágicas de convicções questionáveis”. Roth queria dizer que não faz política mas literatura e por isso pode falar de tudo da mesma forma que Saul Bellow já fizera em As Aventuras de Augie March. “Estávamos em pleno Inverno, e o frio e a humidade eram terríveis; de modo que percorrer a cidade nos eléctricos aracnídeos, em viagens que duravam horas, deixava qualquer um apalermado como um gato ao pé do fogão, por causa do aperto lá dentro. (...) Nunca existiram civilizações sem cidades. Mas e cidades sem civilização? Seria uma coisa inumana, se fosse possível, tantas pessoas a viverem juntas sem gerar nada umas para as outras. Não, mas não é possível, e a desolação gera o seu próprio fogo, e portanto isso nunca acontece.”
Augie, o protagonista do romance de Saul Bellow, atravessa Chicago na América da Grande Depressão. Filho do meio de uma mulher abandonada, tenta sobreviver ao destino de rapaz pobre do West Side do início do século XX, lugar de imigrantes, vadios, pugilistas e prostitutas, de ortodoxos religiosos, de segregação e de sobrevivência. O livro é o “relato livre” do modo como Augie formou o seu carácter. Augie não foi para Bellow o que Zuckerman é para Roth, mas há nele as marcas de uma infância partilhada: cresceram no mesmo sítio em circunstâncias muito idênticas e nunca se libertaram dessa geografia formadora.
O exemplo
Philip Roth e Saul Bellow conheceram-se em Chicago em 1956. Roth era estudante na Universidade de Chicago, e Bellow “um dos seus entusiasmos literários”, como o definiu em Os Factos. Foi em Chicago que leu Augie March e viu um exemplo do génio de Bellow, para ele “o grande libertador do tradicional confinamento da literatura judaica”, lê-se em
Roth Unbound. Entre outras coisas, foi também evidente que “a experiência judaica podia ser parte da literatura americana”. Zachary Leader, autor da biografia The Life of Saul Bellow, cuja primeira parte foi publicada em 2015 (sem tradução em Portugal), referiu agora ao PÚBLICO que para Bellow era claro que como escritor “estava em melhor posição enquanto judeu na América do que um judeu na Europa”. Porquê esta afirmação? “Apesar dos alertas e das suspeitas em relação aos judeus na América, a sua identidade americana era aceite, coisa que ele não acreditava ser possível nos países europeus. E insistia em dizer-se americano tanto quanto era judeu. Não era, no entanto, um judeu praticante, apesar de ter crescido numa família de judeus ortodoxos, mas acreditava ser crucial para os judeus transportarem a sua história e os seus valores que via como capazes de contrariar o niilismo predominante na Ocidente.” Leader justifica também assim a fixação de Bellow com a questão da identidade, o “tema-chave” de toda a sua literatura, e que Roth também sempre privilegiou. Para o biógrafo, a faceta judaica de Bellow “teve um papel determinante no modo como defendeu o Estado de Israel — um defensor da paz imediata — que via como a única forma de os judeus acabarem com o que ele chamava de ‘curso do Holocausto, o suplantar da vitimização’.”
Philip Roth estava entre os judeus americanos que pensavam desse modo, mas o percurso de um e de outro na História da afirmação judaica na América foi diferente. Roth pertencia à terceira geração de imigrantes na América. Bellow nasceu no Canadá, filho de imigrantes russos, e chegou a Chicago aos nove anos. A família instalou-se no West Side, junto ao Humboldt Park, uma zona tradicionalmente habitada pela classe média baixa — agora com maior procura pelos estratos mais elevados — e de grande diversidade étnica desde a fundação de Chicago. Judeus vindos da Europa, polacos, alemães, italianos e mais recentemente sul-americanos do México e de Porto Rico, e uma vasta comunidade afro-americana. É esse o núcleo social e geográfico da literatura de Bellow e o coração de Augie March.
Chicago fica a duas horas e meia de avião de Newark e chega-se lá com a frase de Saul Bellow, “ser conciso acerca de Chicago é mais difícil do que se possa imaginar”. É uma cidade com 2,7 milhões de habitantes (dados de 2015), a terceira mais populosa dos Estados Unidos, capital do Illinois, tradicionalmente democrata, terra natal de Michelle Obama. George Bush pai foi o último republicano a vencer ali umas presidenciais, em 1984. “A cidade representa alguma coisa da vida americana, mas nunca foi claro que coisa é essa”, escreveu Bellow em Chicago: The City That Was, The City That Is, uma crónica que faz parte da colectânea Saul Bellow, There is Simply Too Much To Think About, editada pelo escritor Benjamin Taylor e publicada em 2015. “A cidade está em permanente transformação e a escala dessa transformação é enorme”, acrescentou.
A Chicago de Augie March não é a mesma por isso, mas também por isso permanece inalterada nessa capacidade de se inventar. Chegar a Chicago é esbarrar com a voragem desse presente, logo no aeroporto de O’Hare, o segundo mais movimentado do mundo, e juntar-lhe todos os fantasmas que fizeram — e fazem — dela uma referência. Literários, musicais, sociais, políticos. A superfície, e sobretudo, o submundo que contaminou a linguagem e o imaginário de tantos criadores. “Bellow é o escritor de Chicago, que ele amava com todas as imperfeições”, diz Zachary Leader. Ele via a cidade como a grande imagem da América, e também do materialismo. E como grande inimigo do materialismo ele não era nada atraído por isso.”
Além de usar as pessoas que conhece no que escreve, Bellow usa a paisagem, a atmosfera. Tudo é reconhecível, “os bairros, os restaurantes, as casas e os edifícios públicos”. Percorrer Division Street, a rua que atravessa toda a cidade, é viajar por toda a história da cidade e reconhecer nela traços de Bellow, como se não tivesse sido ele a inspirar-se ou a alimentar-se da cidade, mas a cidade a inspirar-se nele. Até onde houve contágio? Zachary Leader fala antes na capacidade de Bellow em criar uma linguagem que sintetiza não apenas Chicago e a sua relação com ela, mas com a América. “Bellow deu voz a segmentos da população que não tinham sido até então ouvidas pela chamada grande cultura literária. Ele encontrou uma linguagem americana diferenciada, capaz de retratar tanto a rua como a torre de marfim. A sua gama de referências era enorme. Gore Vidal referiu-se a ele como ‘o único intelectual americano que lê livros’ de tal forma ele sabia tudo sobre o lado mais rasteiro da cidade, os gangsters, a corrupção local, vendedores de rua, vagabundos, milionários.”
Martin Amis também conheceu Saul Bellow em Chicago. Foi em Outubro de 1983, quando um jornal o mandou entrevistar aquele que Amis considerava o maior escritor americano de sempre. “Eu estava a tremer de nervos e ele, tacticamente disse: pedi chá para nós”, Amis conta isto numa livraria em Nova Iorque, numa conversa pública sobre Bellow onde fala do início de uma amizade que só terminou quando Bellow morreu. Simbolicamente, veste uma camisa e um casaco que eram do escritor e que ele pediu que fossem para ele depois da sua morte. Sublinha o cinismo da vida em fazer com que alguém com a imaginação e a capacidade criativa de Bellow morra de Alzheimer. Para Amis, Augie March é o grande romance americano. “Quando se termina o livro não há mais nada a dizer sobre o que quer que seja”, afirmou em 2011 numa palestra em Chicago, acrescentando que sempre achou que Saul Bellow era uma gralha da palavra “alma” (brincadeira com o som inglês de Saul e soul). E como Augie, também Bellow foi uma ardósia em branco onde a cidade de Chicago começou a escrever. A metáfora também é de Amis, mas é Leader quem lembra que foi a cidade e a luta contra a autoridade do pai que lhe chamava idiota que formaram o carácter de Saul Bellow. “Roth não teve de travar essa luta com o pai”, sublinha o homem que está a trabalhar no segundo volume da biografia do autor de Augie March, onde, entre muitas coisas, se conta o Nobel de 1976, e a morte de Bellow em 2005, que se tornaria numa das obsessões literárias de Roth. A longa entrevista que o escritor de Newark lhe estava a fazer por carta ficava inacabada. Nela, Saul Bellow diz que muito de Augie March é a história dos judeus na América e confessava: “Ao tornar-me escritor eu esperava revelar, de algum modo, as minhas reacções singulares à existência. Para quê escrever a não ser para isso?”
Newark como metáfora
A entrevista de Roth a Bellow começou em 1998, um ano depois da publicação de Pastoral Americana. O escritor de Newark vivia no Connecticut e o de Chicago em Vermont, e Newark vivia um longo período de declínio de que parecia não ser capaz de emergir. Em Roth Unbound, Claudia Pierpoint lembra que quando Philip Roth escrevia Pastoral Americana, Newark era a cidade mais violenta do país, segundo o ranking do FBI. Recuperou e voltou a cair. Em 2015, estava em nono lugar, uma subida de dez posições face ao ano anterior, em que fora 19.ª. Detroit, Oackland e Memphis ocupavam os primeiros lugares. “Roth compara a sua amada Newark a Atlanta sob o comando de Sherman [Batalha de Atlanta na Guerra Civil Americana, em Julho de 1864, quando o general Sherman venceu as tropas sulistas. Mais de 40% da cidade foi destruída por um incêndio que durou dias e matou milhares de pessoas], ou, pior, a Cartago devido ao carácter definitivo da destruição”, lê-se em Roth Unbound, que cita Pastoral Americana como exemplar no retrato desse colapso que começou em 1967 e as pilhagens. “O apetite dos Americanos pela posse é estonteante. Isto é que é roubar lojas. Tudo o que as pessoas desejam grátis, um luxo gratuito e acessível a todos, toda a gente descontrolada com a ideia. Aqui está! Vamos a isto! Nas ruas em chamas de Newark, há uma força que anda à solta e que surge como redentora, está a acontecer algo que purifica, algo de espiritual e revolucionariamente perceptível a todos. A visão surrealista de artigos domésticos cá fora, ao relento, a brilharem com as chamas que incendiavam o Bairro Central promete a libertação da humanidade. Sim, cá está ela, que venha, sim, a magnífica oportunidade, um dos raros momentos transfigurantes da história humana: as velhas modalidades do sofrimento estão a desaparecer, abençoadamente, nas chamas para nunca mais ressurgirem mas para serem substituídas, numa questão de horas, por um sofrimento que será tão medonho, tão monstruoso, tão inexorável e tão abundante que demorará quinhentos anos a passar. Da próxima vez o fogo — e depois? Depois do fogo? Nada. Nada nunca mais em Newark.” A voz é a do Sueco, tomado pela revolta diante dos acontecimentos, sentado à secretária da fábrica, no meio dos tumultos. Uma voz também em transformação.
Passaram quase 50 anos desde que Roth levou essa voz para a sua ficção e quase 20 desde que publicou Pastoral Americana. “Nada nunca mais em Newark” é como um eco, uma maldição. A cidade fica a uns 20 minutos do centro de Manhattan de comboio. De carro nunca se sabe. São 25 quilómetros que significam muito mais do que mudar de estado. Com 282 mil habitantes — menos 40% do que em 1930 — é a cidade mais populosa de New Jersey e uma das mais multi-étnicas do país. Perdeu parte da população depois dos riots de 1967. No Bairro Sul, nas zonas residenciais, durante todo o ano seguinte havia duas carrinhas de mudanças por dia em todas as ruas, proprietários de casas a fugirem, a abandonarem as modestas casas que vendiam como podiam(.)”
Foi nessa altura, no dia 4 de Abril de 1968, que Herman Roth, ao saber que Martin Luther King Jr. fora assassinado, disse ao filho: “Newark vai explodir.” Philip tinha 35 anos, já escrevera dois romances, Goodbye Columbus (1962) e When She Was Good (1967, livro que a D. Quixote vai publicar em português no próximo mês de Novembro). Desistira de ser advogado das causas judias, como sonhara em criança, e vivia nessa altura em Nova Iorque. Soube da notícia da morte de Martin Luther King quando jantava num restaurante da Houston Street. “(...) apesar de toda a sua força, King, que eu não conhecia pessoalmente, sempre fora para mim uma figura pessoalmente distante, quase informe, com uma concepção moral de si próprio mais à escala de uma montanha do que de um ser humano, e por isso a sua morte não desencadeou em mim lágrimas de pena e de dor mas sim uma sensação de premonição e medo: um crime inqualificável ia provocar um desastre social inimaginável”, conta em Os Factos. O desespero na América ganhava novas formas de se manifestar.
O silêncio de Roth
Roth saiu aos 17 anos e pouco depois a família também deixou Newark. Os pais foram viver para os subúrbios de uma cidade próxima, Elizabeth, onde está o segundo maior aeroporto a servir Nova Iorque, o Liberty. É socialmente quase tão complexa como Newark, mas sem a mesma carga de destruição. Para lá chegar de carro, evitando a auto-estrada rodeada por armazéns, oficinas, centros comerciais, outlets ou o movimentado terminal portuário, passa-se por áreas socialmente estratificadas: os negros, os sul-americanos, os irlandeses, os polacos, os judeus ortodoxos e casas cada vez maiores com jardins melhor cuidados, para depois voltar a descer na escala social quando o centro de Elizabeth se aproxima.
Andrew guia o Uber enquanto atravessa a paisagem quase branca de fim de Março. A neve não derrete apesar do sol. “Ninguém quer saber de Newark”, diz. E “ninguém” são os políticos. Diz nomes. Cory Booker, o mayor democrata entre 2006 e 2013 que traçou um ambicioso plano de reconstrução para a cidade e actual senador; Ras Barack, também democrata, natural de Newark, o homem que foi substituir Booker em 2014 e Chris Christie, também de Newark, republicano, governador de New Jersey. Em 2015, Christie anunciou a sua candidatura à Casa Branca para estas eleições, mas teve de retirar-se por alegado envolvimento no Bridgegate, o escândalo causado por cinco dias de bloqueio de uma ponte entre os estados de Nova Iorque e New Jersey, em 2013. Anunciou pouco depois o seu apoio a Donald Trump.
“Newark não dá votos, não garante eleições, grande parte da população é clandestina, vive à margem, e parece haver interesse que assim permaneça”, afirma Andrew, técnico de telecomunicações, que todas as tardes responde a chamadas de clientes para compor o orçamento familiar e ajudar a pagar as propinas da filha de 19 anos. “Ela está a estudar Comunicação. É uma boa menina, sobreviveu a isto tudo e eu quero recompensá-la”, justifica, e, sem pausa, diz que vai votar Trump. Só a seguir olha pelo retrovisor. Sabe que essa intenção pode causar estranheza.
“Ele não pertence a este sistema que promoveu a corrupção, criou esta clivagem social, levou a pessoas a endividamentos para a vida por quererem estudar ou ter assistência médica, que estrangulou a classe média.” Não se diz republicano nem democrata, prefere dizer que é livre de escolher e que está farto. “Votei em Barack Obama, sei que ele fez algumas coisas e não pode fazer outras, mas é negro e achei que talvez isso se notasse nas suas políticas. Eu sou branco, mas vivo numa comunidade negra e não notei grande coisa. Sei que Trump tem ideias idiotas, mas quando lá chegar alguém o põe na ordem.”
O carro regressa ao lugar de onde saiu, a Penn Station, pela zona norte que Philip Roth descreve como o Down Neck, uma zona baixa, quase ao nível das águas do Pasaic. É o bairro onde se situava a fábrica de luvas do Sueco, historicamente a zona mais pobre de Newark e conhecida como Ironbound. Isso era verdade até 1967, a partir daí pobreza, miséria, degradação social são difíceis de aplicar a um só território e o Ironbound pode parecer um oásis. É aí que vive a mais antiga comunidade portuguesa de New Jersey. “Não temos dados precisos, mas devem ser 14 ou 15 mil pessoas”, refere Pedro Soares de Oliveira, o cônsul-geral de Portugal em Newark. “É uma comunidade que chegou em duas grandes vagas, na década de 30 e nos anos 60, 70 e 80, e que vem sobretudo do Minho e da zona de Aveiro”, acrescenta. Muitos votam na América, mas também não há dados sobre tendências de voto nem de abstenção. “Sabe-se que há luso-americanos com cargos políticos locais e isso diz um pouco da integração. É maior do que há uns anos.” O consulado fica em Raymond Boulevard, na parte nova da estação, espécie de ponte entre o norte e o sul de Newark, mas onde todos se encontram. Ali ninguém parece dominar ninguém numa população hoje composta por afro-americanos (52%), latinos (18%) e brancos não latinos (11%), onde 28% das pessoas vivem abaixo do limiar da pobreza e só 12% dos que têm mais de 25 anos completaram o ensino superior. São estatísticas como esta que levam Andrew a votar em Donald Trump, um acto que faz pensar no Sueco que se recusou até ao fim a abandonar Newark. Para ele, o fim foi 1968. Para Andrew, o próximo limite é 8 de Novembro de 2016, o dia das eleições: “Ganhe quem ganhar, espero o melhor, pior não sei o que será.”
Andrew nunca leu Philip Roth, nunca tinha pensado que ele era dali, não há turismo literário em Newark. “Não há nenhum turismo em Newark”, ri, incomodado. Nem sabe que o escritor já não escreve. Roth permanece em silêncio, não se manifestou publicamente quanto a estas eleições, mas há quem leia em A Conspiração Contra a América (D. Quixote, 2005) — onde ficciona sobre a hipótese de Charles Lindberg, o famoso aviador acusado de simpatizar com ideais nazis, se tornar Presidente dos Estados Unidos na década de 40 — como a sua previsão literária da chegada de alguém como Donald Trump. Estará a América à beira da distopia?




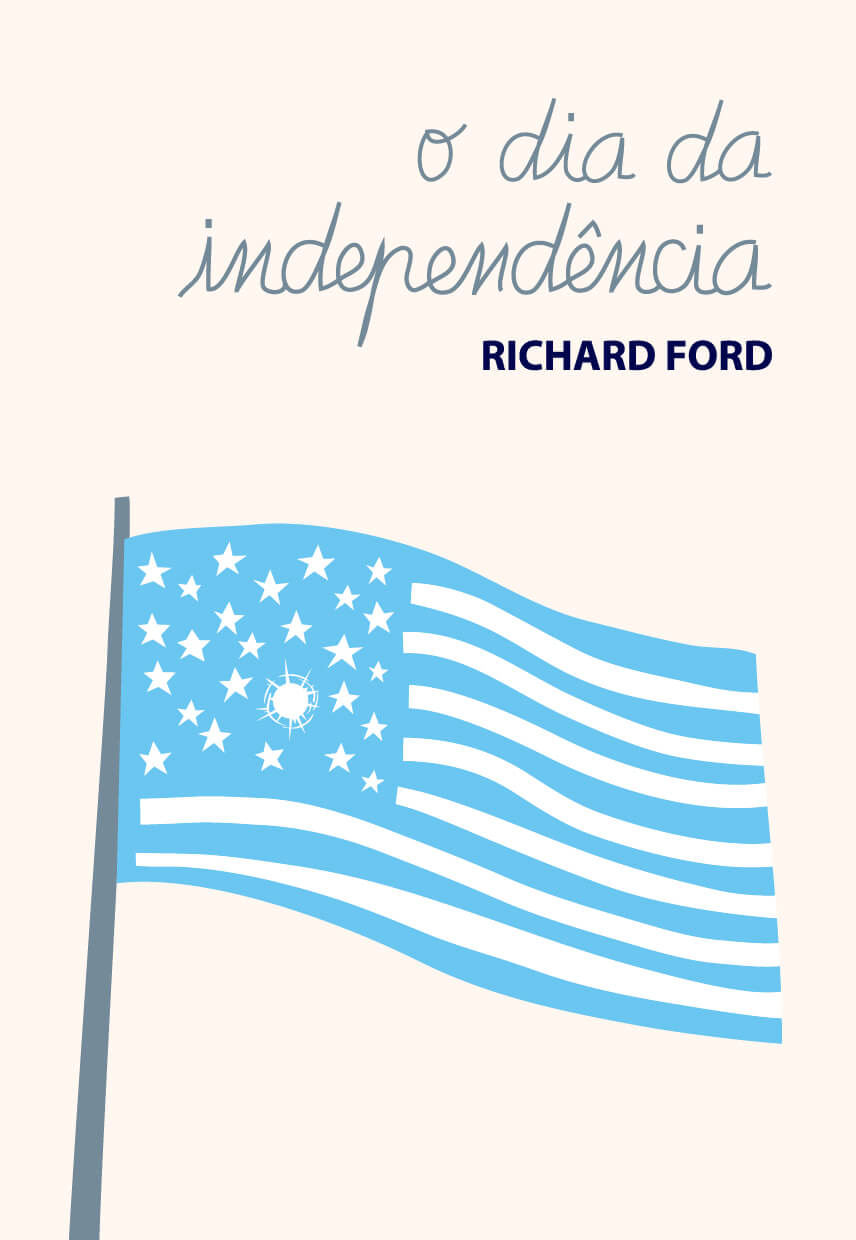

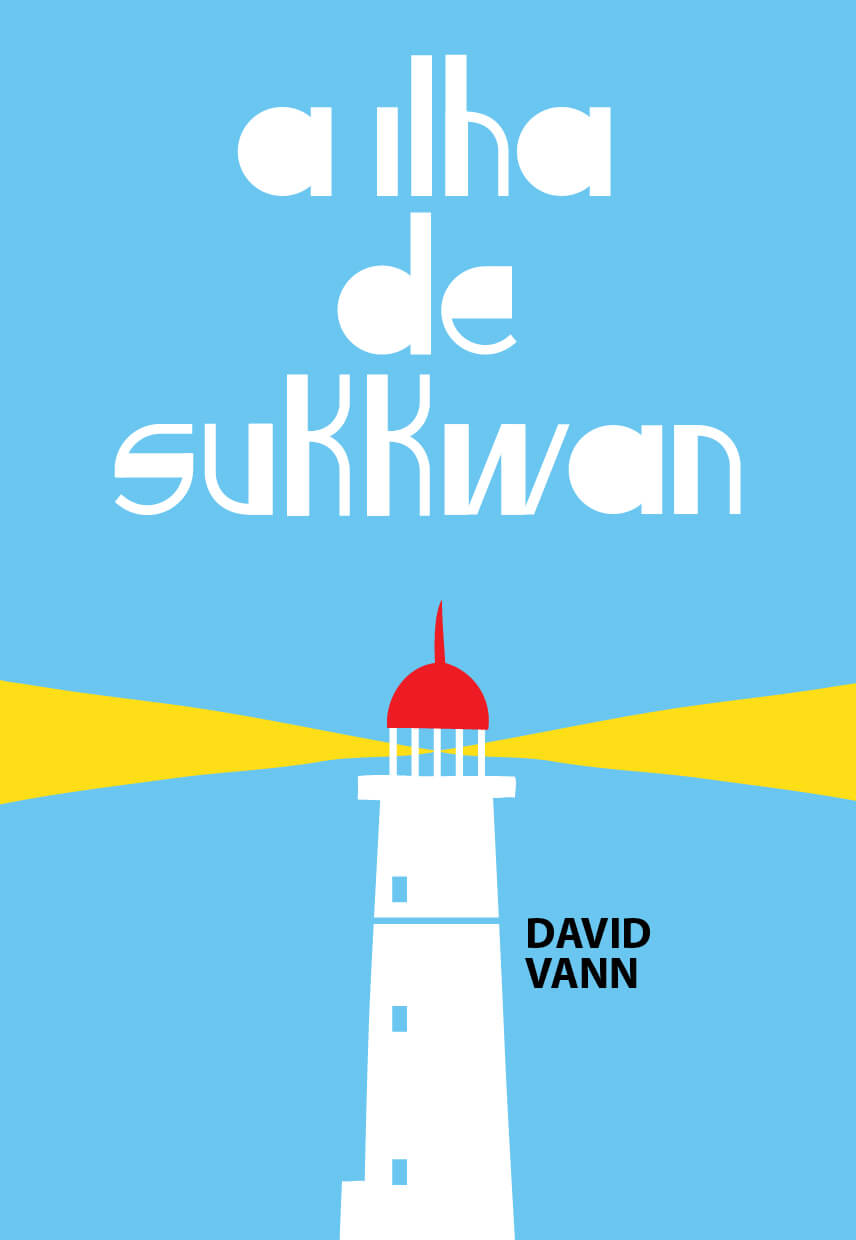
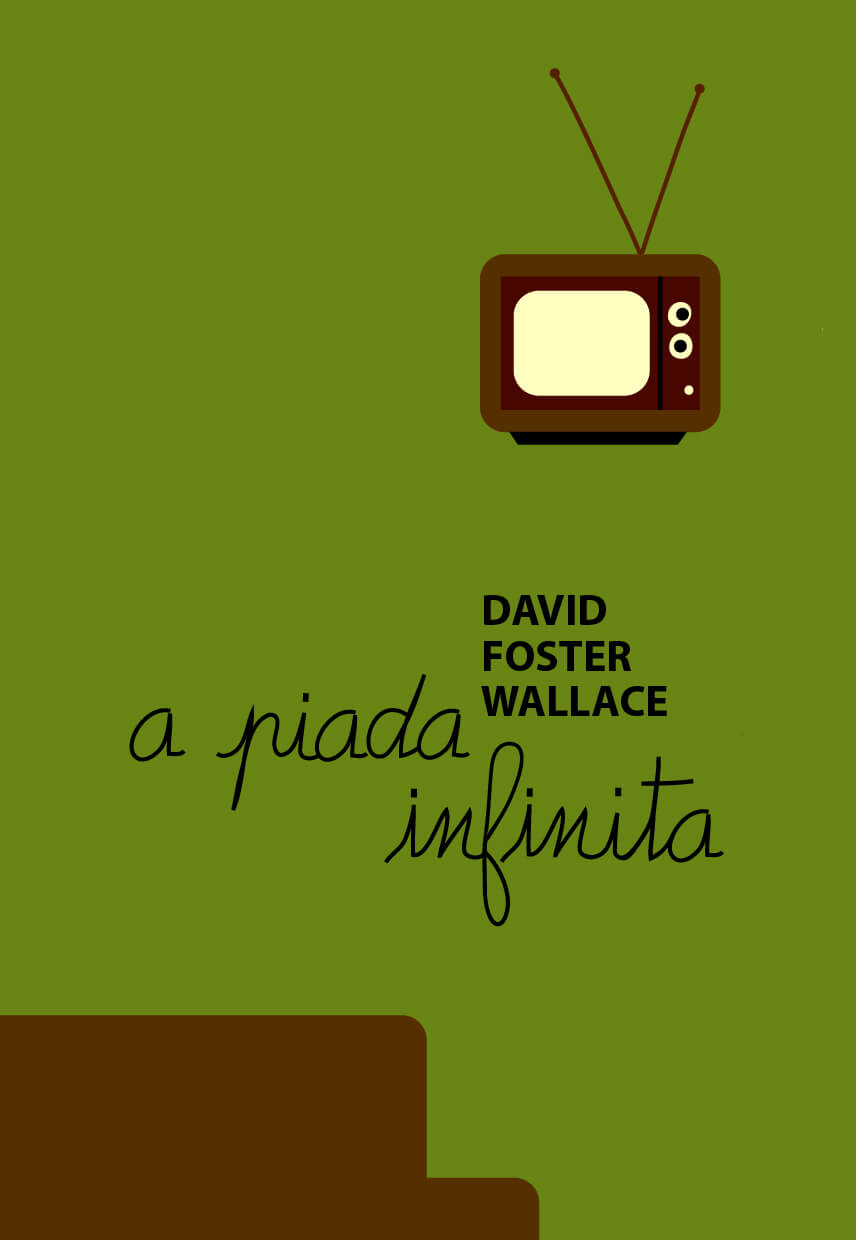


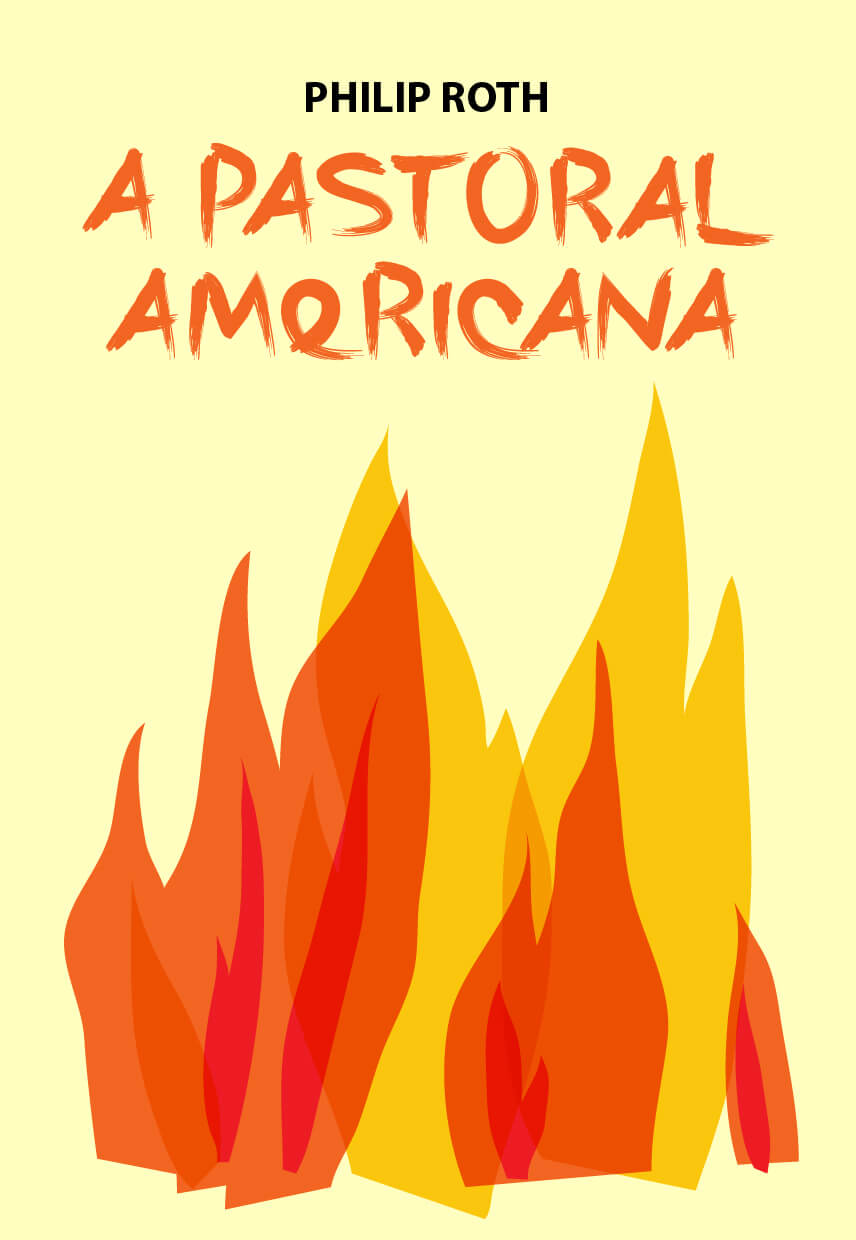
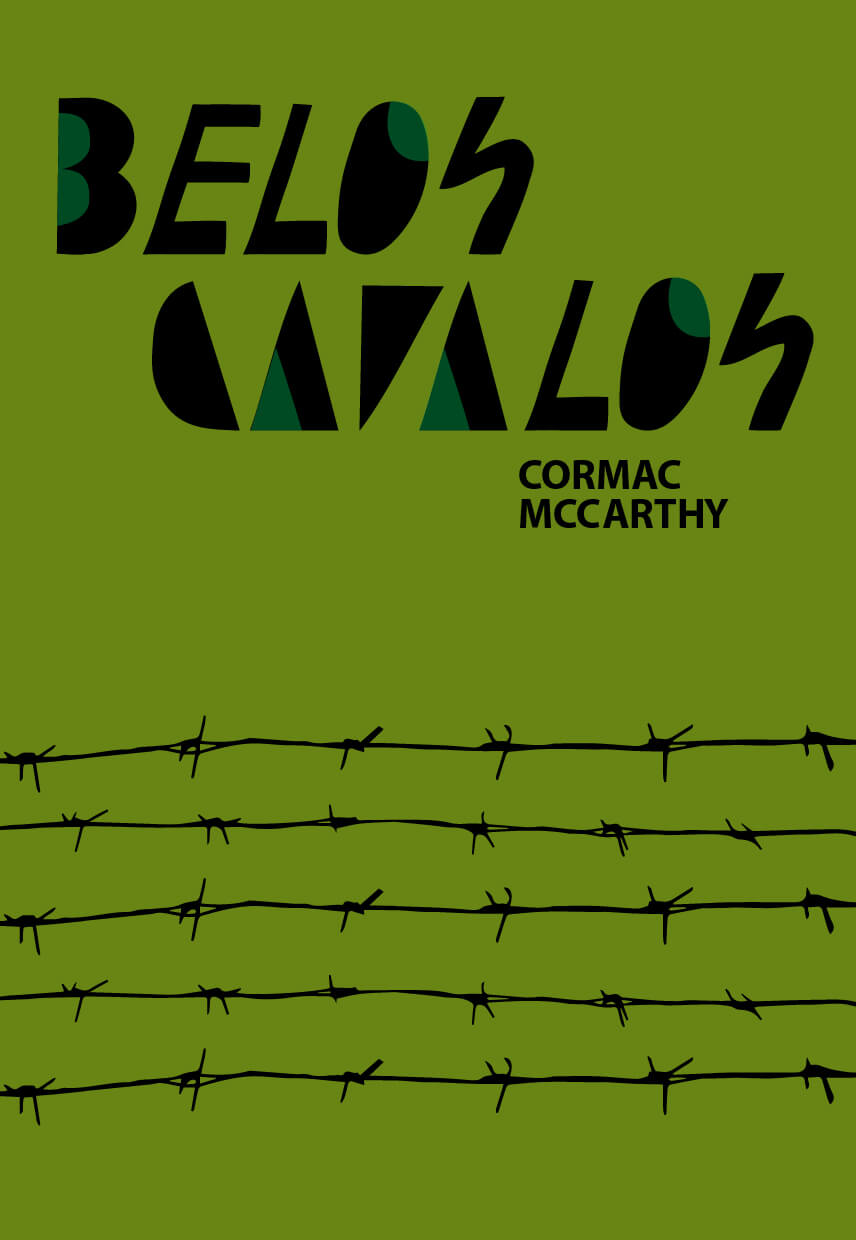
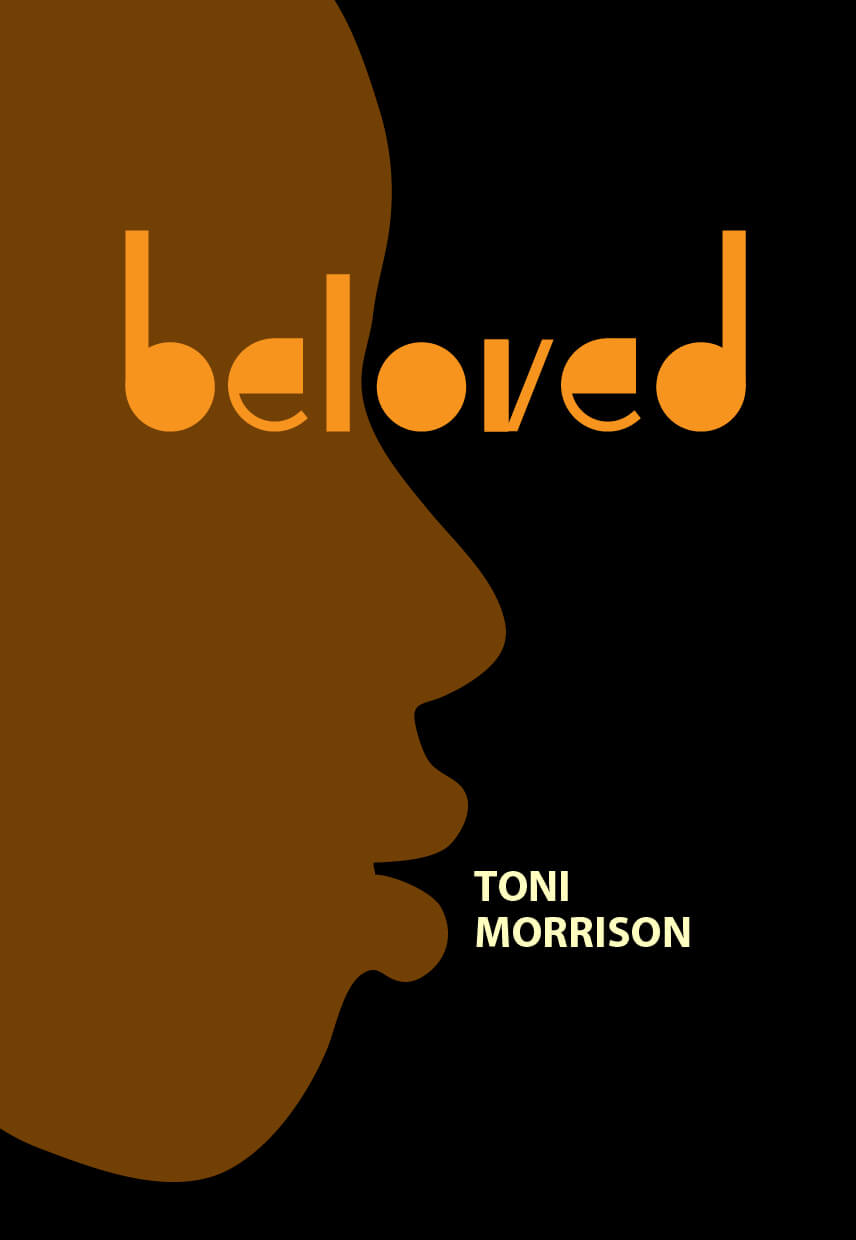
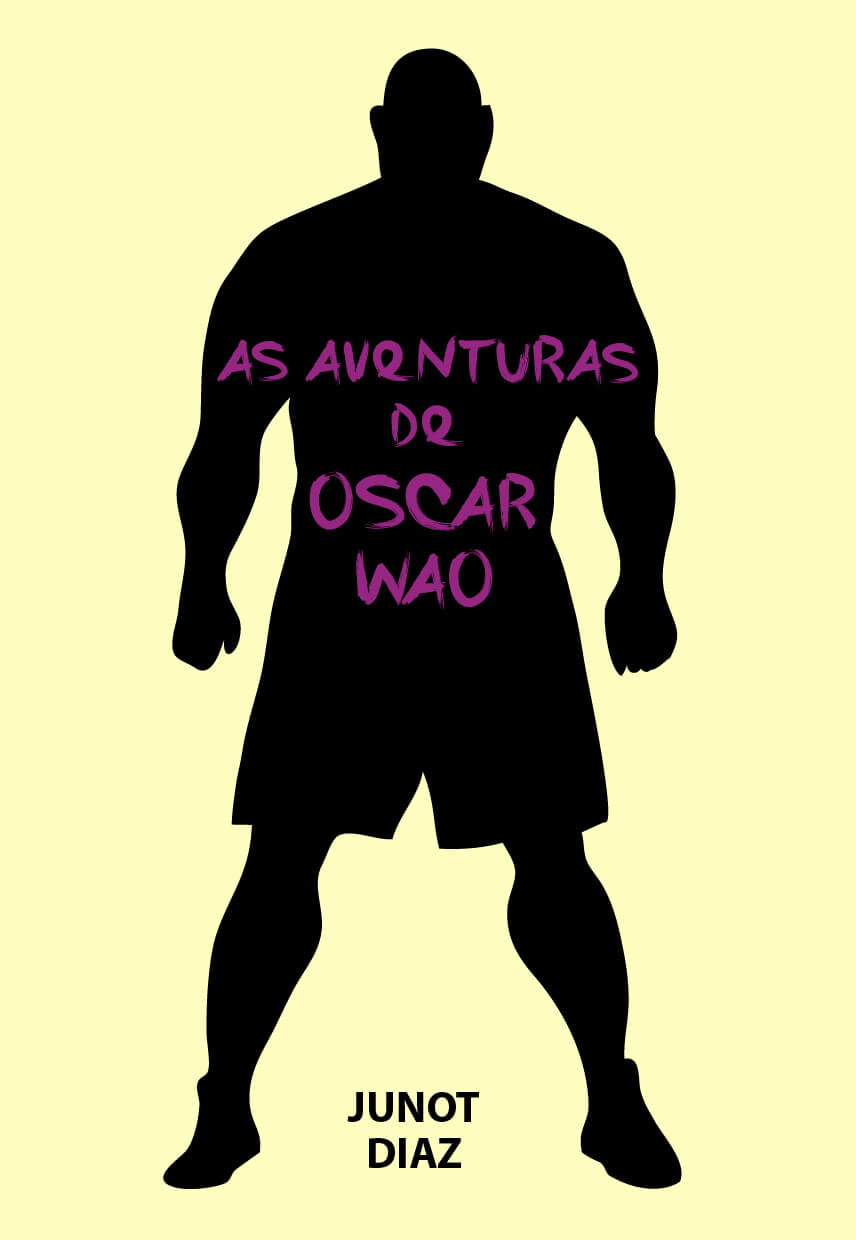



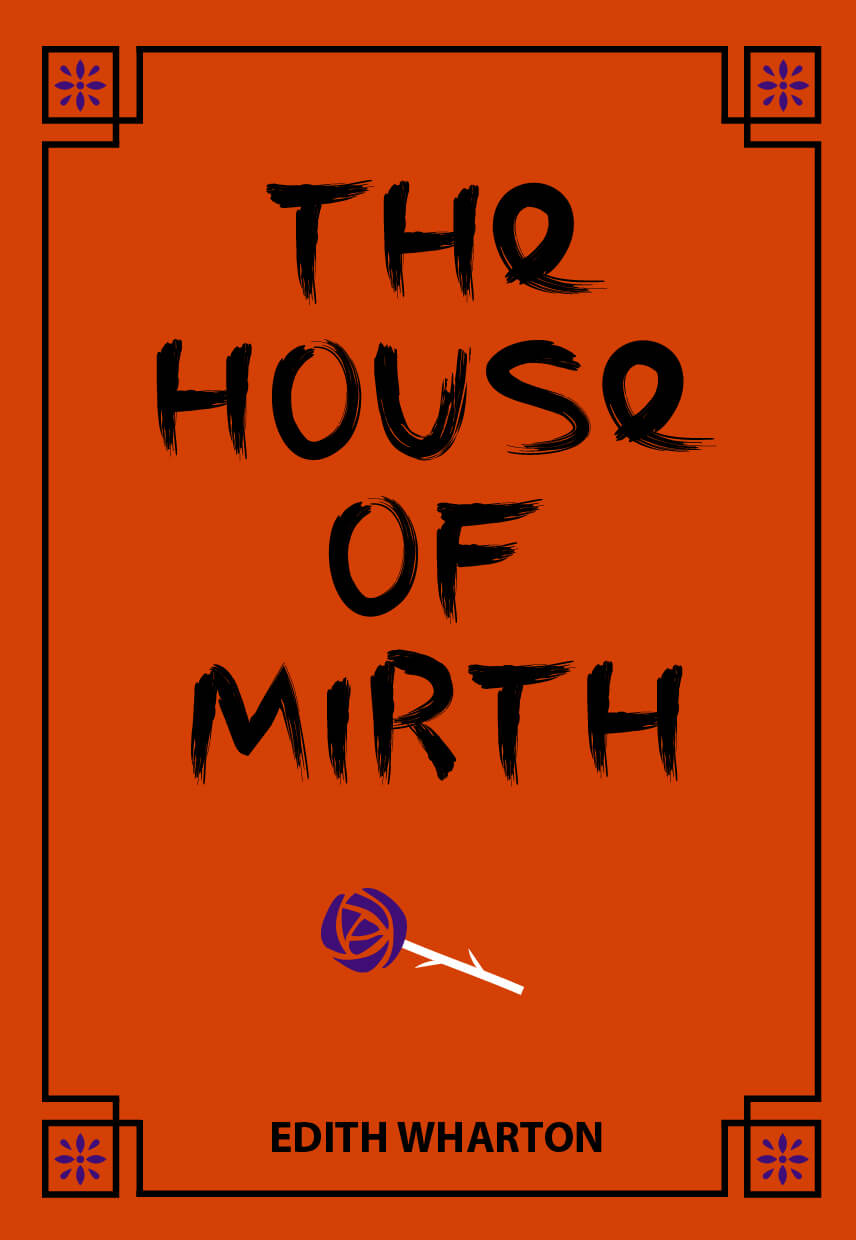



Comentários