Perto de uma escola, junto com as últimas folhas que caem das árvores, há papel a voar. Outras folhas, brancas, de tamanho A4 e arrancadas de um bloco. Em cada uma está o desenho de uma figura humana, homens e mulheres que replicam a diversidade étnica do país. Há negros, brancos, louros, morenos, índios, de olhos em bico, amarelos, esquimós, de cabelos lisos ou aos caracóis, compridos ou rapados. Tudo muito garrido e bastante carregados os traços que os distinguem uns dos outros. São desenhos de criança, mas não se vê nenhuma por perto. As folhas voam na rua quase deserta de uma pequena cidade na margem direita do rio Hudson como um símbolo estranho, duas semanas após a vitória de Donald Trump e na última quinta-feira de Novembro, dia de Acção de Graças, data em que no Canadá e nos Estados Unidos se agradecem as colheitas e se pede pelas do ano que se segue. O ambiente é uma mistura de silêncio e bulício calmo. Cheira a lenha, a açúcar queimado, a manteiga derretida. Nada indicia o “mal-estar típico de Jersey — o inextinguível anseio por outros lugares”, como o definiu Junot Díaz em A Breve e Assombrosa Vida de Oscar Wao (Porto Editora), romance centrado na figura de um rapaz de Santo Domingo, República Dominicana, é alvo de uma maldição histórica, que imigra para os Estados Unidos atrás da família. A partir de Oscar Wao, Díaz explora a diáspora e a condição de imigrante num país onde em 2014, segundo o Migration Policy Institute, organização independente que se dedica ao estudo dos movimentos migratórios no mundo, viviam 42,4 milhões de imigrantes.
Estamos em território de Oscar Wao. Norte de New Jersey, entre blocos de apartamentos, oficinas de automóveis, armazéns, centros comerciais, vias rápidas, bombas de gasolina, centros históricos com restaurantes de cadeias multinacionais, lojas com anúncios em espanhol, chinês, italiano, português; igrejas católicas e protestantes; supermercados com produtos japoneses, das Caraíbas, do Médio Oriente. As cidades sucedem-se, coladas como um território único de onde, nos pontos mais altos, ou à beira da água, se avista o skyline de Nova Iorque. Há uma ginga do sul que contamina a linguagem, vocábulos que se misturam e adaptam entre Paterson, a cidade para onde Wao se muda e Perth Amboy, mais a sul, na escrita de Díaz, “um aglomerado urbano conhecido em todo o lado pelos negros como Negropolis One”.
Dominicano-americano, Junot Díaz nasceu em Santo Domingo e, como Oscar Wao, chegou aos Estados Unidos muito novo. Tinha seis anos. Cresceu nesses bairros periféricos de New Jersey, mais precisamente em Parlin, cidade natal de Jon Bon Jovi, perto de imigrantes vindos da sua e de outras ilhas das Caraíbas. Muitos, fugidos a regimes de ditadores como Rafael Trujillo, o homem que governou a República Dominicana desde 1930 até ao seu assassinato em 1961. Imigrantes ou refugiados? Ambos. “É uma condição muitas vezes difícil de distinguir”, refere ao P2 Edwige Danticat, escritora, natural do Haiti, outro país que viveu uma longa ditadura no século XX com François Duvalier, o Papa Doc (entre 1957 e 1971), e depois da sua morte, com o filho Baby-Doc, Jean-Claude Duvalier, até 1986. Ela, com Junot Díaz, está entre as vozes mais estimulantes da nova literatura feita em território americano. Um e outro são imigrantes, e os dois com dupla nacionalidade. Com Teju Cole, Roxane Gay, Chimamanda Ngozi Adichie, Jumpha Lahiri, integram uma longa lista de escritores que transportam na sua identidade americana uma experiência de fora. E entre eles Junot Díaz foi uma espécie de pioneiro.
Publicado em 2007, A Breve e Assombrosa Vida de Oscar Wao fala da imigração como ninguém antes o fizera, cruzando identidade, linguagem, passado e presente, muitas referências à ficção científica, à cultura pop, música, cinema, numa mestiçagem que desmonta o retrato pejorativo do imigrante hispânico. Nada daquilo soava a folclore. O livro ganhou o Pulitzer em 2009. “Parte de um indivíduo, mas é uma história universal de repressão, de sistemas corruptos, que faz parte do curso da história para muitos de nós que vivemos aqui. Encontramos ali muita experiência da América Latina, desde a escravatura. O livro foi publicado no fim da era Bush e lembro-me de achar que estávamos muito resignados face ao mundo em que vivíamos, The Patriot Act [decretado por George W. Bush após o 11 de Setembro, permitia a intercepção, por parte dos serviços de segurança dos EUA, de chamadas telefónicas ou emails a quem fosse considerado suspeito de actos de terrorismo, fosse estrangeiro ou americano, sem necessidade de autorização judicial]. O livro não era exactamente sobre esse período, mas despertou também para isso”, refere Edwidge Danticat.
Junot Díaz nasceu em 1968, sete anos depois da morte do ditador dominicano, mas a maldição que originou Trujillo não acabou — nem tinha começado — com ele. Era uma maldição ancestral, com a idade da escravatura, chamam-lhe “fukú”, e o narrador do livro descreve-o assim: “Dizem que chegou de África transportado nos gritos dos escravizados; que era a sentença de morte dos Taínos, soltada no exacto momento em que um mundo perecia e outro se iniciava; que era um demónio arrastado para a criação através da porta dos pesadelos que foi escancarada nas Antilhas. Fukú americanus, ou, mais coloquialmente, fukú — geralmente, uma maldição ou uma condenação de um qualquer tipo; mais especificamente a Maldição e a Condenação do Novo Mundo.”
Ana não sabe o que é o fukú, ou “talvez”, não tem a certeza. Vive em West Orange, aglomerado de vivendas unifamiliares onde é bem vincada a fronteira entres os mais ricos e os mais pobres. Pelo tamanho das casas, do jardim, pelos carros estacionados, o modo como as ruas estão mais ou menos limpas. É neta de dominicanos, e já ouviu falar “horrores” do regime de Trujillo. O avô “conseguiu” sair. “Tinha medo que o matassem por perceber que não gostava de Trujillo e conheceu aqui a minha avó”, conta, sintetizando um passado do qual herdou muitas palavras, a cor mulata e o nome. Enfermeira num hospital ali perto, sabe quem é Junot Díaz, uma “celebridade que fez respeitar os dominicanos neste país”, refere, dizendo-me mitad mitad, dominicana e americana. Votou no dia 8 de Novembro? “Sim”, responde, e baixa os olhos dando um gole no café que traz na mão. “Espero que ele seja um mentiroso e não faça nada do que disse.” O discurso de Díaz tem sido diferente e pode dar uma resposta à falta de resposta de Ana sobre o que aí pode vir. Num artigo em forma de carta publicado na revista New Yorker, Díaz respondia a um “e agora?” com a necessidade de uma “esperança radical”. “… Essa foi também a pergunta dos meus alunos. E agora? Respondi-lhes tão mal como te respondo, temo. E agora sento-me aqui a meio da noite, numa nova tentativa. E agora? Bem, primeiro e antes de tudo, precisamos de sentir. Precisamos de nos relacionarmos corajosamente com a rejeição, o medo, a vulnerabilidade que a vitória de Trump nos causou sem nos desviarmos nem cairmos numa dormência ou no cinismo.”
Na mesma revista, também em reacção à vitória de Trump, outra escritora justificava os resultados trazendo outro argumento para a balança: a raça, a cor, a identidade. Chama-se Toni Morrison mas também lhe chamam “a consciência da América”.
Se Junot é herdeiro do fukú, Morrison descende da escravatura e a América partilha o passado de ambos em todo o seu território. É essa história que um e outro não querem fazer esquecer através da literatura que produzem e que está colada à realidade do país. De norte a sul, a partir de cada história individual. Para perceber isso, basta caminhar com o sentido de um caçador de rua, como o descreveu Virginia Woolf no ensaio Street Haunting (1930), imaginando as vidas dos estranhos por quem se passa. Só que em vez de Londres temos os imensos Estados Unidos da América em 2016.
Identidade por um hífen
Ouve-se um som baixinho, um murmúrio que parece música cantada e vem de uma porta aberta. Não se vê lá para dentro, está escuro, mas só até determinado ângulo. Um passo à frente e afinal não é uma porta mas uma entrada estreita para outra rua; é mais um beco onde tudo faz eco e o murmúrio reverbera até se revelar, depois da curva logo ali, no corpo de uma mulher. Está sentada nuns degraus sujos e os ombros mexem-se ao ritmo daquele som que afinal é um choro. E continua, imutável, ritmado, alto. Há quem passe. Um rapaz quase a toca enquanto caminha e come, gestos muito lentos, levando o garfo ora à boca ora à caixa de papel onde transporta a sua refeição. Há mais gente. Uns fumam encostados às paredes grafitadas, outros consultam os telemóveis e ainda outros caminham, mãos nos bolsos ou sacos nas mãos. Ela está parada e chora.
Dorchester, sul de Boston, é um dos bairros mais antigos da cidade. Fundado por imigrantes europeus no século XVII, hoje parece abandonado por quem o criou. Há muitos edifícios em ruínas e uma população que continua a ser imigrante e agora chega da Ásia, América Latina, África. A maior parte dos residentes é, no entanto, afro-americana, terminologia tida como correcta nesta parte do mundo para designar aqueles que descendem dos que um dia vieram de África e se tornaram americanos, ou, dito de outra forma, os que chegaram em navios como força de trabalho escravo, têm pele escura e transmitem ainda muita culpa. Como se diz isto tudo numa palavra? Por agora há esta, resume uma identidade complexa, ambígua e é cortada por um hífen: afro-americano.
“Neste país, 'americano' significa branco. Tudo o resto é para hifenizar”, disse Toni Morrison, Nobel da Literatura em 1993, escritora, activista pelos direitos dos negros, das mulheres, dos imigrantes. “A palavra americano está profundamente associada à raça. Identificar alguém como da África do Sul é dizer muito pouco; precisamos do adjectivo 'branco', 'preto' ou 'de cor' para tornar o seu significado mais claro. Americano significa branco e os africanistas esforçam-se para que o termo seja aplicado com a etnia e hífen depois de hífen, depois de hífen”, lê-se em Playing at the Dark: Whiteness and Literary Imagination, livro onde Morrison apresenta a criação da identidade racial como resultado de uma divergência nacional e linguística, histórica e geográfica. Cruza todo o território americano e tem atravessado o tempo. Os discursos adaptados a cada período histórico reflectem apenas um modo diverso de nomear essa realidade.
Ter uma identidade por um hífen, como a define Morrison, é trazer um acrescento à experiência modelo, ser identificado como um não original. A América com hífen integra e exclui, identifica o outro, mas trata-o como diferente. Neste sentido, ser afro-americano não é um nome simples, é uma identidade complexa a que resistem, por exemplo, os imigrantes que chegaram aos Estados Unidos vindos de África na onda de imigração que começou em meados da década de 1960 e se prolonga. Ao afirmar não serem afro-americanos, a mensagem que querem passar é a de que não são herdeiros da escravatura na América. A sua experiência é outra.
Difere, por exemplo, da de Toni Morrison. Natural do Ohio, nasceu em 1931 na cidade de Lorain, no Norte daquele estado. Descende desses africanos que foram escravos na América e pôs essa identidade numa obra marcada pela experiência de ser negro num país onde historicamente isso significa estar no fundo da escala social. Ser negro, na obra de Morrison, tornou-se metáfora de estar à margem, ser excluído, viver numa casa em que se é rejeitado e se luta pela aceitação, como a menina negra que sonhava ter olhos azuis da primeira história que escreveu e transformou em romance em 1970, The Bluest Eye. Ou, de outra maneira, por Amy, a rapariga branca e andrajosa de um dos seus romances mais marcantes, que apareceu nas margens do rio Ohio a caminho de Boston porque lhe disseram que havia lá uma loja com veludo, um tecido que “era como o mundo acabado de nascer”. Se caminhasse sempre para nordeste desde o rio que naqueles dias do século XIX separava o mundo escravo do mundo livre, chegaria lá. O romance chama-se Beloved, foi publicado em 1987, e tornou-se um hino à liberdade.
Outra vez “e agora?”
A mulher que chora na terra do veludo onde Amy queria chegar é uma entre os 34 milhões de afro-americanos que representam 12,2% da população dos Estados Unidos (Census de 2010) e detêm no seu conjunto 2,6% do total da riqueza do país (estudo publicado no Huffington Post em 2015). Dizem-na louca, por isso deixam-na na sua ladainha. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental, num período de 12 mesesm 27% dos americanos sofrem ou irão sofrer de distúrbios mentais, o que põe os Estados Unidos como o país com maior prevalência deste tipo de doença no mundo. A isto junte-se o facto de ser o que tem o maior índice de desigualdade em relação a rendimentos, com 43,1% de pobres, ou seja, 13,5% da população. Em Dorchester, a percentagem de pobreza era, em 2013, quase o dobro da nacional: 23,5%. É um bairro pobre da quinta cidade mais rica dos Estados Unidos.
Porque chorava aquela mulher?
Mil e 400 quilómetros a sul, em Cincinnati, alguém construiu, pelo terceiro dia consecutivo, o seu abrigo num descampado entre uma via rápida e um rio. Está muito frio, temperatura quase negativa. A uns 50 metros, há árvores, edifícios com arcadas, pontes, viadutos e mais calor, mas aquela pessoa escolheu abrigar-se no meio de nada. Perto, só um canteiro com erva alta e muitas rosas ainda vermelhas. Será um homem, a ver pelos sapatos grandes, simetricamente arrumados lado a lado fora das mantas que lhe cobrem todo o corpo. A sua identidade está invisível. É um sem-abrigo num bairro de população imigrante, maioritariamente latina. As estatísticas fornecidas pelo estado do Ohio referem 60 mil hispânicos na chamada “grande Cincinnati” e chegaram sobretudo nos últimos dez anos, maioritariamente do México e Guatemala. Desses, entre 80 e 90% estarão ilegais. Fazem todo o tipo de trabalho não qualificado, grande parte na indústria de transformação.
O que liga o homem que dorme no meio do nada à mulher que chora nos degraus de uma rua estreita? Vivem no mesmo país e nada se sabe das razões de um e do outro, da subjectividade de um e do outro. É preciso recorrer à imaginação para lhes dar sentido num colectivo. “O sujeito individual não tem importância, a não ser quando contribui para a conclusão final antecipadamente determinada. As vidas individuais fora de uma tão grande narrativa [a da História] são muito mais caóticas, contraditórias e imprevisíveis”, escreveu Toni Morrison num ensaio acerca do modo como a História, enquanto disciplina, tem negligenciado o papel do indivíduo, cabendo ao escritor, ou à Literatura, dar-lhe um sentido: aquele homem e aquela mulher são duas histórias por contar e só por isso já poderiam ser objecto da obra de Toni Morrison, que escolheu escrever sobre quem vive nos intervalos, na margem, no silêncio do anonimato. Um dos seus romances mais simbólicos decorre justamente ali, nas margens do rio Ohio, fronteira natural e civilizacional entre dois estados, Kentucky e Ohio, ou o Sul da escravatura e o Norte progressista, o “Norte livre. Norte Mágico. Norte benevolente e acolhedor”, como acreditava Paul D., personagem de Beloved, romance que se situa no passado para explicar um presente ainda de estigma. Para um escravo do Kentucky, bastava fugir e atravessar o caudal para ficar com a decisão sobre o seu corpo.
Publicado em 1987, Beloved (D. Quixote, 2009) recria a história real de uma escrava do século XIX. No Inverno de 1853, Margaret Garner fugiu da fazenda onde trabalhava e atravessou o rio gelado até Ohio. Menos de um mês depois, os seus proprietários encontraram-na e aos quatro filhos e foram resgatá-los ao abrigo do Fugitive Slave Act, um acordo legal entre os estados do Sul e os do Norte onde estes se comprometiam a entregar os escravos fugitivos caso fossem capturados pelos seus donos. Nesse momento de desespero, Garner cortou a garganta à sua filha de dois anos. Queria poupar as crianças à vida de escravatura que conhecia bem. E foi a partir de Margaret Garner que Toni Morrison criou Sethe, a protagonista do que seria o seu quinto romance. Como Margaret Garner, Sethe atravessa o rio, grávida, e do outro lado encontra a sogra e os três filhos. E, como Garner, mata uma filha, Beloved. Mas na ficção, Sethe regressa a casa depois de uma pena de prisão breve. A sua punição é ser prisioneira do fantasma de Beloved. A casa fica no 124 de Blustone Road, morada imaginária, metáfora da casa que abriga e pune. A América?
O livro é uma análise cruel e pungente dos efeitos da escravatura nos Estados Unidos e do modo como esta faz parte da identidade americana. Beloved tornou-se uma metáfora de dignidade e de liberdade. Sethe terá de lidar com o seu passado pessoal e a América com a sua História.
Lê-se Beloved e tudo parece vir sempre de forma cíclica. Já no rescaldo da vitória de Donald Trump, Morrison, amiga de Barack Obama e apoiante de Hillary Clinton, publicou um artigo na New Yorker sob o título Making America White Again (Fazer a América Branca Outra Vez), onde escrevia: “Este plano é sério. Todos os imigrantes nos Estados Unidos sabem (e sabiam) que se quiserem ser realmente autênticos americanos têm de diminuir a sua lealdade para com os seus países natais e olhar isso como algo secundário, subordinando-se de modo a enfatizar a sua condição de brancos. Ao contrário de qualquer nação na Europa, os Estados Unidos têm nos brancos a sua força unificadora. Aqui, para muitas pessoas, a definição de ‘americanicidade’ é a cor.” E continua: “… na América de hoje, no pós-legislação de direitos civis, a convicção das pessoas brancas acerca da sua superioridade está a perder-se. A perder-se rapidamente. Há ‘pessoas de cor’ por todo o lado, ameaçando apagar a sua há muito apreendida definição da América. O que é que se seguiria? Outro Presidente negro? Um senado predominantemente negro? Três juízes negros no Supremo Tribunal? A ameaça é assustadora.” Assim se explica também o resultado da eleição: “De modo a limitar a possibilidade dessa mudança inadmissível, e a condição branca como formadora da identidade nacional, um número de americanos brancos está a sacrificar-se a si próprio.” A 8 de Novembro de 2016, Trump ganhou com 58% do voto branco, 8% do negro, 29% do hispânico e 29% do asiático. No Ohio, Trump teve 52% dos votos e em Cincinnati, a terceira maior cidade do estado, com 49% de população branca e 44% de negros, ganhou Clinton, também com 52%.
A cidade de todas as cores
Desce-se mais 2400 quilómetros no mapa. Florida, Miami. Aterra-se com aplausos noutro estado eleitoralmente decisivo onde o voto urbano foi diferente do rural e do suburbano. É dia 10 de Novembro, passam menos de 48 horas do anúncio dos resultados. Sandro tenta sintonizar a televisão no restaurante que serve jantares a dois ou três turistas. Quando a imagem finalmente aparece, vêem-se manifestações de protesto junto à Trump Tower, na 5.ª Avenida de Nova Iorque. Sandro vira o rosto que antes sorria e de repente se fechou. Procura um interlocutor. Quando o encontra diz: “Quem me dera estar ali.” Porquê? “Porque não votei, pensei que não fosse preciso. A minha família votou e eu não. Sinto-me muito culpado.” Tem 22 anos, trabalha num hotel, pertence à terceira geração de uma família de imigrantes italianos, uma minoria entre os hispânicos e caribeños que fazem de Miami a grande capital da América do Sul na América do Norte e o espanhol mais falado do que o inglês. Cerca de 70% da população é hispânica, 19% é negra, pouco mais de 11% é branca não-hispânica e o resto originária de todo o mundo. Como Nova Iorque, San Francisco, Boston, San Diego, Los Angeles ou Chicago, é das cidades mais multiétnicas da América, sinal da promessa da globalização como coisa boa, da possibilidade da casa comum — e não da casa para estrangeiros, como um dia Toni Morrison se referiu à estranheza de viver num lugar onde não se pertence. Sandro é de Miami, da minoria branca de Miami, cidade onde Clinton ganhou com 66,5% dos votos. Trump ganhou no estado da Florida com 48%. “Miami é diferente”, justifica Sandro. “Mas é o resultado total que conta…”, lamenta.
Sabemos mais de Sandro do que da mulher que chorava em Boston, dos desenhos que voavam em New Jersey e do homem que escolheu dormir no descampado em Cincinnati. Alguém quis saber a sua história, houve um “porquê?”. É uma história que no presente é sobre angústia e culpa e que se tenta contar e perspectivar a partir de outra pergunta que o próprio Sandro formula e que tantos outros vão fazendo, como um eco. Parece o único audível por esses dias: “E agora?” Katherine Wakefield, americana, branca, natural de Miami também faz coro. “Não entendo, ou melhor, consigo entender. Se andar duas horas de carro para norte, vai encontrar um ambiente completamente diferente. E dizem que os americanos pobres do Midwest estão revoltados. Que Trump ganhou por isso. Talvez. Mas eles têm muito mais condições do que estas pessoas que chegam, estranhas ao país, mas enérgicas. São brancos, pretos, mulatos de todas as cores.” Ela é gerente de uma livraria independente, a Books and Books, com várias lojas na zona de Miami e forte ligação à comunidade local. “Vivi alguns anos na Alemanha e sempre que chegava ao Aeroporto de Miami sentia-me em casa. É esta diferença que faz disto casa. E agora? A interrogação que resume o tal sentimento de precariedade sentido nas identidades que na América se definem por um hífen. A de Junot Díaz, dominicano-americano, de Toni Morrison, afro-americana, de Edwidge Danticat, haitiano-americana, de Sandro, italo-americano.
“O hífen também pode ser um privilégio. Eu não me considero apenas americana. Sou haitiano-americana e se me tirassem o hífen estaria limitada”, diz a sorrir Edwidge Danticat. Ela dispensa apresentações no mundo literário americano, apesar de ter nascido em Port-au-Prince, capital do Haiti, há 47 anos. Aos 12 foi para Nova Iorque viver com os pais. A sua obra tem como ponto de partida a sua biografia e as histórias que a formaram, que, como as da infância de Toni Morrison ou de Junot Díaz, lhe foram sendo contadas oralmente. Eles são os primeiros nas suas linhagens familiares a poderem fazê-lo por escrito. Danticat tem seis romances publicados, ensaios, contos, crítica (nenhum traduzido em Portugal), muitos prémios literários e em 2009 foi-lhe atribuído o MacArthur Fellows Progam Genius, que pretende premiar e dar condições de progressão a indivíduos considerados com capacidade excepcional.
Escolheu viver em Little Haiti, um bairro de imigrantes haitianos em Miami, e em 2006 aceitou o convite de Toni Morrison para pensar um tema: a casa na perspectiva dos estrangeiros. Morrison fora a convidada anual do Louvre, em Paris, para levar o seu olhar àquele museu francês e escreveu um ensaio, Étranger Chez Soi, que deu origem a conferências e será um documentário em que Danticat está a colaborar. “Pensei nessa casa como o sítio onde todos passamos tempo juntos. E depois, quando ela me convidou a fazer uma leitura sobre o tema na Universidade de Princeton, achei que era bom unir isso à minha experiência como imigrante”, conta, enquanto pede um café fraco — “aqui ele é forte”, comenta em jeito de aviso na esplanada de um bistro haitiano, perto da casa onde vive com o marido e as duas filhas.
Gente como nós
É sábado, hora de almoço. A música e o tom das conversas à mesa competem por decibéis entre si. Há motorizadas a passar na rua, gente de chinelo no pé às gargalhadas. As árvores fazem sombra a bicicletas, as moradias têm muitas cores. As Caraíbas poderiam ser ali. “E são”, ri Edwidge, que se diz uma “escritora acidental”. Outra vez como Morrison e Díaz. “Na história deste país, há muita gente como nós. Aos antepassados de Morrison, como aos meus, não era permitido moverem-se ou sequer aprender a ler. E agora aqui estamos nós, escritores. Venho de uma ditadura e de muita pobreza. Quase ninguém ia à escola. Por isso refiro que estou acidentalmente na literatura. Conheço muita gente brilhante que nunca pôde aprender nada. Eu pude, com o meu passado, vindo de uma família rural pobre como a dos meus pais, que se mudaram primeiro para a maior cidade do seu país e daí para Nova Iorque, a grande cidade. Isto podia não ter sido assim. Estou aqui não porque sou super-especial, sou um acidente da literacia. E pôde porque saiu. Essa ideia foi desenvolvida em Create Dangerously: The Immigrant Artist at Work (2010). “Também estava muito interessada em reflectir sobre o modo como as pessoas chegam ao seu trabalho, como é que alguém decide ‘eu vou ser um artista’.” Aí, escreve: “O artista imigrante partilha com os outros artistas o desejo de interpretar e se possível refazer o seu mundo.” E cita Gabriel García Márquez acerca da morte em Cem Anos de Solidão. “Uma pessoa não pertence a um lugar até ter alguém morto no seu chão.”
Mas é Toni Morrison quem a guia, agora a partir da leitura que a Nobel da Literatura fez em Estocolmo, quando foi receber o prémio. Escreve Danticat citando Morrison: “O artista imigrante sabe ‘o que é viver nas margens das cidades que não podem suportar a nossa companhia, povoações que precisam do nosso trabalho mas expulsam as nossas crianças das suas escolas, vilas que querem as nossas doenças fora dos seus hospitais, grandes cidades que pedem aos nossos idosos, depois de uma vida de trabalho extremo, que façam as malas e vão morrer a outro lado.”
Em Little Haiti vive-se e morre-se como no Haiti e é lá que Edwidge quer estar apesar de poder estar em qualquer lado. “Gosto da ideia da extraterritorialidade aplicada à América, como a entende Morrison”, afirma, referindo os muitos movimentos de populações que fizeram o país, entre eles, o que moveu os negros de sul para norte, chamado “A Grande Migração”. Está contado em The Warmth of Other Suns: The Epic Story of America's Great Migration (2011), de Isabel Wilskerson. “Aconteceu mais ou menos desde os anos 30 até à década de 60, quando cerca de 55 milhões de pessoas se mudaram do Sul para o Norte”, sintetiza Danticat, que acrescenta: “O livro fala dessas pessoas que estão neste país há gerações e eram chamados 'imigrantes' ou 'refugiados', quando eram simplesmente cidadãos. Mas eram colocados ao nível dos recém-chegados. Se a cidadania significa alguma coisa, não se pode chamar a pessoas que estão aqui há gerações de migrantes 'refugiados' ou 'imigrantes'. E eu não sou uma refugiada como são muitos escritores que não podem voltar aos seus países, onde é perigoso viver. Não sou uma exilada política. Sou uma haitiana que vive na América, os meus filhos são também haitiano-americanos e talvez um dia lhes chamem afro-americanos ou black-americans.”
Como chamam a Trevor Noah, a recente estrela televisiva de 32 anos, natural de Joanesburgo, comediante e apresentador, que substituiu Jon Stewart no poderoso The Daily Show, o programa de entretenimento conhecido por informar mais pessoas na América do que a imprensa. Ele está a chegar a Miami para apresentar a sua biografia, Born a Crime (2016), onde conta a infância na África do Sul e depois a experiência de ser ilegal nos Estados Unidos. Chegou familiarizado com a linguagem da televisão que lhe chegava à África do Sul, mas só em terra americana teve a certeza de que a linguagem pode integrar ou separar, percebeu os sotaques e a diferença entre soar ou ser “familiar”, coisa que conhecia bem do apartheid no seu país. O racismo estava nos dois continentes. “A linguagem transporta uma identidade e uma cultura, ou pelo menos uma percepção disso. Uma linguagem partilhada diz: ‘Somos iguais.’ Uma barreira de linguagem diz: ‘Somos diferentes.’ […] O fantástico da linguagem é que podemos facilmente usá-la para fazer o oposto [do apartheid e de todas as formas de racismo]: convencer as pessoas de que elas são iguais. O racismo ensina-nos que somos diferentes por causa da cor da nossa pele. Mas porque o racismo é estúpido é facilmente enganado.”
Não apenas muros físicos
Quando uma personagem de Toni Morrison contou a Sethe o seu “passado indizível”, fê-lo na única linguagem que conhecia e que vinha carregada da diferença que se construiu entre os homens e que estava muito para lá dessa forma de dizer. Falava de uma mulher que ficou sem todos os seus filhos porque era assim. E quando outra antes de morrer lhe disse: “O único azar do mundo são os brancos”, estava a transmitir-lhe toda a sabedoria que tinha. Os brancos tinham-lhe tirado tudo. Edwidge Danticat lembra a passagem. Segue o conceito de História tal como Morrison a interpreta e chega ao presente pondo racismo e preconceito contra os imigrantes em paralelo. E agora? responde Danticat; “Acho que a imigração vai ser muito dura neste tempo. Não apenas pelos muros físicos que Trump diz que vai construir, mas também pelos muros psicológicos que já são visíveis nas pessoas. As pessoas que estão mais intransigentes com a imigração, que mudam a linguagem, o discurso. Se entrarmos em tempos economicamente mais duros, isso vai ser mais intenso. E não é só na América.” Ou naquela rua onde, garante, ainda pode provar todos os sabores das Caraíbas e ouvir as suas línguas. “Basta andar por aqui.” E, por exemplo, ouvir Ivory, um negro da Jamaica, a contar aos turistas a história de Miami, “Mayaimi, o sítio das águas”, diz, replicando um som indígena pelo qual também é conhecida a maior cidade da Florida, 440 mil habitantes numa área urbana de mais de cinco milhões (Census de 2015) na foz do rio Miami, integrada no país em 1896, e em 2009 a que tinha maior poder de compra.
Seguimos Ivory e percebem-se as camadas de que a cidade é feita. Continuam visíveis, identificáveis, ainda que contaminadas. Little Haiti fica quase colado a Wynwood, antigo bairro industrial com as fábricas a serem adaptadas a estúdios de artistas, galerias de arte, lojas de marcas de luxo onde nasceu o Miami Design District, uma das áreas mais exclusivas da cidade. Em frente à sede de campanha de Hillary Clinton, num prédio de um piso coberto de graffiti, Ivory lembra que ela esteve ali há poucos dias. “Agora perdeu, muita gente não gostou e ontem muitas pessoas juntaram-se aqui a manifestar o descontentamento pela vitória de Trump. Houve eleições, um vencedor e há pessoas zangadas a sair à rua. É a democracia a acontecer na América, minha gente”, grita Ivory, para que todos o ouçam.
E a cidade passa à nossa frente, perante nomes de bairros como Coconut Grove, Miami Beach, Coral Gables, a torre da Liberdade na Baixa, onde se registaram os primeiros refugiados cubanos, Little Havana, que se diz estar a ser cobiçada por investidores imobiliários. As torres que desenham o skyline estão mesmo ali, separadas por um viaduto e há quem diga que o núcleo cubano de Miami, onde vivem 75 mil pessoas, não resistirá à pressão. As pessoas arrumam-se em grupos, étnicos, sociais, nacionais. Em Little Haiti vivem quase 30 mil pessoas. “Sempre me senti parte da comunidade haitiana. Quando me mudei para cá, em 2002, era como estar no Haiti, agora já não é bem assim. A Prada está a dois quarteirões. Isto está muito gentrificado. É tudo uma questão de dinheiro. Estamos na Florida, um lugar muito vulnerável às alterações climáticas. Miami Beach, que costumava ser o grande lugar da sofisticação, pode ficar debaixo de água com uma chuvada. Aqui é mais alto, mais seguro, menos inundável”, sublinha Danticat acerca de uma das questões mais sensíveis ao longo da última campanha, depois de Trump afirmar que não vai cumprir os acordos internacionais sobre protecção ambiental. Desde 1960 que por ali o nível da água do mar aumenta suplantando todas as previsões. A cidade de Miami Beach tem um projecto de 400 milhões de dólares para fazer subir o nível das ruas, construir diques e barreiras que impeçam o que parece inevitável, como noticiou o New York Times em Setembro passado: o aquecimento global e o consequente aumento do nível do mar já começou a “inundar a costa”.
À distância de um metro, num dia de sol de Novembro, tudo parece tranquilo, mas há sinais de obras pelo sul de Miami. Muitas. A cidade parece estar a movimentar-se para norte e em altura. Sai-se do bairro que delimitava o perímetro destinado aos habitantes negros, vivendas de madeira com quintais junto a Little Haiti, e desce-se a pé. Há bodegas, pubs, bares, mercearias, padarias renovadas. Uma nova população está a chegar. Toda a gente parece cruzar-se por ali até Wynwood e, depois, o Miami Design District, que acaba com uma fronteira física: um viaduto debaixo do qual há uma paragem de autocarro. Um homem descansa no banco, a bicicleta na mão. Em frente passa uma família de judeus hassídicos e há um sem-abrigo a abrir uma lata de comida. Está calor e a sombra é bem-vinda. O autocarro vai para a baixa. Será sempre em frente, uns vinte minutos, meia hora depois, com muitas paragens. O bilhete custa 2,75 cêntimos, mas ninguém avisa que é preciso ter dinheiro trocado. O motorista olha para a nota de cinco dólares sem mexer um músculo. É um passageiro que entra ao mesmo tempo quem avisa que são precisas moedas. Vai cheio. Ao volante, o motorista começa a mostrar sinais de impaciência. Faltam 25 centavos. Tanto lhe dá. Ele cumpre ordens e 2,75 são 2,75. Não há turistas naquele autocarro. É para quem trabalha e não tem dinheiro para carro numa cidade que, como quase toda a América, promove o automóvel. Vão cabisbaixos, sem expressão. olham para o vazio ou para o telemóvel. Não se escutam conversas. Naquele momento estão parados a ver alguém contar moedas para poder seguir. Na última fila do autocarro, um homem levanta-se, traz a moeda que falta e volta ao seu lugar dizendo bem alto: “Welcome to America!” Qual a sua cor? “A cor da pele é a mínima informação sobre alguém”, disse Toni Morrison.




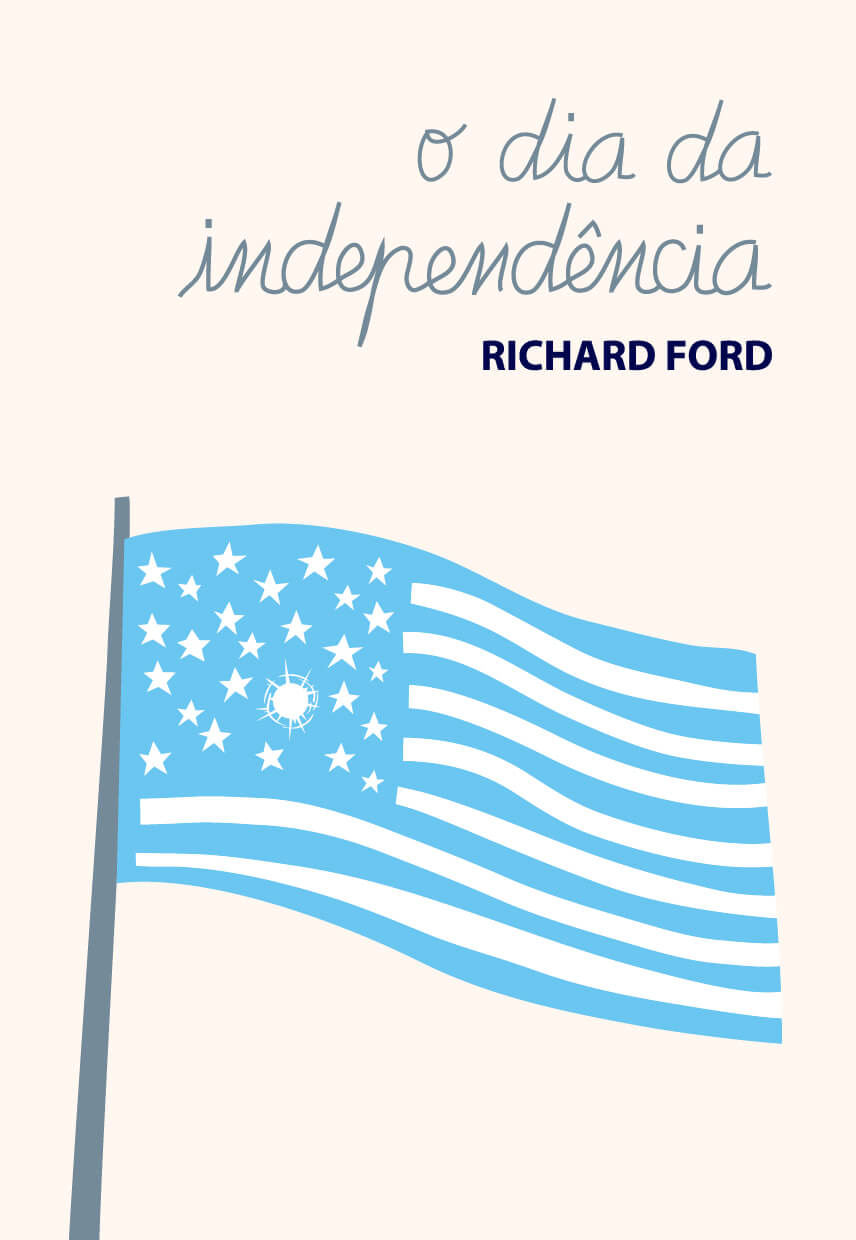

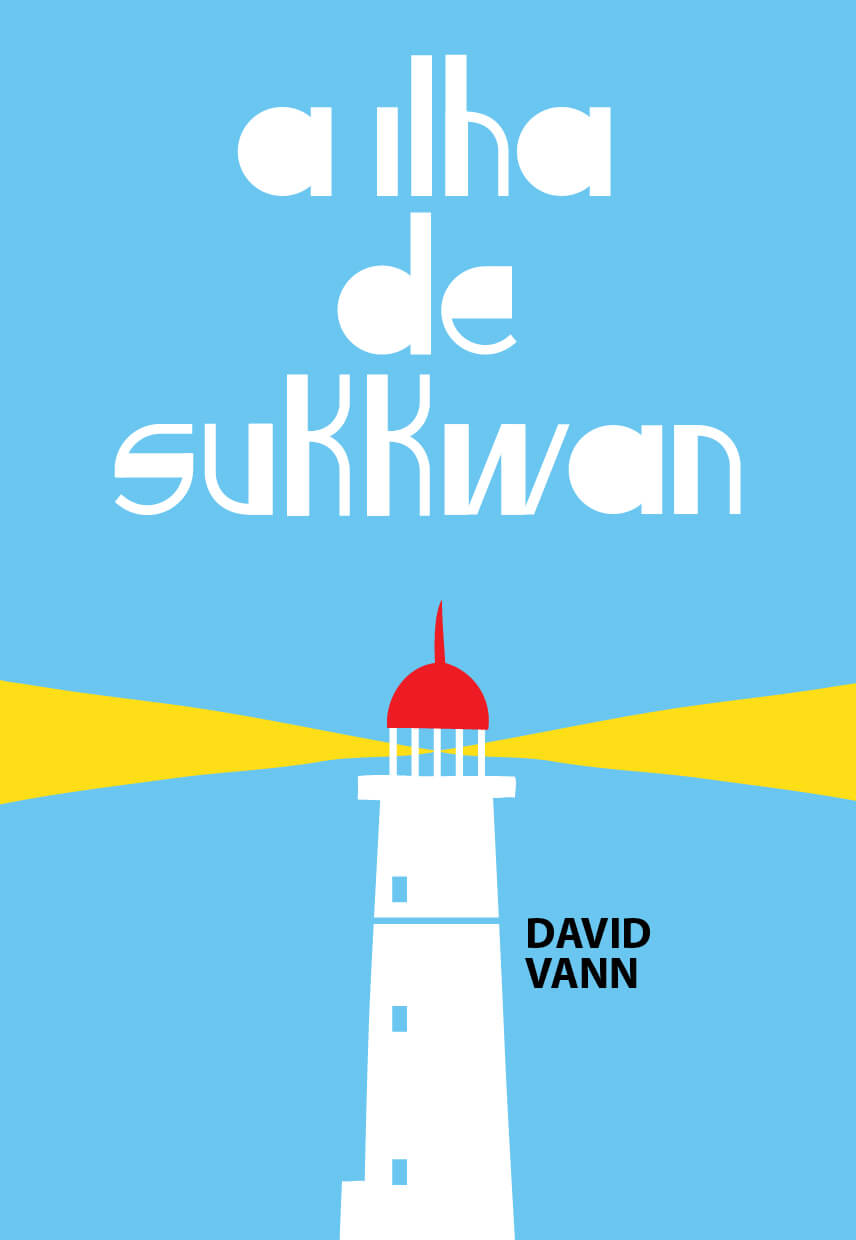
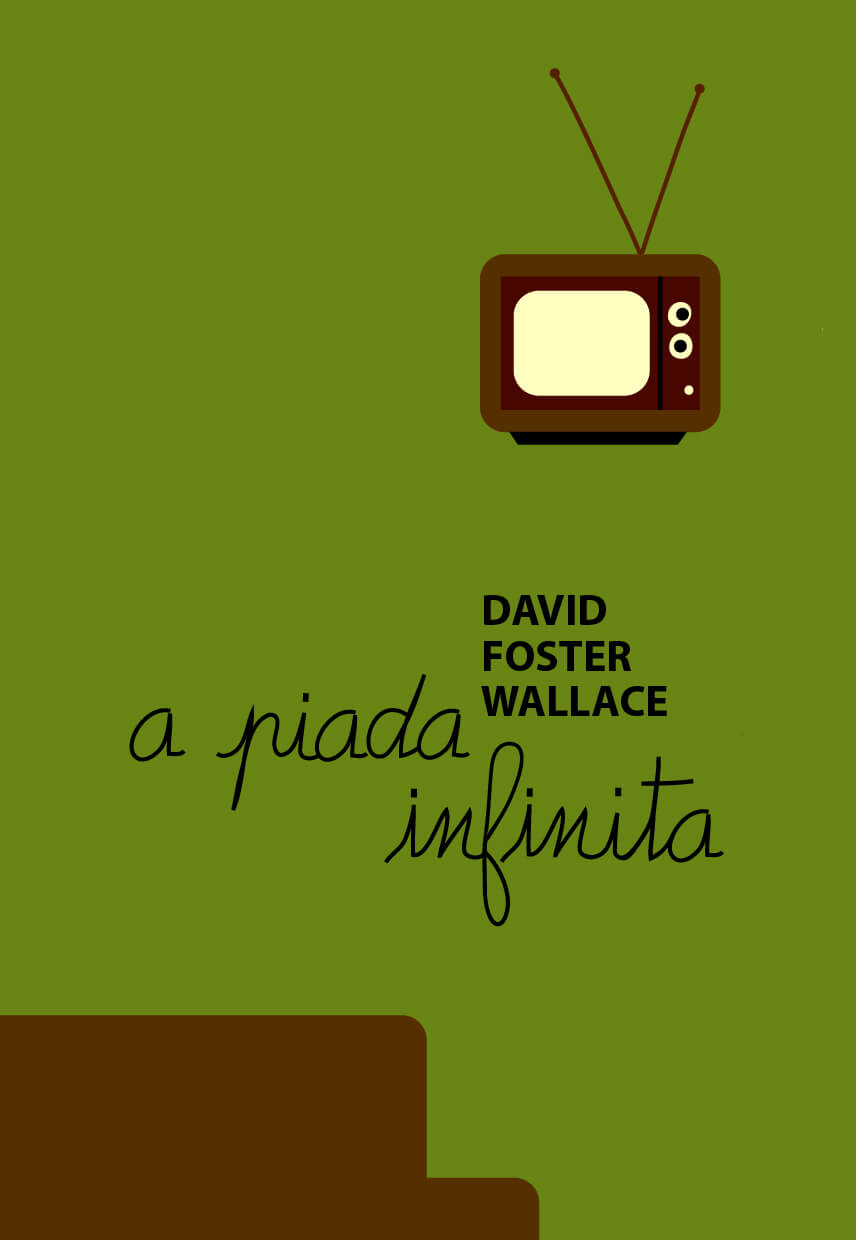


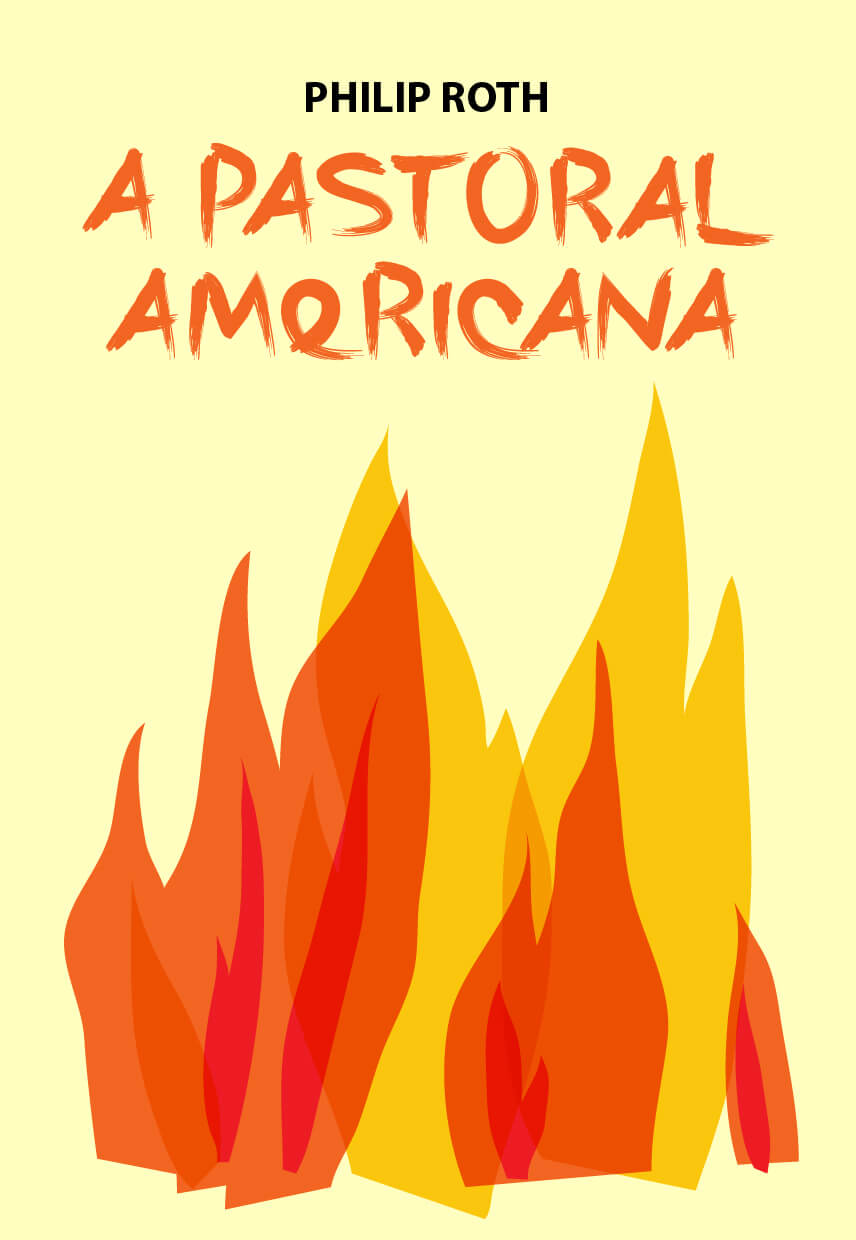
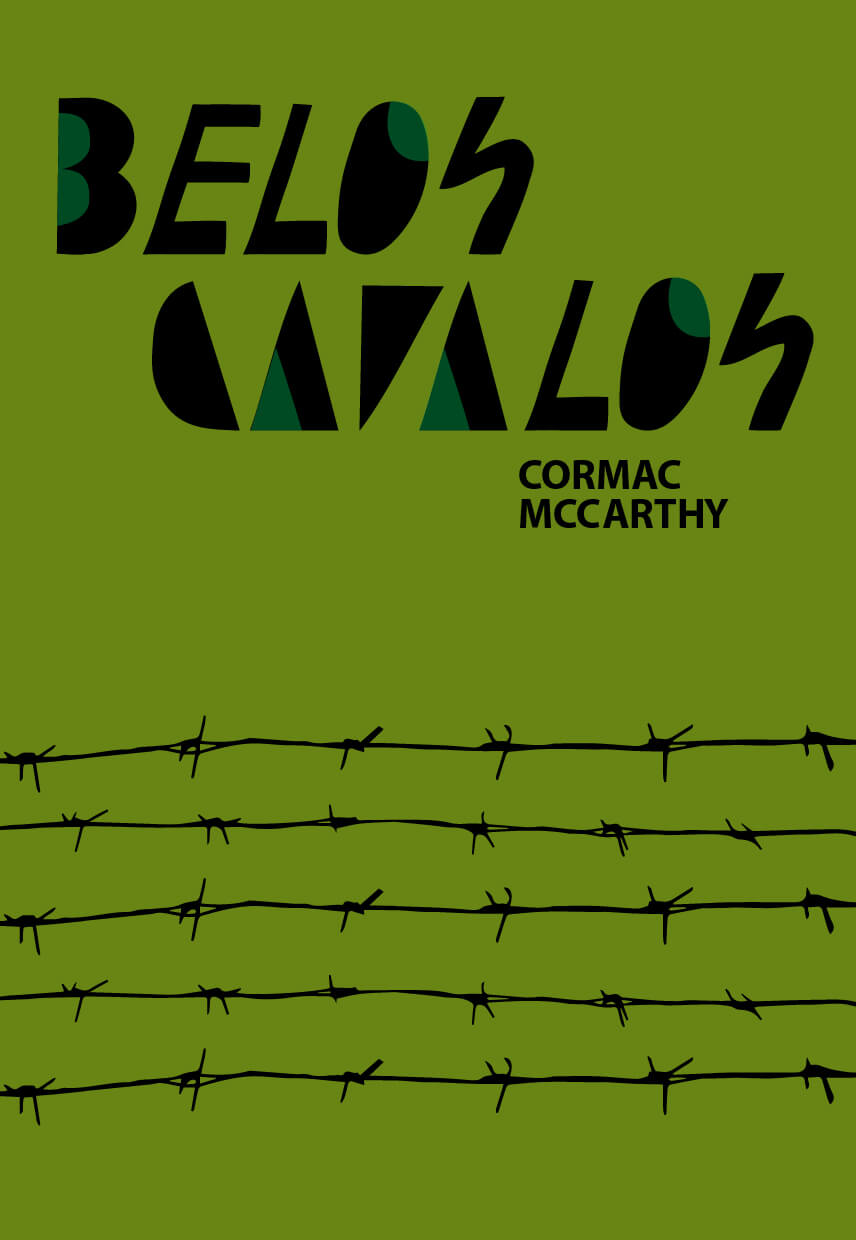
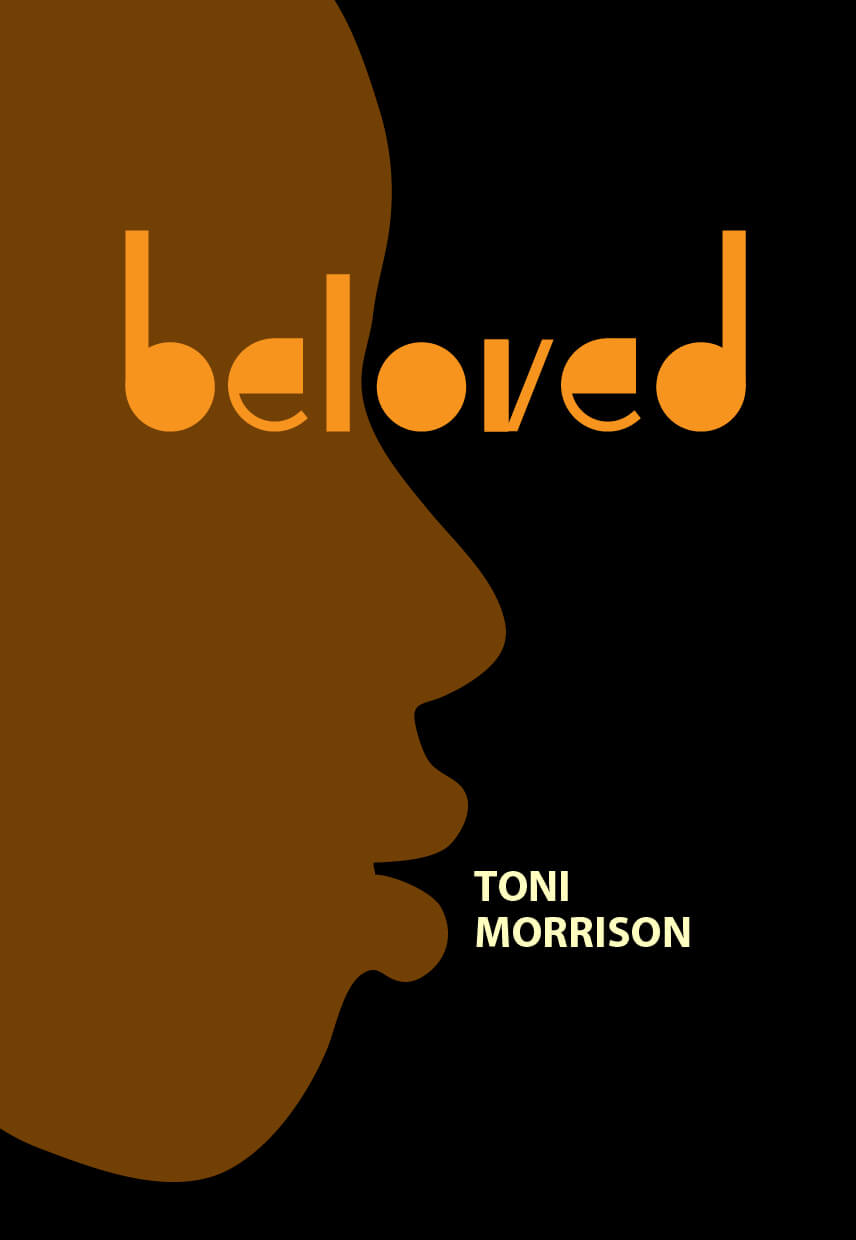
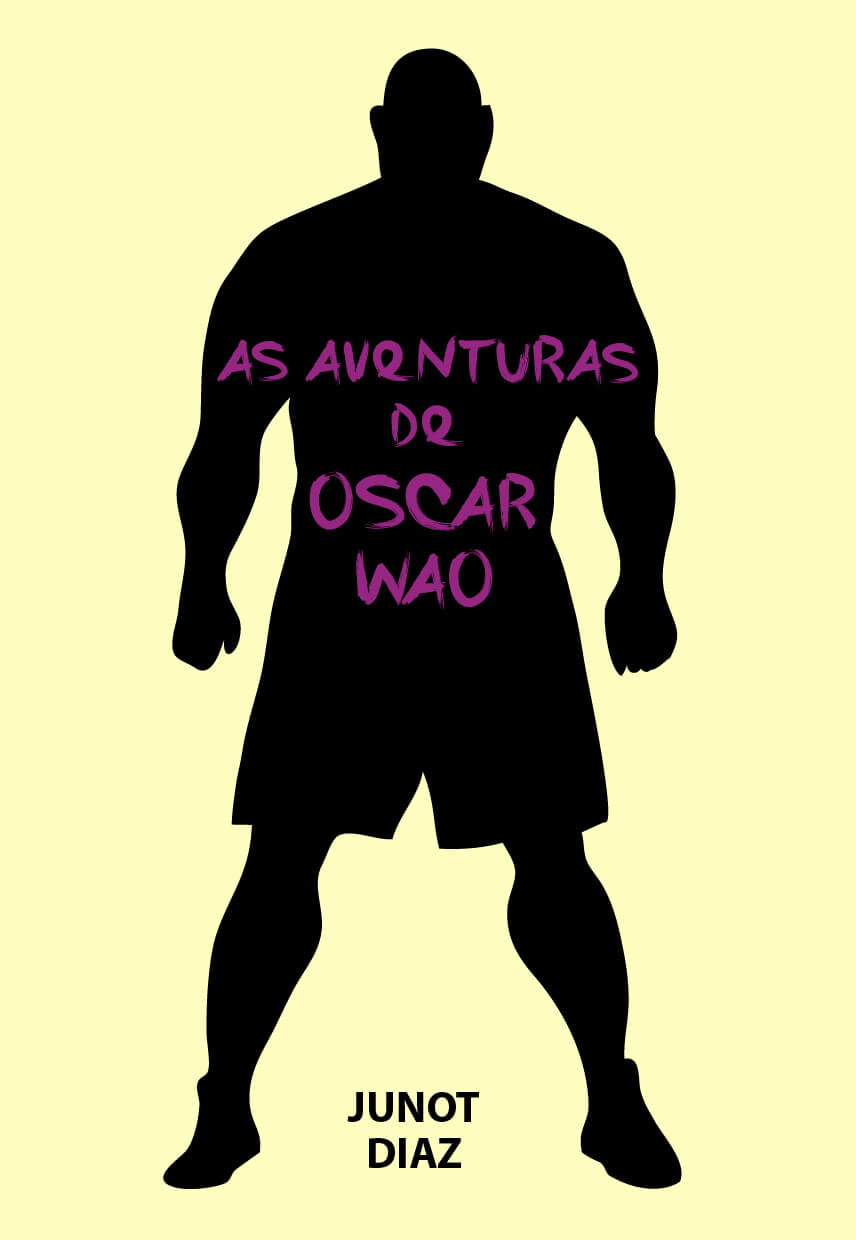



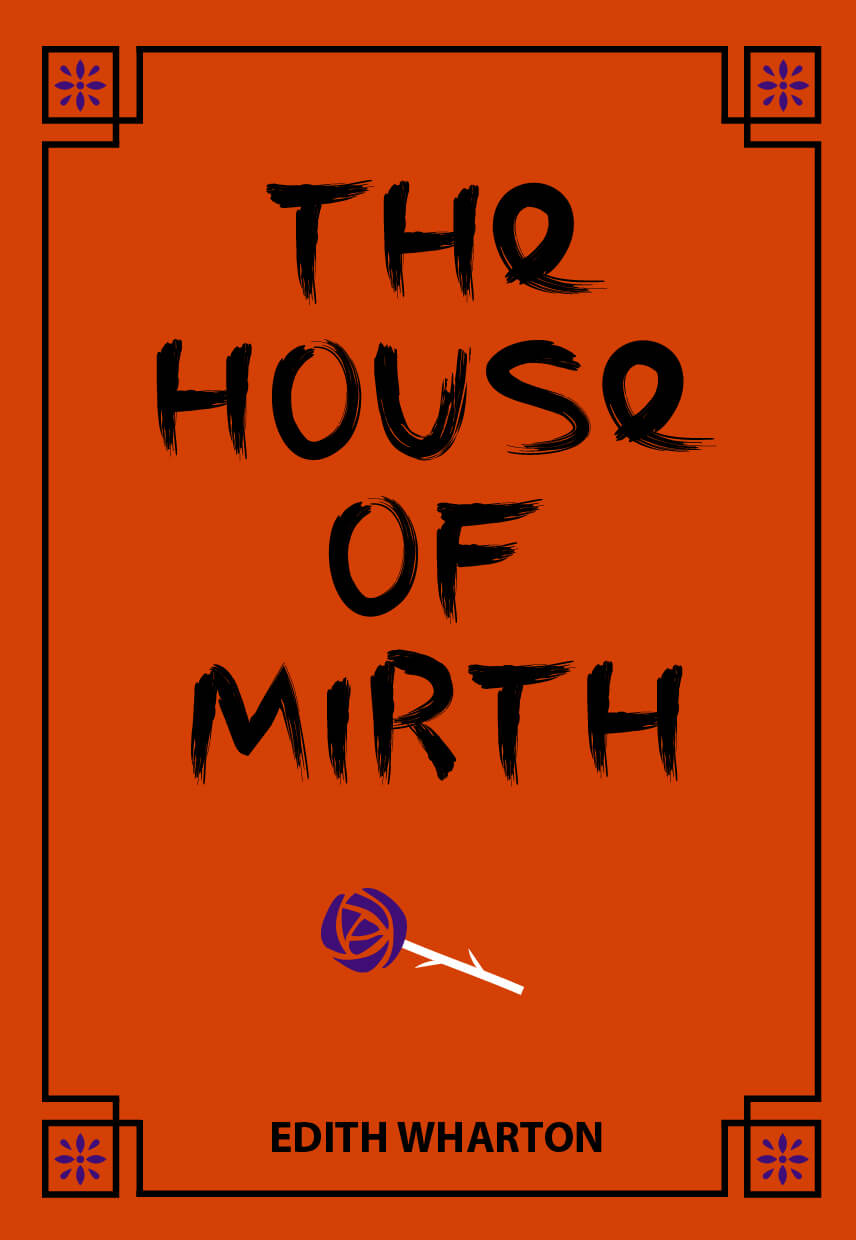



Comentários