Nos dias de semana a casa começava a tremer pelas quatro da tarde e mantinha-se assim por umas horas. Ficava em Brooklyn, no segundo andar de um velho prédio em brownstone, numa avenida com prédios idênticos. Trinta metros quadrados em chão de tábuas num declive até à varanda, de onde se olhava a torre do Chrysler Building. Era o único luxo daquele apartamento onde tudo o que existia estava à vista e custava 2900 dólares por mês. Morei temporariamente ali, e, no meu atlas privado, Nova Iorque não existe sem esse lugar nem sem os ensaios de bateria do vizinho de cima, todas as tardes de todos os dias da semana.
Também não existe sem uma música, nem sempre harmoniosa, que parece vir do centro e contamina tudo, como uma respiração no silêncio. “Vivemos nas nossas próprias cabeças como numa região por mapear”, escreveu a nova-iorquina Edith Wharton para dizer da eterna incompletude de cada mapa íntimo, porque o que sabemos dos outros num espaço de coexistência como é a grande cidade é apenas o que consegue passar a fronteira dessa nossa região particular.
Do meu vizinho, conheci a rotina do som da bateria e essa singularidade fixou-se. Do travesti que andava na linha M do metro, o timbre da sua voz a cantar bem alto Amy Winehouse. Do empregado de uma loja, a distracção quando chamou um táxi para que me levasse, e às compras, sem que eu lhas tivesse pago. E o olhar do rapaz em Union Square que se cruzou com o meu enquanto ele chorava. Houve uma noiva que me entregou o seu ramo de flores quando atravessava apressada Park Avenue, e um casal que se separou em frente ao arco de Washington Square. E há os livros de Baldwin, de Grace Paley, Djuna Barnes, a música de Patti Smith, de Lou Reed. Tudo isso é Nova Iorque num mapa.
Rebecca Solnit, jornalista e escritora da Califórnia, disse que cada lugar se pode mapear de incontáveis maneiras. No meu mapa entra ainda Dan Brown, um imigrante de Trindade e Tobago. Todos os fins de tarde, enquanto decorria o ensaio de bateria, ele separava o lixo no pequeno pátio que antecede a entrada do prédio. Sorriu quando se falou de um escritor com o mesmo nome, disse que Dan era abreviatura de Daniel e pôs ponto final no assunto que parecia enfadá-lo.
Dan tem 62 anos, chegou à América em criança, e era o senhorio. “Aqui as pessoas entram e saem sem que muitas vezes eu lhes veja o rosto”, referiu, enquanto atirava sacos de plástico de um contentor para o outro. Em Nova Iorque não existem contentores diferenciados para o lixo. É preciso que esse trabalho seja feito em cada condomínio. “São casas pequenas que arrendo a gente nova que vem estudar, casais em início de vida a experimentar Nova Iorque. Alguns não aguentam o preço de viver cá, outros terminam os estudos e vão embora, poucos conseguem mudar para melhor.” Ele não se queixava. Vivia na periferia, “numa casa grande”, e todos os dias entrava na cidade num Chevrolet descapotável para gerir os bens, ou seja: prédios velhos que alugava a gente nova.
Dan beneficia da gentrificação que tomou conta de Nova Iorque na última década e se tornou tema obrigatório em todas as discussões sobre a cidade. Já lá vamos. Está a alterar ainda mais os mapas colectivos de uma metrópole que se caracteriza por estar em permanente mutação e que vive no futuro. “Diz-se que quando em Nova Iorque são três da tarde, na Europa são nove da noite há dez anos”, escreveu o jornalista espanhol Enric González em Histórias de Nova Iorque (Tinta da China, 2015).
A multidão
É nesse lugar que parece ter inventado o seu próprio tempo que vivem oito milhões e meio de pessoas, numa Área Metropolitana com mais de vinte milhões; cada uma em permanente estado de contágio, ou seja, de cruzamento das suas fronteiras particulares. Juntam-se 60 milhões de turistas a cada ano. Habitante desse território, Walt Whitman, a quem chamam o bardo de Nova Iorque e que disse de si próprio ser “um cosmos”, declarou sobre esse contágio: “Existem multidões dentro de mim”.
Como escrever sobre o lugar onde parece ter nascido a vida moderna, o lugar mais descrito, filmado, cantado, visto e imaginado sem cair em clichés, em repetições? Talvez pelas singularidades, pela vida comum, o quotidiano que, justamente, seduziu Walt Whitman e fez dele um poeta moderno na cidade moderna. E pensar “eles são todos diferentes de ti”, como uma personagem de Edith Wharton, cronista dos costumes desta cidade de onde saiu depois de casar mas que observava à distância, a partir de Paris, escrevendo-a com uma agudeza incomparável.
“Por que é que as pessoas vivem em Nova Iorque?”, interrogou-se também o sociólogo e filósofo francês Jean Baudrillard. “Elas não têm aí qualquer relação entre si. Mas há uma electricidade interna que emana da sua profunda promiscuidade. Uma sensação mágica de contiguidade e de atracção por uma centralidade artificial. E é isto que a torna um universo auto-atractivo do qual não há razões para sair. Não há qualquer razão humana para lá viver, mas apenas o êxtase da promiscuidade.”
É o tal contágio da vida comum que ganha outra dimensão nesta espécie de península no extremo Leste dos Estados Unidos, a mais densamente povoada do país, a maior cidade, um centro que emana energia para as periferias, exporta tendências e produz três milhões de toneladas de lixo por ano. Capital de muita coisa e também a capital do paradoxo. É neste lugar que Jennifer apanha todos os dias o metro em Brooklyn para deixar os filhos na escola e volta para casa até ter de sair outra vez e repetir o percurso. No intervalo, escreve. Gary faz mais ou menos o mesmo, mas o caminho entre casa e escola é feito a pé. Teju vagueia. De Brooklyn, de metro, até Manhattan, seguindo para Norte. Bebe por vezes um chá numa cafetaria da rua Lafayette, perto da casa onde viveu David Bowie. Vai andando, disparando a câmara fotográfica. Da sua sala de jantar, E. L. Doctorow gostava de ver passar os comboios em direcção a Queens. Quando o conheci ele apontou-mos. Quando morreu, em 2015, foi essa a imagem para o meu mapa.
Colm gosta de conversar no Algonquin Hotel, uma das preciosidades de Nova Iorque que era para se chamar Puritan mas ficou Algonquin em homenagem a uma tribo índia que habitava a zona hoje conhecida por Middtown. Michael corre, vai atrasado para uma conversa, fintando os carros pela rua estreita do Village. Cruza agora as pernas a uma mesa do Cafe Reggio e bebe um cappuccino. Elizabeth observa da janela do seu apartamento alto. Vê os velhos do Upper East nas rotinas diárias: o jornal, o almoço, uma ou outra ida à igreja, o passeio higiénico pelos parques quase vazios. Todos são escritores, todos escrevem sobre a cidade onde vivem, onde vão regularmente, a que não conseguem ficar indiferentes. Nova Iorque seduz da forma mais efectiva. Não é bonita, é suja, desordenada, caótica, sobrepovoada, fala alto, tem o luxo mais ostensivo e a pobreza mais miserável; insulta quem se atrasa a subir a escada rolante, é impaciente para quem hesita a pedir o café nas longas filas da manhã, buzina aos que demoram a atravessar a passadeira. É implacável para quem não obedece às suas regras e desconhece os seus códigos. Mas…
“Depois de ter estado em Nova Iorque qualquer pessoa que regresse a casa dar-se-á conta de que o seu lugar de origem é bastante escuro”, disse o escritor irlandês Brendan Behan no relato de viagem Nova Iorque (Tinta da China, 2010). Em Os Segredos de Nova Iorque (Cavalo de Ferro, 2008), o jornalista italiano Corrado Augias cita Umberto Eco. “Nova Iorque é suja, desordenada, nunca tens a certeza de que ainda exista o restaurante que te agradou a semana passada, porque entretanto destruíram o prédio inteiro, ou o quarteirão, podem-te esfaquear de repente (mas não em qualquer lado, o bom de viver em Nova Iorque é que sabes quais são as ruas onde é difícil que te esfaqueiem). O céu pode ser de um azul inebriante, o vento é excitante, os arranha-céus por vezes fulguram luminosos e sublimes como o Partenon, e qualquer coisa que colocamos no meio fica bonita.”
Esta cidade em permanente transformação, com a quadrícula urbana idealizada por Robert Moses (1888-1981), onde se cruzam brancos, negros, mulatos, gente de todas as etnias e nacionalidades que falam mais de 800 línguas, que parece aguentar tudo com uma incomparável capacidade para se reinventar. Nos primeiros 12 anos deste século sofreu três catástrofes e o ritmo nas ruas não se alterou. O 11 de Setembro, o colapso da Bolsa em 2008, o furacão Sandy em 2012. Só por vezes os olhares ficam mais perplexos, como ficaram na manhã do dia 9 de Novembro de 2016, o dia seguinte à eleição de um nova-iorquino para Presidente da América. “Ele simboliza o contrário desta cidade, os valores dele são o oposto dos que fizeram de Nova Iorque um modelo de coabitação, de capacidade de fazer da diferença que a compõe uma energia vital”, diz Clara, nova-iorquina, branca, olhos brilhantes com uma lágrima que não cai nesse dia seguinte, enquanto caminha para o escritório, apressada como todos os dias, mas nesse dia sem saber o que fazer com o facto novo – Donald J. Trump na Casa Branca.
Quem já esteve em Nova Iorque sabe que os nova-iorquinos falam muito. E falam alto, gesticulam e parecem estar sempre a querer entender tudo e mais alguma coisa. No dia 9 havia sobretudo silêncio, é provável que em respeito à história de uma cidade que raramente olha para o seu passado por andar centrada na alucinação do seu presente. Em Nonstop Metropolis, Rebecca Solnit sintetiza bem a essência dos 400 anos deste cosmos: "Nova Iorque tem sido a porta de entrada para imigrantes, muitos dos quais ficaram na cidade. Uma grande onda chegou no final do século XIX e início do século XX, até às restrições de 1921, e uma segunda onda começou quando a Lei de Imigração e Nacionalidade de 1965 reabriu as portas. A Nova Iorque contemporânea é uma cidade onde mais de um terço da população nasceu no estrangeiro, e apenas um terço é branca. Metade da população fala uma língua diferente do inglês em casa, e não há população maioritária. À sua própria maneira caótica, New York é um triunfo da coexistência interrompido por pessoas que gritam umas às outras. O protagonista do Taxi Driver, filme de 1976 de Martin Scorsese, de 1976, odiava-a por estar suja tanto no sentido sexual quanto no sentido literal, e então, como a maioria dos puritanos, foi caçar para a imundície. ‘A sujidade é só matéria fora do lugar’, disse uma vez a antropóloga Mary Douglas, e sujidade pode significar mistura, impureza, hibrismo – nesse sentido, é o solo fértil para novas coisas crescerem. É o que torna as cidades tão criativas."
O anti-herói
Quem votou em Donald Trump elegeu um nova-iorquino, mas rejeitou os valores que construíram Nova Iorque e fizeram desse modelo de “coexistência” – ainda que imperfeito – um ideal exportável. Paul, o estudante de liceu da cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, sonhava com Nova Iorque como um escape à sua existência provinciana de classe média e passou anos a idealizar o momento em que pisaria pela primeira vez a cidade… Ele é o protagonista do conto Paul’s Case: A Study in Temperament, de Willa Cather. “Não uma vez, mas centenas de vezes, Paul planeou essa entrada em Nova Iorque”, lê-se na história recordada por Rebecca Solnit como metáfora de todos os que idealizaram esse primeiro dia num território onde é impossível chegar-se virgem. De imagens, textos, sons. É como estar pela primeira vez em frente a Guernica ou a qualquer outro grande quadro tantas vezes replicado. Há o assombro, ou o que Walter Benjamin chamou de aura quando queria falar do efeito produzido quando em presença da obra. Por mais que ela surja representada, nada substitui o estar perante ela. Nova Iorque, na sua primeira vez, provoca esse espanto.
Era o princípio de Outubro, final de tarde e havia um vento gelado, não sabia identificar de onde. O Norte e o Sul eram um mistério a partir daquele lugar rodeado de prédios, sem horizonte, com as luzes a começar a acender. Buzinas, um rap a sair de uma loja de roupa desportiva, uma rapariga a falar alto ao telemóvel e muitos encontrões. Parar para ver revelou-se uma impossibilidade. Era ir, deixar-me levar entre a multidão e perceber que ficar perdido, sentir-se perdido, não é necessariamente mau. Cheirava a café, e depois a especiarias, fritos, um doce que soube depois ser das bancas de pratzels, misturado com o combustível dos carros, táxis, autocarros; de vez em quando, o odor a erva. “Nunca vi tanta gente fumar erva como em Nova Iorque”, havia de me dizer anos depois um recém-chegado à cidade. E um burburinho permanente, muitas vezes silenciado pelo vernáculo gritado, o apito dos polícias, o som de ambulâncias, as sirenes. Lembrava palavras de Walt Whitman sobre a cidade: “O coração, o cérebro, o centro…” Era aquilo, mas não era só aquilo. Foi só um primeiro embate, valente. Só soube o que era o silêncio em Nova Iorque quando pisei o Central Park depois de um nevão.
John Steinbeck viu Nova Iorque pela primeira vez em Novembro de 1925. Chegou de barco, vindo da Califórnia. Em America and Americans, conta: “Da vigia vi a cidade, e fiquei horrorizado. Havia algo de monstruoso nela – os edifícios altos a aproximarem-se do céu e as luzes a brilhar através da neve que caía. Escorreguei em terra – assustado e frio e com um nó de pânico no estômago.” Numa carta a Ramalho Ortigão, Eça de Queiroz escreveu: “É uma cidade que em parte amo e em parte detesto. Amo-a porque… porque sim – detesto-a, porque deve ser detestada. O que isto é, V. não imagina: a violenta confusão desta cidade, o extraordinário deboche, o horror dos crimes, a desordem moral, a confusão das religiões, o luxo desordenado, a agiotagem febril, a demência dos negócios, os refinamentos do conforto material, os roubos, as ruínas, as paixões, os egoísmos (…) Isto não pode durar, todo o mundo o diz.” Foi no Verão de 1873 e o texto faz parte do volume America the Beautiful (Tinta da China, 2016), que reúne relatos de escritores portugueses sobre a América.
Não é possível a indiferença. Mas como escreveu Enric González, Nova Iorque “nada sabe da nossa memória sentimental nem do nosso calendário”. Para a ir conhecendo é preciso viver nela no presente. “Quando se pergunta como é que se explica que um homem como Donald Trump e o bando de crentes que o acompanham e que negam a ciência, por exemplo, estejam hoje a comandar esta terra, é melhor sair para a rua”, diz Jerome Smith. “Desafio-os a vir para a rua”, continua este estudante de Sociologia, natural de Filadélfia. Tem 22 anos e quis estar no tal centro, como Paul, a personagem de Willa Cather, outra mulher que não se conformou com o conservadorismo da sua Virginia natal e escolheu viver em Nova Iorque, que, não sendo perfeita era o melhor que conhecia.
Jerome tem estado entre os que protestam nas ruas desde o dia 9 de Novembro. “Não posso conformar-me, não me acomodo.” Lê um livro aproveitando o sol de Inverno em Union Square. É domingo, há muita gente como ele. Nem um lugar vago nos muitos bancos do jardim. A maior parte das pessoas lê, sanduíche, salada e café ao lado. Sim, em Nova Iorque come-se em qualquer lugar, mesmo quando se caminha. Os cães brincam no espaço que lhes é reservado, um grupo toca o que parece ser hip-hop – canção de protesto nascida nos escombros da cidade – e ao lado outro grupo exibe números de skate. Um homem pergunta quem quer jogar uma partida de xadrez. A mesa está posta para receber jogadores. Paga-se para ter um parceiro de jogo. “Vinte dólares uma hora”, diz. “Quinze?” O preço depende da procura. Como tudo por ali. O homem que chegou há pouco à Casa Branca foi um bom aluno dessa lei de mercado e simboliza a contradição de que é feita Nova Iorque. Em 2000, quando traçava o retrato da cidade, Corrado Augias elegeu Trump como símbolo da “agressividade do dinheiro”. “Podre de rico ou à beira da bancarrota, em alternância, Trump é um desses magnatas que parecem saídos de um filme sobre o lado grotesco do capitalismo: por vezes paterno com os seus colaboradores, outras vezes brutal até ao insulto; com as mulheres é arrogante, um desses homens que diz coisas como: acho-te graça, vem cá ter ao meu colo.” A observação tem 17 anos e a Trump Tower, na Quinta Avenida, entre as ruas 56 e 57, continua a ser a morada oficial do cidadão e a metáfora do poder do dinheiro. É lá que se concentram os protestos, mesmo quando Trump já mora em Washington D. C.
Não há um dia sem cartazes, sem palavras de ordem, sem que a segurança à porta dê tréguas.Todos os dias Nova Iorque parece querer sublinhar que não foi por ela que Trump chegou à presidência. Nathalie diz mais ou menos o mesmo quando refere: “os nova-iorquinos estão envergonhados”. É de Queens e todos os dias apanha a linha E do metro até Manhattan; sai na 53th com a terceira avenida. “Trabalho numa loja de produtos de beleza”, sorri, mostrando as unhas, uma de cada cor, o cabelo preto de pontas azuis, a pele sem mácula. É negra, fala com o sotaque de Nova Iorque, come os erres, transforma és em ás; é um inglês cantado, mascado. “He’s such a bastard. Não entendo, não entendo como foi possível.”
Hillary Clinton ganhou no estado de Nova Iorque com 51% dos votos e em quatro dos cinco grandes bairros em que se divide a cidade, com votações acima dos 80%, com recorde para Manhattan, com 87,4%. A excepção foi Staten Island. Aí, na ilha mais a sul, de onde se avista claramente a Estátua da Liberdade, e o território mais isolado da cidade, Donald Trump venceu com 56,4% dos votos. Porquê? Uma equipa da Universidade de Nova Iorque está a estudar as razões que podem explicar a diferença de votação nesse lugar que alguns jornais na altura compararam ao Idaho: maioritariamente branco, religioso, classe média baixa, meio remoto. Neste caso não pelas montanhas, mas pela água.
De Manhattan chega-se a Staten Island de barco no meio de turistas sempre a disparar as máquinas fotográficas para a paisagem. A viagem cruza parte da baía, tem vista única para o skyline e passa junto à Liberty Island onde está a estátua da autoria do francês Frédéric-Auguste Bartholdi. Inaugurada em 1885, é o símbolo da liberdade, da justiça e do conhecimento que recebia quem entrava no país pelo porto de Nova Iorque. Foi pensada assim, hoje é parte do cenário.
Quem vai no barco de Manhattan até Staten Island vai e volta. São poucos os que saem e entram na ilha onde em Julho de 2014 Eric Garner gritou 11 vezes até à morte I can’t breathe!, depois de ter sido apanhado pela polícia a vender cigarros avulso sem licença. Foi a última vez que Staten Island foi notícia, com uma frase-súplica que se tornou slogan do movimento Black Lives Matter, depois da morte de Garner se juntar à de outros negros vítimas da força policial. O lugar estava assinalado com um ramo de flores de plástico. Já não está.
Por ruas estreitas, largos sem árvores, baldios, prédios de habitação social, avenidas que avançam por colinas ou junto ao mar, um ou outro edíficio que assinala um passado mais próspero e vivendas de madeira em vários estados de preservação vivem 470 mil pessoas (Censos de 2015), a maioria brancas, não hispânicas. São mais de 65 por cento. E tradicionalmente republicanas. Mary corresponde ao estereótipo. Tem 65 anos, foi enfermeira, votou Trump e diz porquê. “É preciso criar emprego, proteger os americanos, acabar com o Obamacare. Trump sabe como fazer isso e está a dar os primeiros passos. Não estou nada desiludida. Tem o meu apoio. A América tem de criar riqueza. O resto vem depois. Havendo dinheiro há tudo”.
O símbolo desse dinheiro está próximo. O touro de Wall Street quase se pode ver na baixa de Manhattan. Quase. Há a água e as torres e a diferença entre estar no centro ou na periferia da grande cidade. Mais perto de Wall Street do que o Bronx, o Harlem, Queens, mas sem a diversidade das multidões de que falava Walt Whitman a partir de Brooklyn, mesmo quando Brooklyn era uma cidade independente de Nova Iorque e tudo parecia sereno, quase campo, em Brooklyn Heights, justamente o mesmo lugar onde eu ouvia bateria todas as tardes de todos os dias da semana. Whitman morava por ali.
Descendente de imigrantes ingleses e holandeses, Walt Whitman cresceu em Brooklyn. Em 1820, quando ele era criança e o maior edifício de Nova Iorque tinha quatro pisos, “podíamos estar sentados em Brooklyn Heighs e ver perfeitamente Manhattan e, através do Rio Hudson, a distante costa de New Jersey”, refere David S. Reynolds em Walt Whitman’s America. Para quem não está familiarizado com a paisagem, são quinze quilómetros, com dois rios pelo meio, a baixa de Manhattan e actualmente milhares de prédios com muito mais do que quatro pisos.
É difícil imaginar, hoje, uma paisagem assim e ver nela um lugar cosmopolita, como ele viu. Havia o ferry a atravessar o East River, “Multidões de homens e mulheres com os fatos usuais, como me pareceis curiosos”, escreveu no famoso poema Atravessando no barco de Brooklyn que integra a sua obra maior, Folhas de Erva (Relógio d’Água, 2010). Havia os barcos que chegavam à Baía de Manhattan vindos de todo o mundo, mas sobretudo da Europa, com imigrantes. Os primeiros vieram da Holanda e deram àquela terra que os indígenas chamavam Mannahatta o nome de Nova Amesterdão. “Agora vejo que há um nome, numa palavra: líquido, robustez, rebeldia, música, auto-suficiência, / Vejo que a palavra da minha cidade é uma palavra vinda de outros tempos”, outra vez Whitman no poema Mannahatta, cantando o lugar de “um milhão de pessoas – de maneiras livres e soberbas – vozes francas – acolhedoras – os jovens mais corajosos e cordiais, / Cidade de águas apressadas e refulgentes! Cidade das cúpulas e mastros! / Cidade aninhada em baías! A minha cidade!”
Os holandeses colonizaram-na com os ingleses que chegaram logo depois. E vieram irlandeses, polacos, italianos, gente que holandeses e britânicos viam como menos brancos. Eram pobres, chegavam famintos, faziam o trabalho que ninguém fazia. Era o princípio da América e de todas as possibilidades que o nome passou a incorporar contada na literatura ao longo dos tempos, falando de uma cidade de imigrantes. Sempre esta terminologia a conferir identidade. Com Whitman por exemplo, a incluí-los nos seus poemas, “continuamente a chegarem”, sem distinção de cor ou origem. Muitos anos mais tarde, E. L. Doctorow, outro escritor de Nova Iorque, descrevia o lado mais miserável da imigração em Ragtime: “Andavam pelas ruas e de uma ou de outra maneira iam parar a habitações sociais. Eram desprezados pelos nova-iorquinos. Eram sujos e analfabetos. Tresandavam a alho e peixe. Tinham chagas purulentas. Não tinham um pingo de dignidade e trabalhavam para nada. Roubavam. Bebiam. Violavam as próprias filhas. Matavam-se entre si como se nada fosse. Entre os que mais os desprezavam estavam os irlandeses de segunda geração, cujos pais tinham sido culpados dos mesmos crimes”. Era a imigração judia que havia de ajudar a complexificar mais ainda a tal identidade nova-iorquina. Nicole Krauss assinalou outro momento dessa imigração. “Eu era imigrante, levou muito tempo a deixar de ter medo que me mandassem embora”, dizia uma personagem de A História do Amor (D. Quixote, 2006), romance centrado na comunidade judaica de Nova Iorque e na solidão do século XX.
Todos chegavam, passavam o preconceito, o medo e integravam-se, melhor ou pior, na massa, na multidão. A partir das pessoas que habitam Nova Iorque, dos bairros, das movimentações, das casas que construíram, dos templos que ergueram e converteram a várias fés, pode contar-se a história do mundo. Continuam a chegar. Já não pela Baía de Manhattan mas pelos três aeroportos que servem a cidade: JFK, La Guardia e Newark. E como sempre, muitos vêm como podem. Sem papéis.
Calcula-se que haja meio milhão de ilegais em Nova Iorque, vindos sobretudo das Caraíbas, América Latina e Ásia. A cidade tem um estatuto especial, protege-os, ou seja, dá-lhes assistência médica, social, educação. Com San Francisco, Chicago, Los Angeles, Salt Lake ou San Diego faz parte do mapa das 18 cidades-santuário dos Estados Unidos. Durante a sua campanha, Donald Trump prometeu pôr fim aos fundos federais que permitem a estes lugares o auxílio aos ilegais. E quando Trump tomou posse como Presidente ouviu o mayor de Nova Iorque, o democrata Bill De Blasio, dizer-lhe que se terminasse com o estatuto de cidade-santuário teria a sua oposição clara: ele estava disposto a destruir os registos que levassem à identificação dos clandestinos por parte do Governo.
Entre a ruína e a celebração
Nova Iorque nunca foi um lugar calmo. Sempre viveu entre a ruína e a celebração. A ruína pessoal ou urbana, a celebração do dinheiro, das artes, do estatuto conferido pelos dois. Entre requiens, pessoais ou colectivos, a cidade sempre se reinventou, regenerou e isso parece fazer parte do seu ADN.
Suba-se ao alto da sua torre mais alta. Percorre-se o labirinto ao nível do chão, tenta adivinhar-se lugares bem longe seguindo linhas paralelas ou perpendiculares, a rede em que a cidade se estrutura até perder os contornos e parecer uma massa de betão ocre à luz dourada de fim de tarde. Dali, do alto, podia confundir-se com uma metrópole árabe, uma imensa medina ou uma megalópole da América Latina. Mas o olhar aproxima-se, perde profundidade, e as torres de vidro a espelhar o sol que cai no Hudson devolvem a visão do tal centro da América, a cidade que continua a projectar-se no futuro, reconstruindo-se incessantemente sobre o passado e todos os seus fantasmas. É o topo do One World, a torre um do World Trade Center, o novo observatório de Nova Iorque, aos pés de Manhattan, 360 graus de vista desde a baía, depois o Hudson, a costa de New Jersey, e toda a alta da ilha a norte, as pontes que atravessam o East River, e o Leste com Queens, Brooklyn, a costa de Long Island do outro lado, bem ao fundo, e os olhos a regressarem, perto, outra vez a água, a estátua. Uma tontura. Não é possível maior horizonte em Nova Iorque. Que diria Walt Whitman se visse a sua cidade dali?
É o postal. A panorâmica que não permite chegar à singularidade de cada nova-iorquino, que tanto atraía o poeta, e permitir que ele seja mais do que um número na multidão. Será que dali ele ouviria o canto da América? “Ouço a América a cantar, ouço as suas diversas canções”, escreveu, estando ao nível da rua. A dos artífices, do carpinteiro, do pedreiro, do barqueiro, do rapaz e da mãe, do chapeleiro, do sapateiro. Que melodia diversa e ainda maior a de hoje. Integra o canto da rua, o rap, o hip hop que nasceu de um Bronx em destroços, o rock, o pop, o jazz, o gospel; as canções dos poetas do Village nos anos 60 e 70 e uma boémia que já não existe.
De auscultadores pelas ruas, o caminhante pode sentir esses ritmos. Imagina-se a caminhar para sempre na cidade, talvez a única na América onde isso parece possível; caminhar sem fim pelas várias camadas que contam a história da cidade. Perder-se pode ser possível mesmo depois de se saber os pontos cardeais. A violência extrema transmitida pelo cinema dos anos 70 e 80, quando Nova Iorque parecia uma cidade sitiada, bombardeada, interdita em tantas, tantas artérias já não se sente. Foram os anos em que o crack parecia ter domínio sobre as ruas. Cocaína cristalizada, barata e ao comando da violência. E outra coisa. “… a política bem intencionada mas errónea que defendia a integração social dos doentes mentais”, como escreve o jornalista Enric González no seu Histórias de Nova Iorque. “Seguindo o lema de ‘Os doentes mentais são bons vizinhos’, optou-se por não fechar em hospitais os indivíduos perturbados que, em teoria, não pareciam representar perigo nem para si mesmos nem para os demais. Essas pessoas, no entanto, podiam fazer coisas muito estranhas se deixassem de tomar a respectiva medicação. Coisas como sacar de uma arma e disparar sobre umas quantas pessoas, ou então empurrar alguém para os carris do metro.
Entre 1990 e 1997, houve uma média de trinta e quatro acidentes anuais deste género, mortes causadas por pessoas perturbadas. Antes, a média era de vinte e três por ano.” A isto, como também lembra González numa das melhores sínteses do que foram os dias de violência e posterior “ordem” em Nova Iorque, juntou-se uma crise económica que durou de meados de setenta até aos anos noventa. A cidade estava devastada. O centro ficou deserto, desabitado, foi tomado por artistas que o reinventaram – outra vez a palavra – e se inventaram com ele. Conhecem-se nomes. Robert Mapplethorpe, Basquiat, Patti Smith, Andy Warhol… acrescentem-se nomes, todos os que fizeram de Nova Iorque a cidade rebelde, inconformada uma vez mais, depois das lutas rácicas, dos movimentos de libertação dos anos 60 que desceram do Harlem até ao Sul. A transgressão, com o seu lado criativo, chegava ao Soho onde antes havia trabalho braçal, as fábricas transformavam-se em estúdios, galerias, já depois de Washington Square, mais abaixo na ilha, ter sido tomada pelo movimento Beat, de William S. Burroughs e Allen Ginsberg, e mais tarde pela poesia e canções de Bob Dylan. Era aí o centro do chamado dinheiro antigo, o topo da escalada social nos finais do século XIX, início dos anos XX sobre o qual escreveram Henry James, Scott Fitzgerald ou Edith Wharton. Eram cronistas da chamada aristocracia americana.
A sátira
Vencedora do Pulitzer em 1921 com A Idade da Inocência, Edith Wharton (1862-1937) tem em House of Mirth (1905) uma das melhores sátiras sobre a ambição de ascensão social que continua a funcionar como metáfora de quem quer chegar a Nova Iorque e vencer. “If I can make it there, I can make it anywhere.” O verso cantado por Frank Sinatra soa a investimento. Pode-se ir para Nova Iorque a prazo, só até provar alguma coisa. Lily Bart, a protagonista de House of Mirth, quis mais do que isso. Bem nascida, criada para se casar na alta sociedade, chega aos 29 anos sem marido e começa uma investida trágica que a leva a cair na escala social. O artifício, o calculismo, modelam comportamentos. "Ela era de tal modo vítima da civilização que a produzira, que os laços de sua pulseira pareciam algemas que a acorrentavam a seu destino."
Dinheiro, raça, inclusão e exclusão social, costumes. Os nova-iorquinos sabem bem o significado de cada uma destas palavras. “Quando escrevi House of Mirth agarrei, sem saber, dois trunfos na mão. Um deles era o facto de a sociedade de Nova Iorque em Novecentos ser um campo ainda inexplorado por um romancista que crescera naquela pequena comunidade de tradições e convenções. E o outro, que estas tradições e convenções eram ainda inatacáveis, e tacitamente consideradas como inatacáveis” – Edith Wharton na introdução a uma edição mais tardia do romance.
Ela abriu caminho e serviu de inspiração a outros escritores. Como F. Scott Fitzgerald e um dos clássicos da literatura, O Grande Gatsby (Presença, 1985), onde a alta sociedade nova-iorquina aparece em todo o seu frágil esplendor. É um dos romances mais citados sempre que se fala de literatura sobre Nova Iorque ou de Nova Iorque na literatura. A par com Washington Square, de Henry James, Manhattan Transfer, de John do Passos, A Tree Grows in Brooklyn, de Betty Smith, American Psycho, de Bret Easton Ellis, Brooklyn, de Colm Tóibín; A Cidade Aberta, de Teju Cole. Em todos está a contradição de uma cidade que poucos entendem, mas a que muitos sucumbem.
Michael Cunningham é um desses escritores que não sendo de Nova Iorque a adoptou como sua. “A aristocracia americana tem como base o sucesso e a de Nova Iorque mais do que qualquer outra”, referiu numa conversa sobre livros e sobre Nova Iorque, num café bem perto da casa onde vive, no Village, a dez, 15 minutos de distância de Washington Square.
Muitos anos depois de James ou de Wharton, Cunningham leva isso para os seus romances sobre a Nova Iorque actual, onde quem dita as regras é quem tem sucesso e o sucesso tem uma base: o dinheiro. É como um longo círculo que, dando as voltas que der, retorna à origem de tudo porque tudo gira à volta disso. “Se se é rico, é-se influente”, diz, com ironia. “Não sei quanto tempo vou continuar a viver neste lugar. Está a ficar descaracterizado. Só consegue viver em Nova Iorque quem tem muito dinheiro. A diferença não é possível. A cidade de toda a gente é a cidade dos milionários e dos miseráveis.”
Com um rendimento médio per capita de 33 mil dólares por ano (a média nacional é de 30 mil) mais de 20% da população é pobre. Os dados são da autarquia em 2016 e, deles, 64 mil são sem-abrigo. No entanto, o preço médio de um apartamento de dois quartos é de um milhão e 200 mil dólares. Nas ruas, ouve-se muitas vezes a frase de que Manhattan se está a tornar num parque de diversões para os super-ricos de todo o mundo. Asiáticos, russos, latino-americanos que investem em apartamentos de luxo em torres cada vez mais altas e onde o metro quadrado deixou de se avaliar no solo mas no ar. Muitos desses apartamentos estão vazios, são segundas habitações de investidores. É contra isto que muitos protestam, incluindo Michael Cunningham.
Desce-se ao subsolo. Uma viagem pela linha 6 do metro, desde a baixa de Manhattan até ao Harlem. Permite ver toda a diversidade e, em cada entrada ou saída, quem vive onde, como se movimentam, o que lêem, sobre o que conversam, o que comem. A vida. São vinte minutos, meia hora e a sensação é de que se andou pelo mundo sem se sair do subterrâneo. Estamos na rua 125, cruzamento do Macolm X Boulevard, com o Martin Luther King. É o Harlem, “a actividade frenética e incessante que se vai desenrolando nos passeios: senegaleses a vender roupa, gente nova a vender CD piratas, as bancas da Nação do Islão. Havia livros de autor, dashikis, cartazes dos movimentos negros de libertação, paus de incenso, pequenos frascos de perfumes e óleos de essências, tambores e outras bugigangas africanas para turistas”. A voz é de Julius, o nigeriano, protagonista de A Cidade Aberta (Quetzal, 2013), do nigeriano Teju Cole a descobrir, a pé, uma metrópole e a revelá-la pelo não interdito. Pode-se andar por Nova Iorque, a da violência que Rudy Giuliani limpou de forma mais ou menos polémica com a lei da tolerância zero, que encheu as prisões de jovens delinquentes. O centro passou a ser habitado, os bairros proibidos recuperados, a cidade apetecida pelos especuladores.
Todos os bairros
Mas a cidade estendeu-se, aos cinco bairros. Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, Staten Island parece ser agora um só território e não apenas qualquer coisa indistinta com um centro chamado Manhattan. Há quem nunca se cruze nesse espaço, há quem fique por Washington Square ou Park Avenue, quem nunca contacte com a classe média. Só saiba dos extremos.
“A cidade ficou ‘limpa’ de violência, mas pode ficar também limpa de tudo o que é interessante quando quem a habita já não pode viver nela, quando um escritor que até nem vende mal e escreve em várias jornais e revistas, já não pode pagar a renda de um apartamento em Brooklyn.” O lamento é de outro escritor. Não quer ser identificado “porque tudo se sabe”. Vai ter de mudar de casa. Tem dois filhos, a sua mesa de trabalho fica no quarto de dormir e tem o tamanho do laptop. “Quando eu, que até tenho trabalho, já não posso viver na cidade pergunto pelos precários. Como vivem? Como nos encontramos?”
Continua a haver notícias de recordes de vendas. Numa torre na esquina de Park Avenue com a rua 57, que se vê desde o Central Park como uma coluna gigantesca na paisagem urbana, havia uma penthouse por 87 milhões de dólares no 95.º andar. Foi vendida. A notícia veio no New York Times, em Dezembro, mostrando a vista sobre o lado norte e oeste da ilha de Manhattan. É o 432 Park Avenue, um nome que se tornou outra marca: a do poder dos super-ricos. A do poder do dinheiro para alterar o skyline.
“Nova Iorque sempre foi assim. Faz parte da sua vida, da sua energia”, diz um vendedor de casas que gostava de ter uma comissão como a do que vendeu a penthouse do 432. Está em Queens, bairro cada vez mais procurado por famílias de classe média, com construção nova e reabilitada que o rendimento de duas pessoas ainda pode suportar. Entre os 2500 e os 4500 para duas assoalhadas, depende se é novo, se tem vista de rio. “Pode ser mais”, afirma Eric, o mediador que gostava de ser designer gráfico mas não consegue trabalho.
É um na multidão. Whitman não pôs os mediadores imobiliários no seu canto sobre a América, mas hoje provavelmente teria de os incluir para falar de Nova Iorque. A que continua a querer ser boémia, a que apesar de se sentir esmagada pela especulação, pelo ritmo, continua a querer ser o modelo. “A que inclui. Somos essa cidade, lutamos por isso”, diz Myriam, assistente social que anda muitas noites pela Penn Station, junto dos que dormem no chão, os de olhar vazio, os que não aguentaram a pressão, e são espectros, vultos. À hora de ponta, são só mais uns. À noite ou de madrugada, ganham identidade. Que história têm? Ela fala com eles, alguns falam com ela. “Quem sabe?”, sorri, e depois “Alguns saem daqui, são tratados, encaminhados. Depois perco-lhes o rasto.”
Porque é que se gosta de Nova Iorque mais do que de outro lugar?, interrogava-se mais ou menos assim John Steinbeck. A pergunta, também mais ou menos assim, acompanha sempre quem sabe que nenhum argumento convence, que a cidade tem a tal música que vem de dentro, que nela se pode ser visto ou esconder-se para sempre; aparecer ou desaparecer, como alguém disse. New York I love you, but you’re freaking me out, cantam os LCD Soundsystem, numa canção que alguém pôs a tocar para mim por causa dessa contradição irremediável. Walt Whitman cantou de outra forma: “Terra que tudo tolera, tudo aceita, não o bem apenas, porque tudo é bem para ti.”




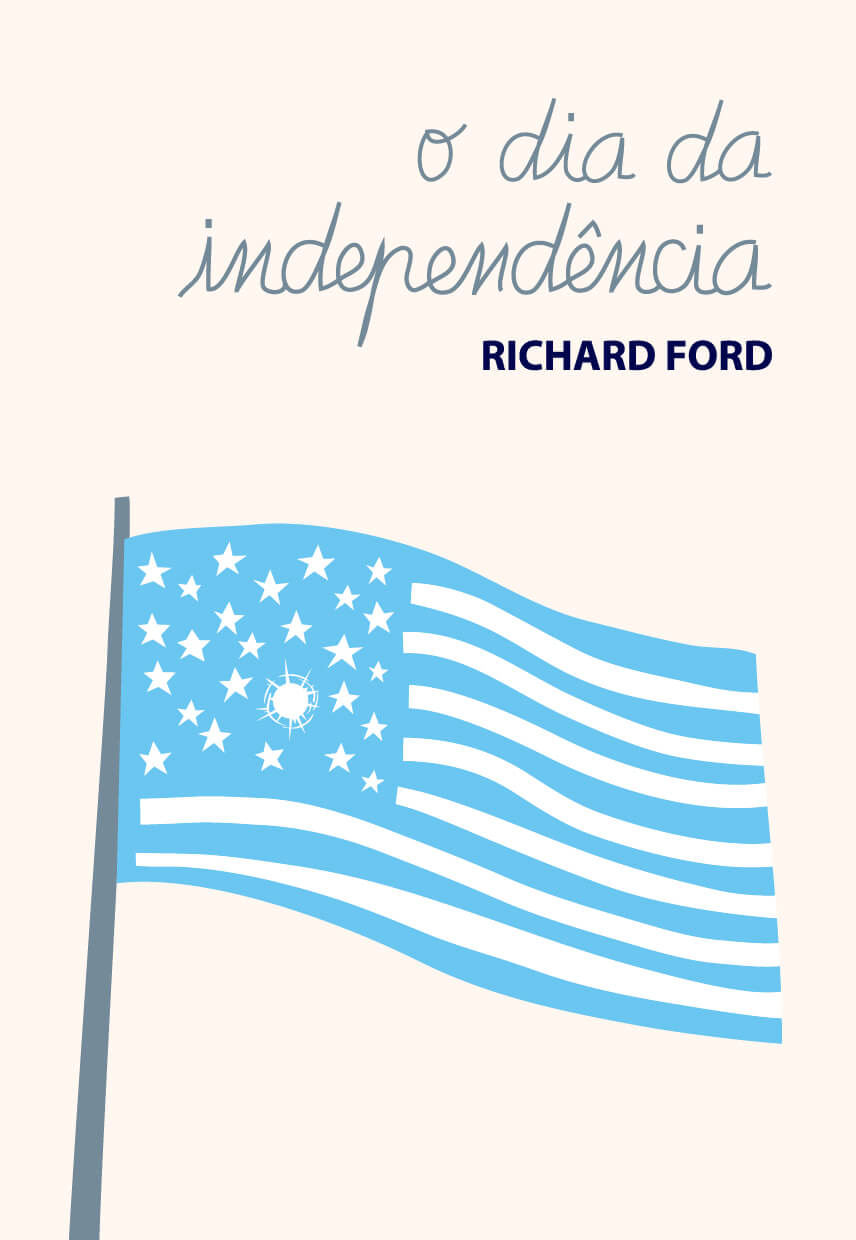

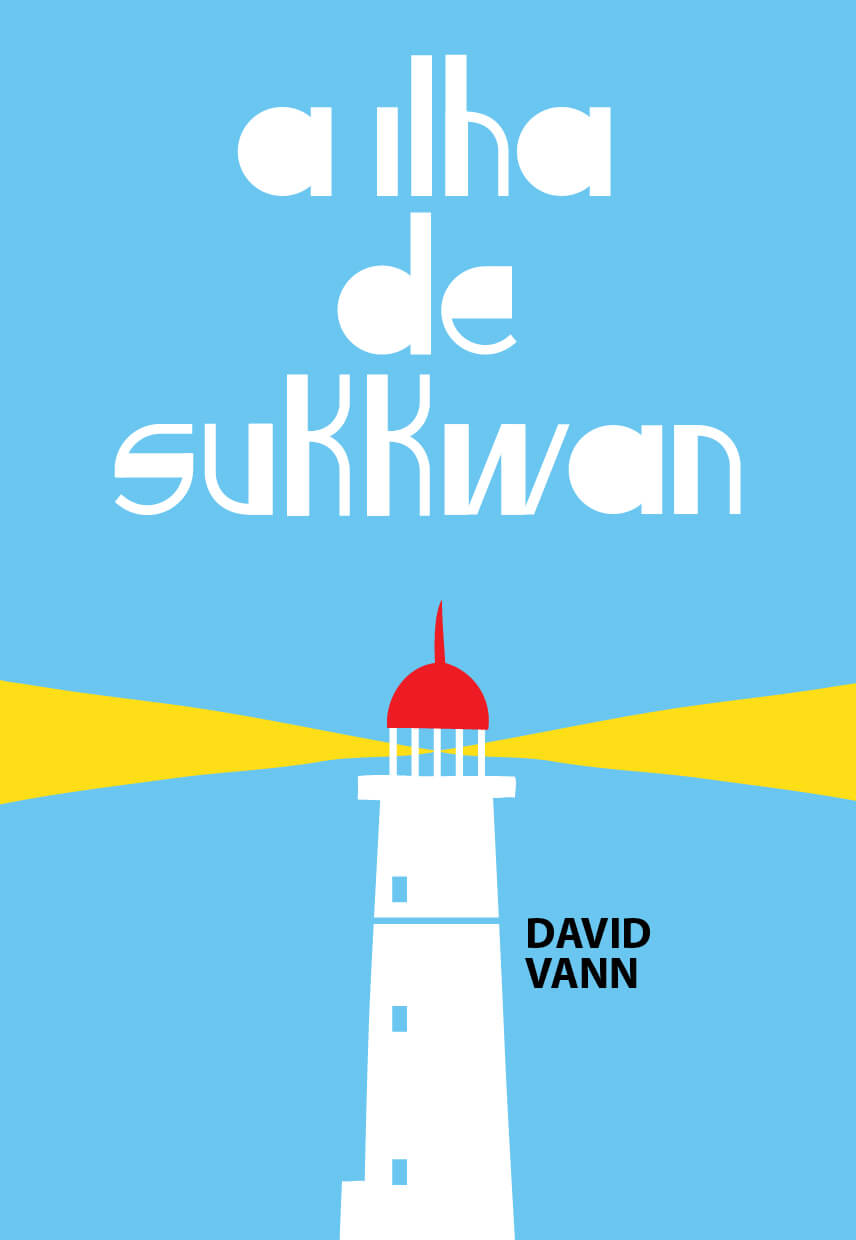
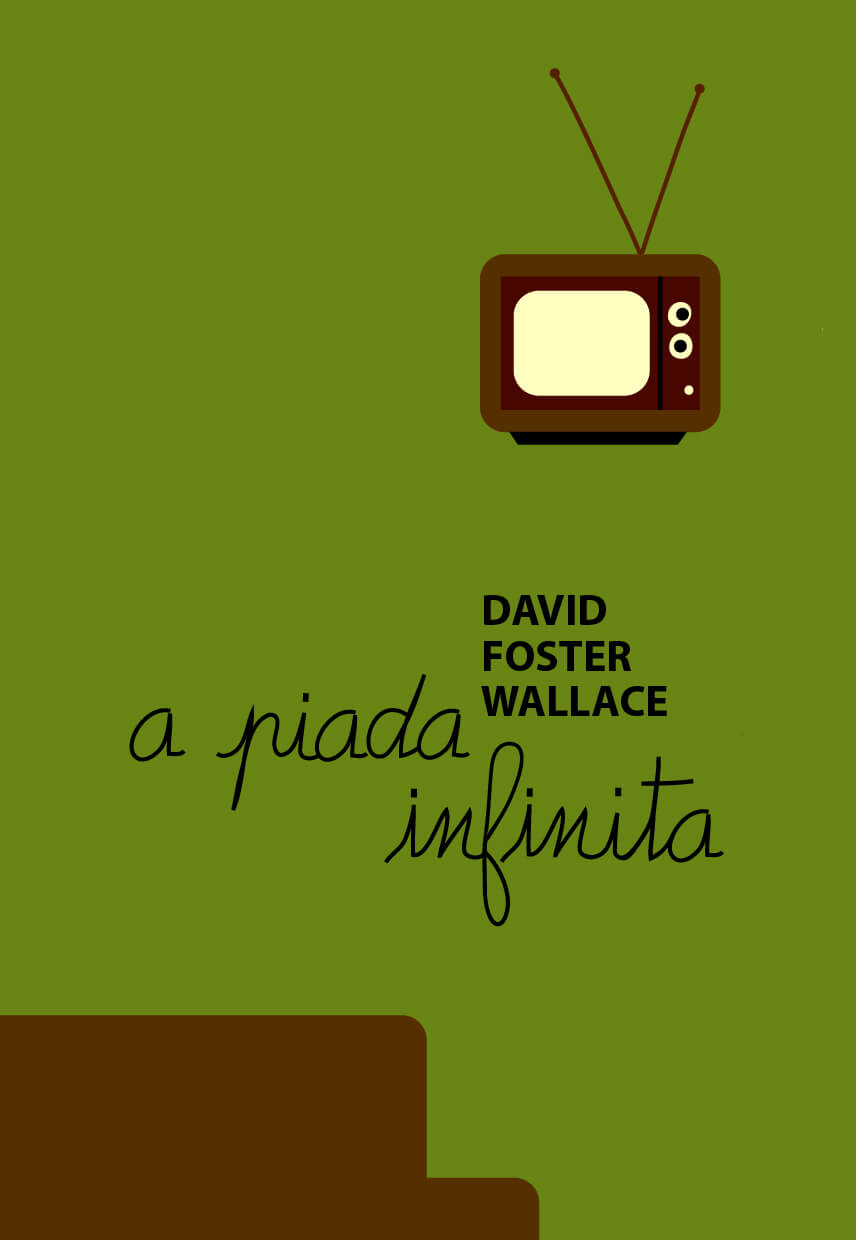


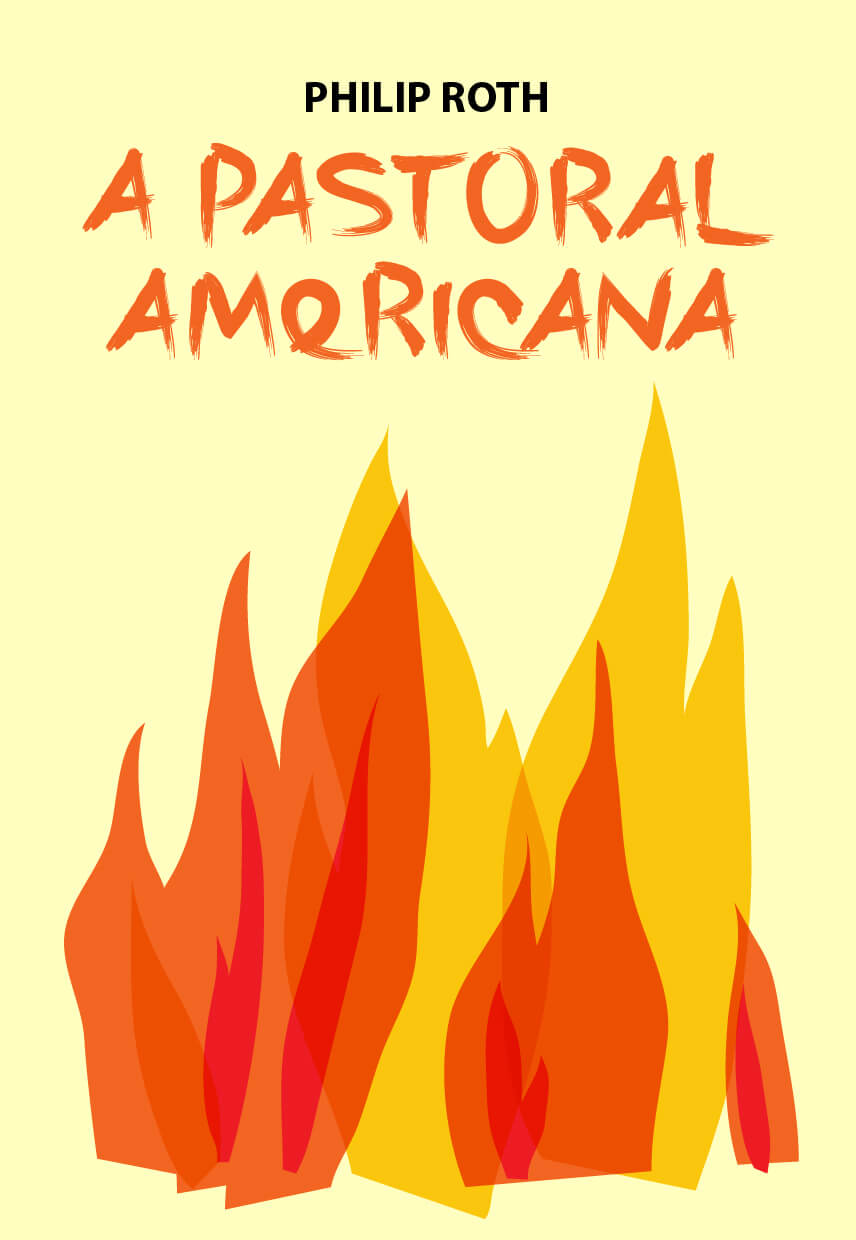
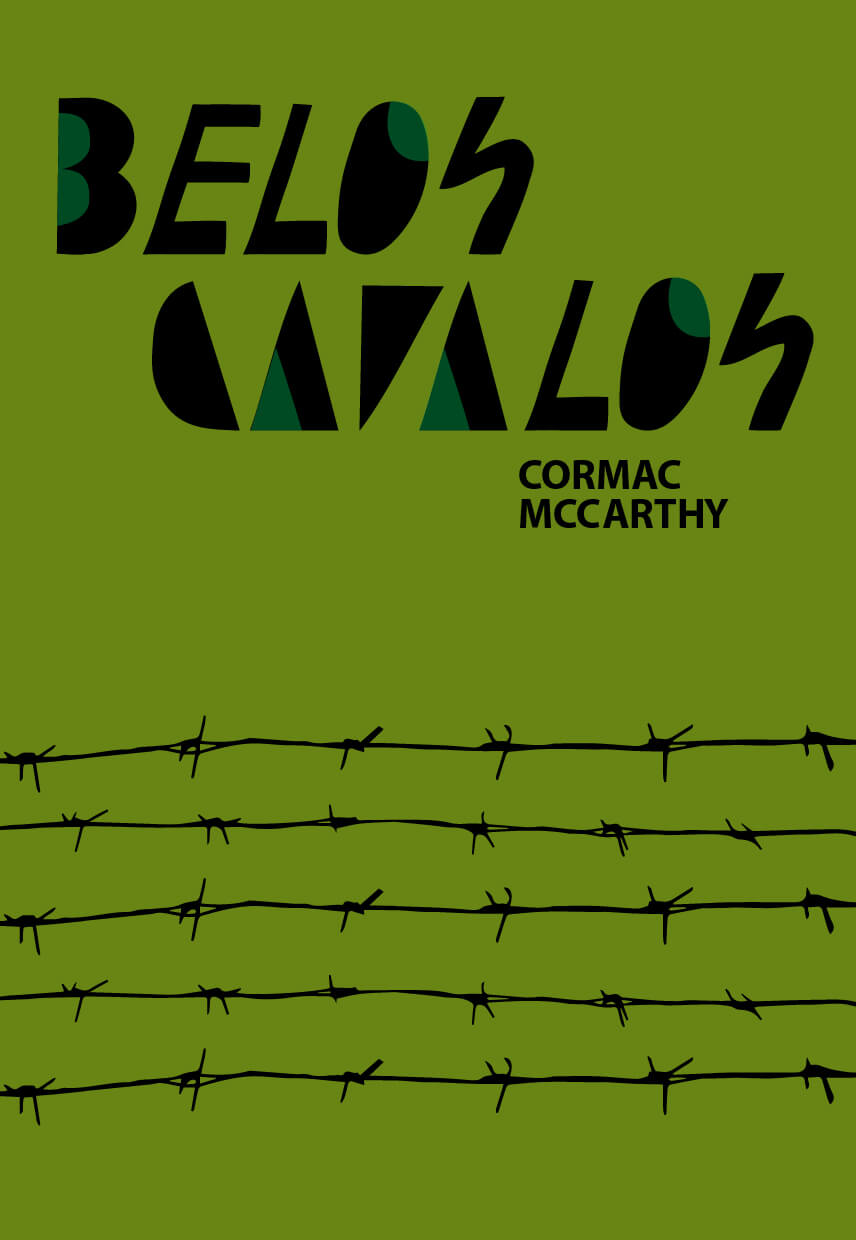
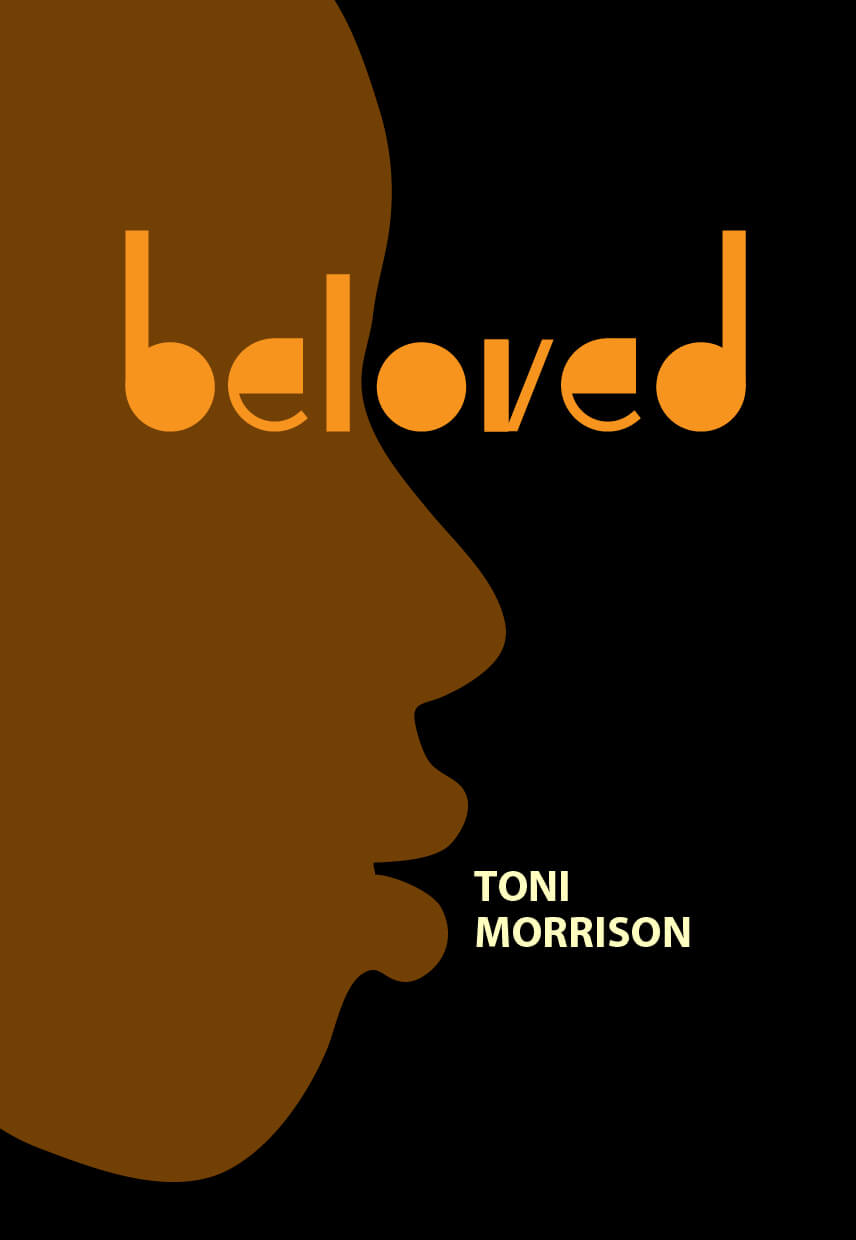
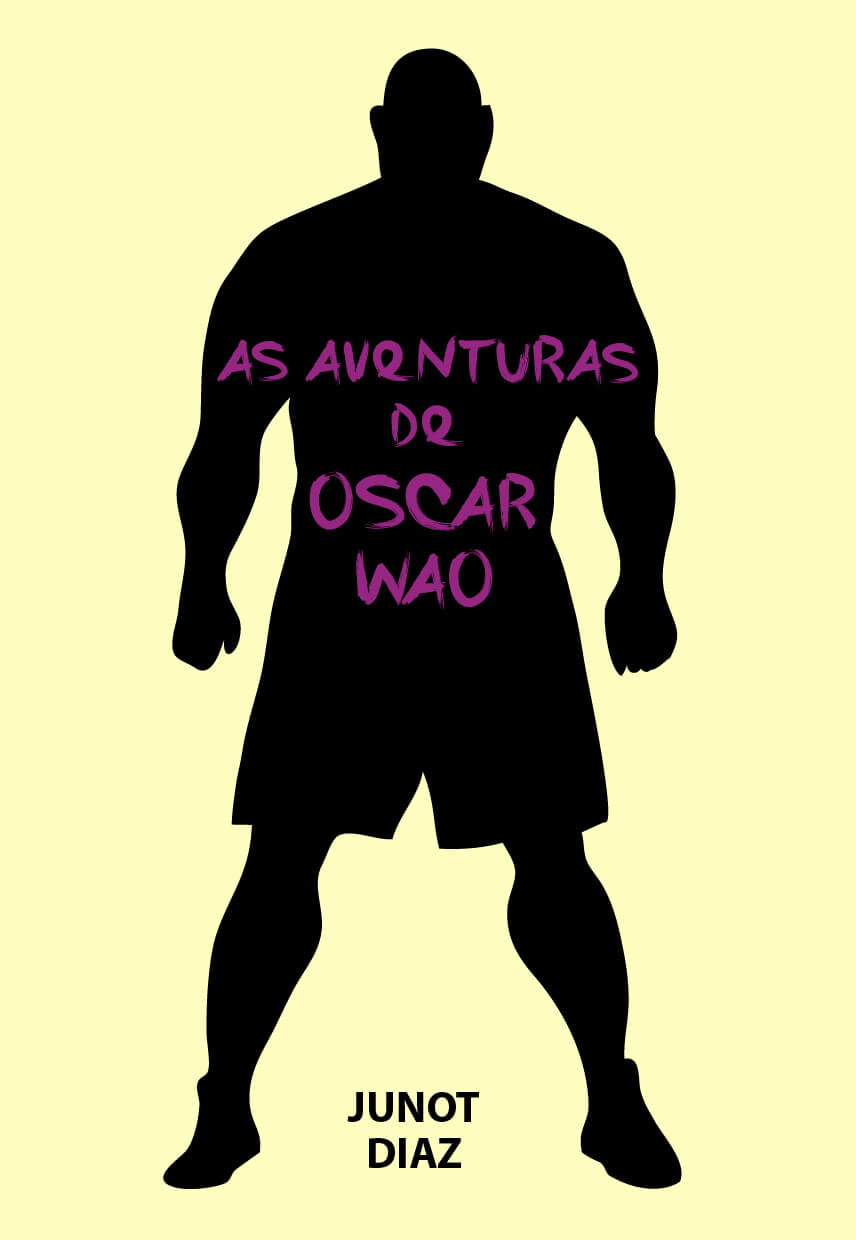



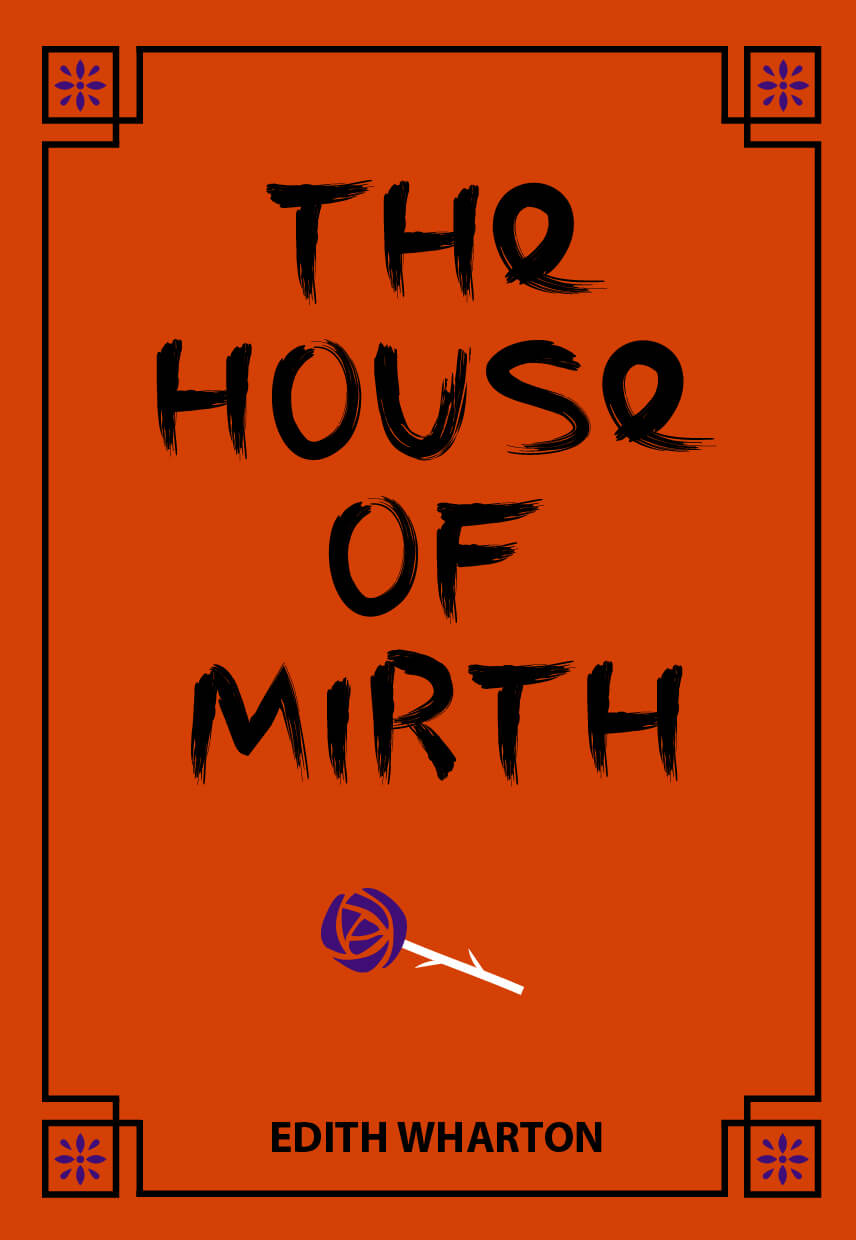



Comentários