À saída do aeroporto de Portland, no Maine, Salaad olha pelo retrovisor do seu táxi. Está curioso em saber da vida de quem transporta no banco de trás e vai contando a sua para conseguir informação. “Porque é que quer ir a South BoothBay? Vai visitar a família?”, pergunta, olhar curioso, sotaque árabe num inglês com os verbos conjugados no infinito. Não costuma ter muitos passageiros para aquela vila de acesso difícil onde a maior parte da população de menos de três mil habitantes é sazonal. Chegam no Verão à procura de sossego e boa comida, ocupando as casas dispersas em redor das baías azuis de água calma ladeadas de floresta verde.
Salaad conta que vive em Portland há seis anos. Fugiu da guerra da Somália onde viu a mulher morrer com “um tiro na cabeça” disparado por uma arma apontada por homens das forças rebeldes ao governo de Mogadíscio. Ela tinha 32 anos e juntos tiveram dez filhos que ele levou depois consigo para a América. Voltou a casar-se com uma jovem muçulmana, teve mais quatro filhos e diz que tem saudades do calor e da música. “Tirando isso, meu país acabou”, lamenta.
Salaad M. Shardi é cantor. “Tenho discos gravados. Procure o meu nome na Internet”, diz, com cartão de taxista na mão a provar a identidade. Música árabe, som de cítara, voz como num choro. Naquela manhã aceitou regatear o preço de uma viagem que lhe vale um dia de trabalho. Era isso ou o táxi teria pouco andamento num dia de início de Abril, ainda com neve a derreter nas bermas da estrada que segue para norte, antes de curvar depois a leste, até voltar a encontrar o mar. “Isto fica movimentado a partir de Junho e até Setembro. Depois, volta o frio e tudo fica mais calmo.”
Serão 160 dólares — menos de metade da tarifa oficial — para fazer os quase 90 quilómetros entre Portland e Boothbay, esperar umas três, quatro horas, e regressar pelo mesmo caminho. Ele é um dos cerca de mil somalis de etnia Bantu, uma das minorias mais marginalizadas na Somália, a viver actualmente no Maine. Quando a guerra civil começou naquele país do chamado Corno de África, em 1991, muitos bantus ficaram sem terras ou qualquer espécie de bens e muitos milhares procuraram refúgio no Quénia. Em 2000, os Estados Unidos considerou-os uma prioridade humanitária e abriu a fronteira a 12 mil bantus. Grande parte foi acolhida na Georgia e seguiu depois para norte em busca de melhores condições de vida.
Também Salaad chegou nesse ano. Como muitos dos seus compatriotas, fez o percurso de sul para norte. Segundo um artigo da revista Bloomberg BusinessWeek de 2015, entre as principais razões apontadas pelos que escolheram esta rota, esteve a procura de melhores condições de vida: casa mais barata, mais segurança, melhores escolas para os filhos, maior protecção por parte do Estado e o “aumento de controlo social” que vem do facto de viverem em comunidades mais pequenas do que a imensa Atlanta.
São as mesmas razões de Salaad, mas, ao contrário da maioria dos somalis, ele não se instalou em Lewiston quando chegou ao Maine. Escolheu a mais cosmopolita Portland para poder sustentar a educação dos filhos mais velhos, na Holanda e em Itália, uma opção deles que Salaad não quis negar. “Quero que eles sejam felizes e vou ajudá-los. A eles e elas.” É Salaad quem faz a distinção de género. “Sou muçulmano mas não sou radical”, justifica. “A maior parte dos americanos acha que não gostamos de mulheres. Eu gosto tanto dos meus filhos como das minhas filhas, Alá não mandou maltratar as mulheres, e vou votar numa mulher nas eleições americanas.”
Votará Hillary Clinton não só porque não acredita que Bernie Sanders consiga ser o candidato do partido democrata às eleições deste ano, mas porque admira a “firmeza” da ex-secretária de Estado de Barack Obama. E sobretudo por não se rever no discurso “racista” — palavra dele — de Donald Trump. “Ele não pode ganhar, seria muito mau para nós e para a América.” O “nós” de que Salaad Shardi fala são os somalis, mas também todos os africanos, todos os imigrantes que correram e correm ainda atrás do lendário sonho americano.
Quem não sabe deste passado recente talvez estranhe ver mulheres negras de lenços na cabeça pelas ruas de Portland e homens como Salaad. Com pouco mais de 65 mil habitantes, é a maior cidade do Maine, o estado com a população “mais velha e mais branca dos EUA” — ainda segundo o mesmo artigo da Bloomberg — e também aquele que apresenta o menor índice de crescimento demográfico. Desde 2001, quando os Bantu chegaram sobretudo a Lewiston, o segundo maior núcleo urbano daquele estado no extremo nordeste do país, a população cresceu 10%.
Em Portland, o impacto foi mais diluído, mas, perante a nova onda de refugiados na Europa e os pedidos de asilo que chegam um pouco de todo o Médio Oriente e África, a perplexidade instala-se entre os habitantes que temem o aumento de criminalidade, da pobreza, das possíveis mudanças causadas pela chegada de residentes com hábitos de vida diferentes. Trata-se de um desafio para o Maine, que terá de atrair cerca de 60 mil novos habitantes em idade activa nos próximos 20 anos e não perder população jovem se quiser manter a força de trabalho que o coloca entre os estados com melhor nível de rendimentos do país. Segundo um estudo recente da Universidade do Sul do Maine, será isso ou a ruína financeira. Entretanto, os Bantu a que pertence Salaad estão entre os maiores contribuintes para novos nascimentos numa terra conhecida pelo turismo e pela pesca e indústria da lagosta.
Na estrada
A I295, que sai de Portland em direcção a norte, é uma via rápida quase plana que cruza canais de água ao longo de uma costa rochosa formada por ilhotas, praias escarpadas e baías onde estão instalados portos de pesca, marinas para iates de luxo e praias que quando avistadas da janela de um carro se podiam imaginar tropicais no contraste entre o azul-turquesa da água e os vários tons de verde das árvores — sobretudo pinheiros — que quase sempre a envolvem. Ilusão. Na rua, a temperatura ao meio-dia ronda os dois graus, e o calor por ali não ultrapassa 25, 26 graus em Julho. É o local preferido de férias do chamado dinheiro velho da Costa Leste, sobretudo da região de Nova Inglaterra e de Nova Iorque, um lugar de sol, diversão e boa comida, como lhe chamou o escritor David Foster Wallace na famosa reportagem Consider the Lobster que faz parte da colectânea de textos jornalísticos do autor de A Piada Infinita, Uma Coisa Supostamente Divertida Que Nunca Mais Vou Fazer (Quetzal, 2013).
Wallace escrevia sobre o 56.º Festival da Lagosta do Maine (em 2004) que todos os anos se realiza em Rockland, uma pequena vila piscatória mais ou menos no centro dos 400 quilómetros de costa daquele estado que durante os quatro ou cinco dias do evento — entre o fim de Julho e o início de Agosto — vê multiplicada por dez a sua população de oito mil habitantes. Nesse período, consomem-se mais de 11 mil quilos daqueles “gigantes insectos do mar”.
Foster Wallace ironizava sobre o que relatou como uma inestética democratização do consumo da lagosta num estado que outro escritor, Richard Ford, na colectânea de contos A Multitude of Sins (2002), qualificou como “pequeno em escala, profusamente cénico, enfadonhamente remoto, exclusivo e lotado”. O último adjectivo — lotado — é um exemplo da clássica ironia de Ford, o autor de Dia da Independência (Presença, 1998), romance vencedor do Pulitzer em 1995. Mais de 80% do Maine — estado com uma área equivalente à de Portugal — é floresta, e em 2015 a sua população era de 1300 milhões de habitantes. Richard Ford é um deles desde 1999, o ano em que comprou casa em East Boothbay.
É para lá que segue o táxi de Salaad M. Shardi. Ele nunca ouviu falar no nome de um dos mais prestigiados escritores dos Estados Unidos, atento cronista da sociedade norte-americana que conhece profundamente e retrata com especial ironia e olhar clínico através da personagem de Frank Bascombe, um antigo jornalista desportivo criado em 1986 no romance The Sportswriter (O Jornalista Desportivo na edição portuguesa da Teorema). Bascombe torna-se mediador imobiliário e vamos encontrá-lo a celebrar o 4 de Julho nove anos depois em Dia da Independência. A acção deste livro decorre em 1988. Bascombe é então “um homem solteiro de 44 anos” e vive na casa que foi da ex-mulher, “situada no número 116 da Cleveland, na zona das ‘Presidents Streets’ de Haddam, New Jersey”, onde trabalha como “mediador de imobiliário”.
Haddam é o único território ficcional de Ford, construído à imagem de uma pequena cidade americana da Costa Leste habitada sobretudo pela classe média branca que vê chegar cada vez mais negros. É uma classe capaz de congregar as qualidade e defeitos, sonhos e angústias de um dos mais ambíguos e complexos estratos sociais. No estudo White Collar: The American Middle Classes, do sociólogo C. Wright Mills, correspondia a um novo grupo social que então surgia (o livro é de 1951): os trabalhadores de colarinho branco. Haddam, constata Frank, que é, nos anos 1980, “a América como costumava ser, apenas mais negra”, um pouco como acontece nesta segunda década do século XXI com o Maine, que, além disso, se tornou mais caro e turístico. E aos profissionais de colarinho branco da New Jersey branca do romance de Ford juntam-se profissionais de “colarinho azul”, “canalizadores, donos de pequenas oficinas de mecânica ou empresas de manutenção de jardins instaladas em garagens, que ganham para os impostos e pouco mais”.
Ford escolheu o 4 de Julho de 1988 para centro da acção narrativa de Dia da Independência por ser véspera de eleições, e, como em 2016, estar muito perto da Convenção Democrática, de 25 a 28 de Julho. “Este mês estou a sintonizar os meus pensamentos com as prováveis sequelas para o imobiliário da Convenção Democrática que se avizinha, quando o nada estimulante governador Dukakis, espírito tutelar do sinistro milagre do Massachusetts, arrebatará o prémio e depois avançará para a vitória em Novembro — essa é a minha esperança pessoal, apesar de ser uma perspectiva que paralisa de medo a maioria dos donos de imóveis de Haddam, visto serem quase todos republicanos e amarem Reagan como os católicos amam o Papa, embora também se sintam estarrecidos e atraiçoados com a palhaçada de terem o vice-presidente Bush como o seu novo líder.”
Quando Richard Ford escreveu o Dia da Independência, um livro “sobre uma eleição e sobre economia e como as pessoas vivem as suas vidas no dia-a-dia; sobre o casamento, sobre criar filhos” — como o escritor o classifica — já sabia que Michael Dukakis, o então governador do Massachusetts filho de imigrantes gregos, vencera a Convenção Democrática mas perdera as eleições desse Novembro para George Bush. E perdeu inclusive em New Jersey, estado de Bascombe, e no Maine, onde vive agora Ford.
Escrever o real
O táxi sai da I295 em Brunswick e segue pela route 1 — 3846kms que ligam o Sul ao Norte dos EUA — até Wiscasset. Daí são mais 24kms por uma estrada estreita e depois um misto de asfalto e terra batida até que Kristina Hensley, companheira de Ford há mais de 40 anos, apareça no jardim da casa de madeira cinzenta à beira da água, junto a uma pequena enseada que parece ser o fim ou o princípio de um vasto território. “Como vê, moro num postal ilustrado”, diz o escritor que surge logo depois, camisa aos quadrados fora dos jeans e um cabelo mais curto do que aquele em que normalmente aparece nas fotografias. Quanto aos olhos, são do mesmo azul. Ri dessas eleições de 1988, mas fecha o rosto para falar das de 2016. “Vou votar Hillary, mas assim”, diz, levando a mão ao nariz para o apertar.
Frank Bascombe não é bem um alter-ego de Richard Ford. Mas um e outro têm características comuns. Americanos, brancos, naturais do Mississípi, quase da mesma idade, democratas — Ford prefere dizer que não é republicano — usam o humor em circunstâncias difíceis, os dois gostam de casas. Com Bascombe, Ford entra em casas, chega à intimidade das pessoas, desvenda-lhes o quotidiano, conhece-lhes o pensamento e narra um país usando a primeira pessoa. Frank Bascombe transformou isso em profissão, Richard Ford é hedonista, faz disso um prazer. E, quando pode, compra casas e habita-as. Já viveu em muitos estados — diz que não sabe em quantos — e actualmente tem casa em quatro: Maine, Nova Orleães, Nova Iorque e Montana, onde uma semana antes desta conversa se tornou proprietário de outra.
“Tenho uma paixão por casas. Cresci a mudar-me bastante. Nasci no Mississípi, vivi no Luisiana e no Arcansas quando era criança. Quando fui para a universidade, quis ir para longe, para o Michigan. Tenho 72 anos e tive dez casas”, afirma como se isso revelasse muito da sua identidade. Em quantos estados viveu? “Não sei, mas conheço muito bem este país. Mas quando se cresce onde eu cresci, num estado que é paroquial e racista, queremos fugir. Eu quis quando tinha 18 anos. Sabia que vivia num sítio mau, no pós-escravatura, marcado pelo ódio. Nesse aspecto não era bem um sítio real por estar tão marcado pela escravatura e pela guerra. Quando cheguei ao Norte, que eu sabia que não era perfeito, senti que o mundo se abria para mim. Pensei que a verdadeira América não era onde eu vivia. A América verdadeira era New England, Chicago, o Pacífico nordeste, onde havia árvores e a água era transparente e limpa. Chegar aos 18 anos ao Michigan foi maravilhoso. Libertou-me.”
Agora pode viver onde quer e escolheu estar entre o Norte e o Sul, o Este e o Oeste, mas segundo as suas próprias regras. “Sou um privilegiado”, refere o escritor, que vive mergulhado no quotidiano da classe média, desmontando o mito do sonho americano que considera uma invenção europeia, e que não é mais do que o sonho humano de viver melhor. “Os europeus gostam de compor a sua versão da América. Gostam de apontar o dedo e dizer: ‘Isso, o sonho, não está a correr muito bem, pois não?’ Do meu ponto de vista, o sonho está a funcionar melhor do que vocês pensam. O que não está a correr nada bem é a Palestina e o Congo. Nesses lugares é que o sonho não está a funcionar mesmo nada. Quando os europeus me dizem que o sonho americano não está a funcionar, eu digo: ‘Calem-se! Falem-me então do sonho das pessoas que vivem na Somália’.”
A conversa com Richard Ford serviu dois propósitos: falar da espécie de grande retrato social que a sua obra — sobretudo Dia da Independência — faz da América e que foi há poucas semanas sublinhado pelo júri do prémio Princesa das Astúrias de Letras como uma das justificações para o distinguir na sua edição de 2016; serviu ainda para falar do seu mais recente livro, protagonizado por Frank Bascombe, Francamente Frank, original de 2014 que a Porto Editora publicou este ano em Portugal. No início de Dia da Independência, Frank prepara-se para passar o fim-de-semana prolongado com o filho, Ralph, um pré-adolescente em sarilhos, a viver com a mãe, a irmã e o padrasto no Connecticut. Será uma viagem de 48 horas entre pai e filho — mais ou menos o tempo do livro — que Frank antecipa com o sentimento de “uma derradeira oportunidade”.
Nesses dias, a maior parte dos americanos tem uma prioridade: “O litoral.” A outra é “desperdiçar dinheiro suado”, a grande “pecha americana” de que são prova os anúncios a marcas, restaurantes, lojas ao longo das estradas até esse litoral sonhado durante as celebrações. Segundo Frank, estas celebrações têm um objectivo preciso: “Evitar que nos preocupemos, para nos convencerem de que as nossas preocupações não são preocupações, ou pelo menos não são apenas nossas mas de toda a gente — de ninguém —, que mantermo-nos no rumo, aguentar firme e enfrentar a natureza cíclica das coisas é o que caracteriza este país e pensar de modo diferente equivale a pôr o optimismo em debandada, ser paranóico e precisar de ‘tratamento’ dispendioso à conta do Estado.”
Estava-se em período de queda de preços do imobiliário, considerado um dos índices de bem-estar do país. E desde então? Em 1988, o preço médio de uma casa de família nos EUA situava-se entre os 121 mil e os 147 mil dólares (aproximadamente, entre 109 mil e 132 mil euros). Em 2011 — segundo o census — flutuava entre os 212 mil e os 242 mil dólares. Ainda em 1988, o rendimento médio familiar era de 92.830 dólares; em 2014 — ano a que reporta o estudo oficial mais recente — esse rendimento era de 124.587. Quer isto dizer que o bem-estar aumentou? “Isso é uma maneira simplista de ver as coisas”, refere Richard Ford, dizendo que a resposta depende de variáveis bem mais complexas. Ele falará sobre algumas. Mas pergunte-se agora: “A escolha da profissão de Frank Bascombe estava ao serviço da narrativa enquanto medida do sonho americano?"
Sim, a pergunta é uma provocação. Ele não nega a verdade da afirmação de Bascombe, de que a classe média quer ter casa própria nem que isso signifique contrair uma dívida para a vida e mais além. Hipotecas, sobre hipotecas, sobre hipotecas é prática comum. Em Francamente Frank, encontramos Bascombe recém-reformado do imobiliário no período pós-Sandy, a tempestade de 2012 especialmente destrutiva na Costa de New Jersey, onde o ex-jornalista desportivo vive e trabalha. Numa das quatro histórias que compõem o livro, encontra Buck, um velho amigo bastante azedo. Dele, Frank elabora: “Escusado será dizer que não gosta do Obama e lhe atribui a culpa de ter atirado para a merda o sonho americano ao criar uma ‘década perdida’ quando se tratava de ‘os pequenos se aguentarem’. ‘É um tipo bastante simpático’ — referindo-se ao Presidente —, ‘mas não estava preparado para assumir o papel…’ Olarila, olarila, olarila.”
Richard Ford escolhe pôr na cabeça de uma personagem como Buck a ideia do sonho americano que despreza. É de Buck o cliché porque dele esperam-se clichés como esse. “Frank zomba da ideia do sonho americano porque eu também escarneço dele”, refere Richard Ford, que elege como grandes desafios da campanha de 2016 “a desigualdade de rendimentos e a nossa relação com os problemas globais da imigração”. Ou seja, “os movimentos de pessoas pobres ou em fuga do terror desde as suas terras de origem, ou de bandeira, em direcção a outros lugares onde sentem que podem ter uma vida melhor. Isso vai causar alterações sociais, claro que vai. Mas é preciso tentar acomodar estas pessoas que não têm o que precisam nas suas terras — água, saúde, mobilidade, ensino, possibilidade — e encontrar nas nossas sociedades, onde queremos preservar valores essenciais que as definem, uma convivência capaz de tolerar a diferença. Pensar: ‘Ok, este é o meu país, é aqui que vivo, vocês podem entrar e talvez eu não possa esperar que vocês vivam exactamente como eu, mas gostava que fossem preservados neste país coisas de que gosto, como a liberdade de expressão, igualdade de direitos…”
Estranhos em casa
O regresso a Portland faz-se ao fim do dia. A luz torna a paisagem cinzenta. Árvores, asfalto e água parecem ter a mesma tonalidade naquele dia ainda curto de Primavera. Como a descreveria Frank Bascombe? Dele, temos a descrição de Haddam do Verão de 1988 no arranque de Dia da Independência, quando a prioridade dele e do filho, ao contrário da da maioria dos americanos, não era seguir em direcção ao litoral, mas visitar o máximo de museus desportivos que lhes fosse possível em 48 horas. “Em Haddam, o Verão paira sobre ruas suavizadas por árvores como uma olorosa loção balsâmica emanada de um deus descuidado e langoroso, e o mundo entra em sintonia com os seus próprios hinos misteriosos. Relvados sombrios repousam imóveis e húmidos no alvor da manhã. Lá fora, no sossego matinal de Cleveland Street, ouço passar um jogger solitário, que em seguida desce a encosta na direcção da Taft Lane e atravessa para o Choir College, onde correrá na relva orvalhada. No caminho dos negros, homens sentados nos alpendres, com as calças arregaçadas acima da ourela das peúgas, sorvem café no calor agradável, que vai aumentando. Na escola secundária, a aula de aperfeiçoamento matrimonial (das quatro às seis) terminou, e os seus frequentadores, estonteados e sonolentos, saem para voltar para a cama. […] a brisa é perfeita para se ouvir o Amtrack (…) passar com um bólide em direcção a Philly.”
Philly, diminutivo de Filadélfia, para onde correm os democratas no Verão de 2016. Como em 1988, com Dukakis em Atlanta, tudo indica que Clinton saia como candidata oficial do partido às presidenciais de Novembro. E os democratas esperam que o desfecho seja diferente daquele que deu a vitória a Bush há 28 anos.
O Amtrack, o comboio que sai de Nova Iorque e atravessa New Jersey até chegar a Filadélfia, onde foi assinada a Declaração de Independência em 1776, atravessa territórios de combate, o primeiro a ser colonizado, o da disputa entre o Norte e o Sul que terminou na sangrenta batalha de Gettysburg em 1865 após quatro anos de guerra. Nela, morreram 750 mil americanos. As marcas estão lá, um imenso campo transformado em museu ao ar livre, símbolo da América unida de Abraham Lincoln e do fim da escravatura. Aconteceu na Pensilvânia, estado onde se situa a maior comunidade amish, refugiados religiosos originários da Suíça, que ali replicam um modo de vida tanto quanto possível idêntico ao do século XVII. Foi quando aconteceu o cisma de 1693 liderado por Jakob Amman, que dividiu os anabaptistas suíços. Os seguidores de Amman recusaram o baptismo e fundaram uma igreja que ficou conhecida por Amish. Cerca de 300 mil vivem nos Estados Unidos e cerca de dois terços na Pensilvânia, muito próximo da terra natal de John Updike.
Updike é outro autor que criou um protagonista para uma série ficcional. Harry “Coelho” Angstrom é o alter-ego mais ou menos assumido do escritor, ex-jogador de basquetebol e, no presente ficcional, de Updike vendedor de um sensacional descascador de cenouras à procura de um sentido para a sua vida. Ele é o protagonista da série de cinco romances iniciada em 1960 com Corre Coelho (Civilização, 2007) — tinha Angstrom 26 anos e Updike 28 — que terminou com Regressa Coelho, um original de 2001, oito anos antes da morte de Updike. Como na série de Ford, temos um homem a deambular pelo país. No caso de Updike ainda mais.
Em Shillinghton, pequena cidade de cinco mil habitantes a 148 kms de Gettysburg e a cem de Filadélfia, a casa onde Updike nasceu e cresceu está a ser recuperada pela fundação com o nome do escritor, autor de uma das obras mais diversas e vastas da história da literatura americana. Tal como a de Ford, quase toda centrada na existência da classe média suburbana. Foram 30 romances, 17 colectâneas de contos, dez livros de poesia e livros de ensaio e crítica. Ele falava de claustrofobia para classificar o sentimento em relação a esse lugar maioritariamente branco e silencioso no final de Março de 2016.
Entre cerejeiras em flor, a casa segue o modelo de tantas outras que se encontram por todo o estado. Dois pisos, um jardim, e uma ideia de perfeição, ideal de vida em comunidade, que é isso mesmo: um ideal. Aquilo a que Ford se refere em Dia da Independência como “vida familiar americana ideal” e que segundo Bascombe “é apenas propaganda de um modo de vida que ninguém poderia suportar sem acesso às drogas impulso-repressoras”. Como Ford no Sul dos Estados Unidos, Updike nunca se sentiu em casa em Shilligton, mas transportou-a para toda a sua obra. Um dia, os dois escritores encontraram-se em Londres. Foi em 1996. Ford tinha 52 anos e era admirador de Updike, que completara 64. “Conversámos, se bem me lembro, de médicos, dinheiro e imobiliário — coisas de que falam os escritores. Mais tarde, ficámos amigos”, escreveu Ford na revista New Yorker em Janeiro de 2009, dois dias depois da morte de Updike.
A paisagem enquanto destino
Regresso ao presente. À saída de East Boothbay, Richard Ford recomenda um endereço a Salaad M. Shardi em Portland. É um restaurante, “o melhor para experimentar o peixe da região”, garante o escritor. É um sítio de fine-dining num bairro maioritariamente muçulmano. É fim de dia, há gente a sair do emprego em direcção a casa, homens à conversa encostados às paredes, numa última nesga de sol.
No dia seguinte, o almoço faz-se no porto de pesca, num bar frequentado por pescadores e locais, com os populares lobster-rolls (sanduíches de lagosta) e cerveja. Ao balcão e nas mesas de madeira, comem-se amêijoas, bebe-se vinho branco e contam-se notícias da terra. Não há turistas e há tempo para os funcionários conversarem com os clientes sem a pressa de ocupar novamente as mesas e multiplicar a gorjeta o máximo possível. Das colunas sai uma música country que abafa muitas palavras e transforma os diálogos num burburinho de fundo sem sentido. Na rua faz sol, mas sopra um vento gelado. Sobe-se a cidade por uma rua estreita de empedrado vermelho. Há comércio dos dois lados em prédios de habitação de dois ou três pisos. Quase a chegar a uma das praças centrais, a montra de uma livraria exibe o mais recente romance de Richard Russo, Everybody’s Fool. É o regresso de outro protagonista conhecido da ficção recente norte-americana tornado famoso em Nobody’s Fool, romance de 1993 adaptado ao cinema por Robert Benton, com Paul Newman como protagonista.
Como Harry “Coelho” Angstrom e Frank Bascombe, Donald Sullivan (Sully) serve a Russo para traçar a cadeia de relações e de emoções de uma cidade típica dos subúrbios brancos da Costa Leste americana. Em vez de Haddam, em New Jersey, temos North Bath no estado de Nova Iorque, outra cidade imaginada à semelhança de outras, bem reais. Richard Russo também não se livra desse ambiente na sua obra. Natural de Johnstown, onde nasceu em 1949, Russo cresceu na vizinha Gloversville, cidade de 15 mil habitantes a três horas e meia de carro de Nova Iorque rumo a norte. A terra é o centro do livro de memórias Elsewhere (2012), onde o escritor narra a sua relação com a mãe no que se revela um fresco íntimo da vida no interior. “A verdadeira Gloversville, sobre a qual escrevi em Elsewhere, é uma inpiração para todas as minhas cidades imaginárias”, refere Richard Russo.
Como Ford, ele vive no Maine, justamente em Portland, mas nesses dias não está na cidade. Anda em tournée pelo país a promover o novo romance e aceitou falar com o PÚBLICO sobre a relação da sua escrita com a classe social a que sente pertencer. Gloversville é assim a base de lugares como Mohawk, Empire Falls, Thomaston ou Railton, os sítios onde decorrem a acção das histórias que conta. “A cidade, durante tanto tempo enferrujada, revela agora alguns sinais de renovação”, diz, acrescentando que a biblioteca que ficcionou em A Ponte dos Suspiros (Civilização, 2008) é agora o epicentro da comunidade que foi alvo de um investimento de mais de sete milhões de dólares para recuperar de décadas de negligência.
“Eu não sonhava que fosse possível conseguir um milhão, quanto mais sete, mas um grupo de cidadãos dedicados conseguiu angariar fundos, obter garantias bancárias e uma legislação inovadora em colaboração com departamentos estatais e apoios políticos.” Mas, mais do que dinheiro, declara Russo, “essas pessoas conseguiram restituir orgulho e optimismo à cidade”, conclui, acrescentando que falta ainda percorrer um longo caminho para retirar Gloversville da longa estagnação, “mas pela primeira vez em gerações é possível imaginar um futuro alternativo”.
Nos últimos meses, Richard Russo tem sido uma voz activa politicamente a partir dos seus romances. E quase sempre a partir de um tópico que o leva a viajar pela história recente da sociedade americana: a relação entre a sua escrita e a paisagem. “É verdade que a paisagem tem um papel muito importante na minha ficção, apesar de eu não pensar muito nisso. Não se pensa em respirar a não ser que tenhamos dificuldade em fazê-lo”, justifica.
A paisagem condiciona porque determina o comportamento e o destino das personagens. Ficcionada, ela vive bem real na memória de Russo moldada pela infância. Existem montanhas, fábricas ou vestígios delas, velhos carros em estradas sinuosas, uma janela de onde se avista a vida da vizinhança. É a partir dela que descreve a classe média. “A cidade onde cresci funciona, na minha ficção, como o detector de metais numa mina. A indústria de peles dominava a economia em Gloversville até o estado de Nova Iorque impor restrições ambientais. Depois disso, as fábricas de curtumes fecharam e mudaram-se para a Indonésia e outros locais de mão-de-obra barata onde pudessem poluir à vontade. Era a globalização ao estilo dos anos 50. Todos esses empregos se perderam. Desde então, a história tem-se repetido em todo o país.” Para Russo, a perda de empregos é a ponta do icebergue de uma crise que permanece até hoje em lugares como Gloversville. “Quando as pessoas perdem os seus empregos e o rendimento que daí advém, perdem o rumo e o respeito por si mesmas. Quando isso acontece a uma comunidade inteira, o efeito é a depressão, o desespero que contamina gerações inteiras.”
Isso ajudar a explicar opções políticas extremadas. Há o medo por detrás. O medo de perder um sentido de grandeza que foi incutido no pós-guerra. Os políticos falavam de uma América Grande baseada justamente na expansão de conforto, educação, acesso a bens materiais, “possibilidade”, como lhe chama Richard Ford. “As que sentem esse vazio”, continua Russo, “procuram bodes expiatórios e quase sempre fixam-se nos alvos errados. Os decisores que destruíram a sua subsistência estão ricos e a viver longe. Perto de casa, estão pessoas — muitas vezes de pele escura — que parecem estar a prosperar e estão dispostas a trabalhar por menos dinheiro ou (contraditoriamente) a ter acesso a educação e bens sociais gratuitos. Neste caldeirão surge alguém como Donald Trump a atiçar as chamas.”
Russo não tem dúvidas de que é nesta comunidade que o populismo como o de Trump consegue adeptos. “Ele rege-se deslocando culpas e promessas e construindo muros para pôr de fora essas pessoas que surgem como ameaça. Claro que nem toda a classe média mais baixa chega a essa conclusão, de que os culpados são as minorias.” Para o escritor, a prova de que a classe média norte-americana está dividida é o facto de os trabalhadores com uma formação mais elevada “terem dirigido o seu pedido de ajuda a outra figura populista, Bernie Sanders, que desviou a revolta e o sentimento de injustiça para os incontestavelmente ricos”.
Hillary Clinton aparecerá no meio, como uma figura do sistema que muita desta gente real e ficcional condena e culpa. Ela faz parte do sistema que os esqueceu, mas que aparentemente parece ter integrado pessoas como Salaad Shardi. Será que integrou? Ele quer acreditar que sim. É esse o sonho de Salaad para a América.




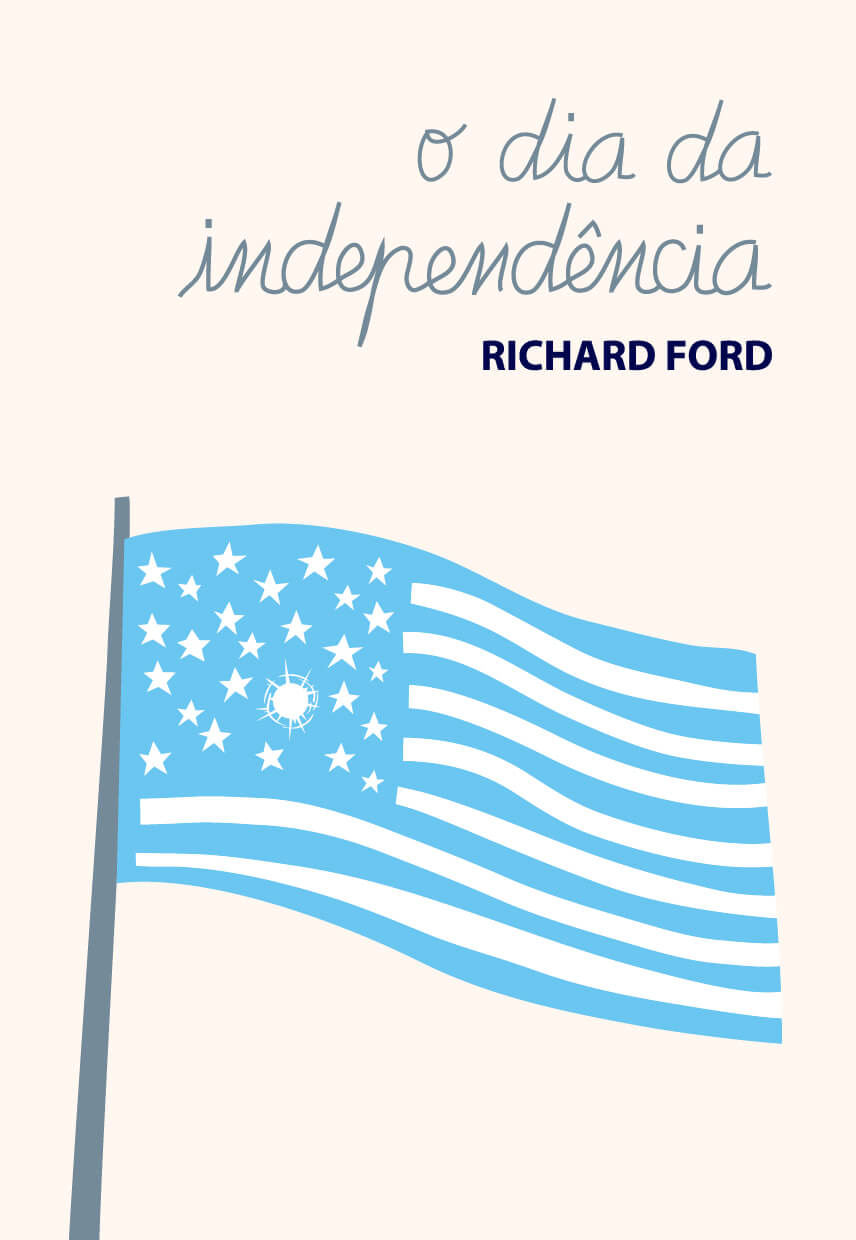

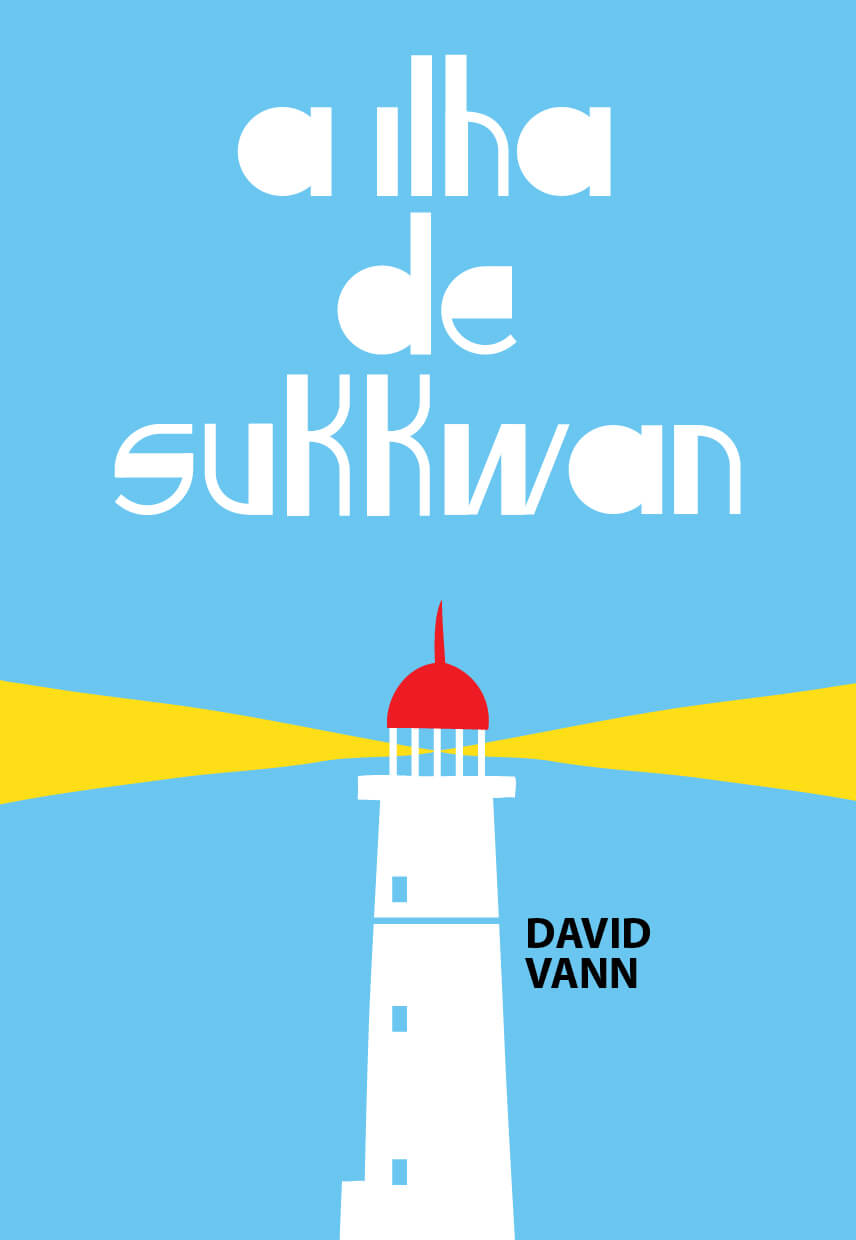
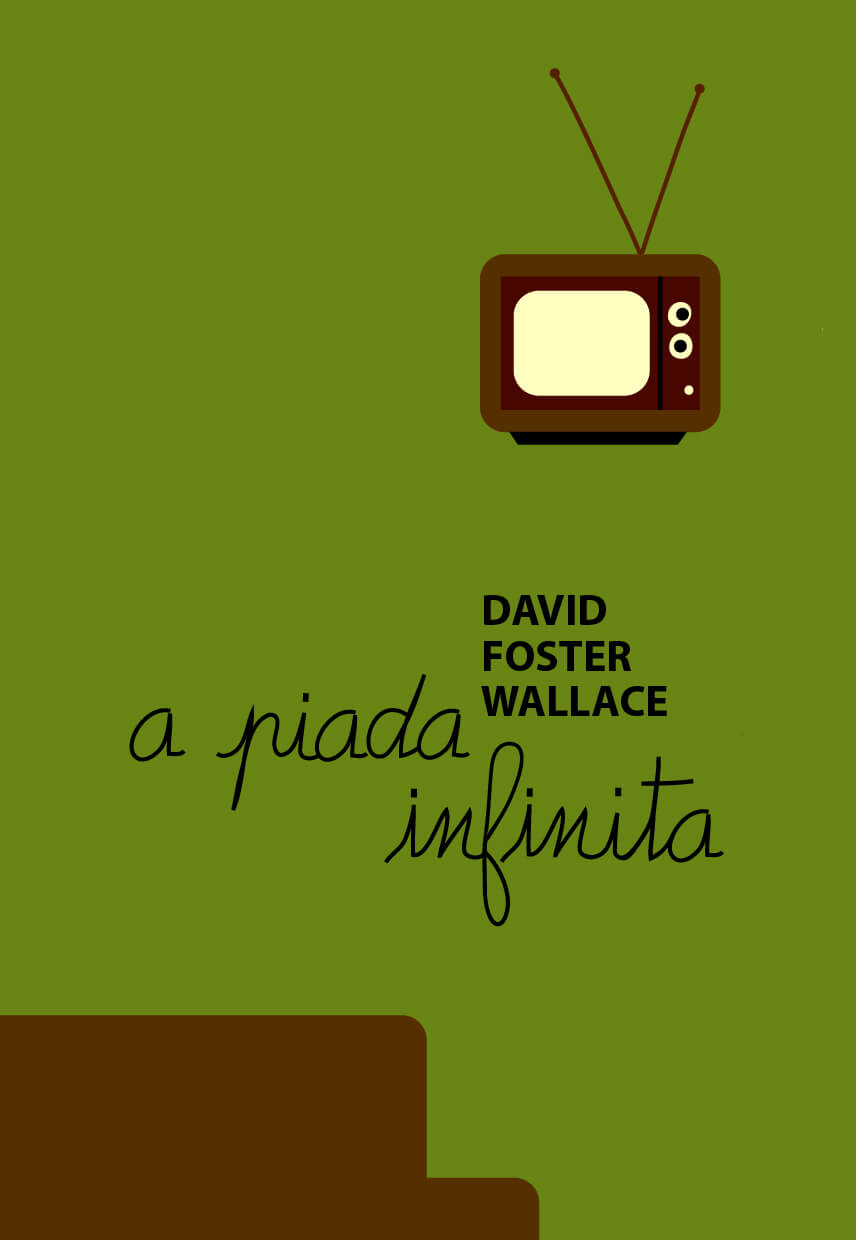


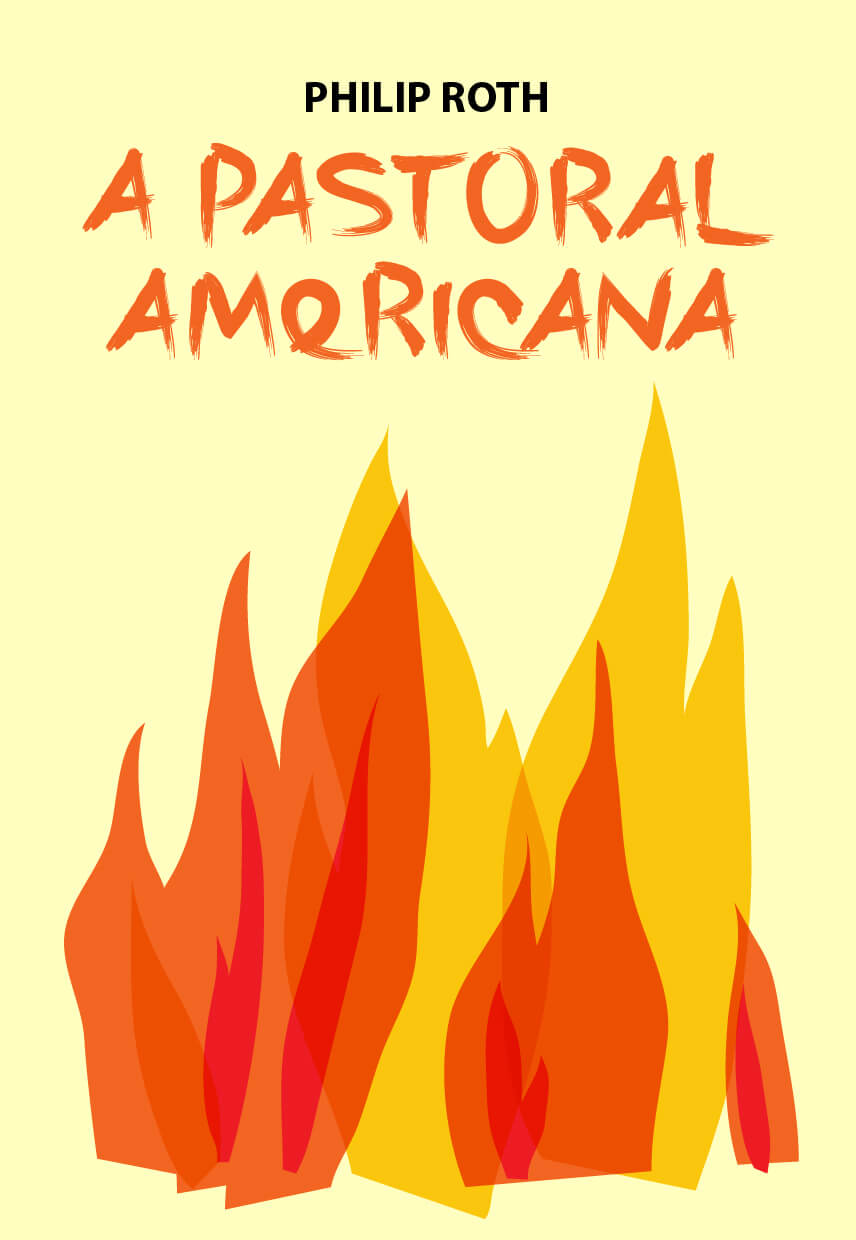
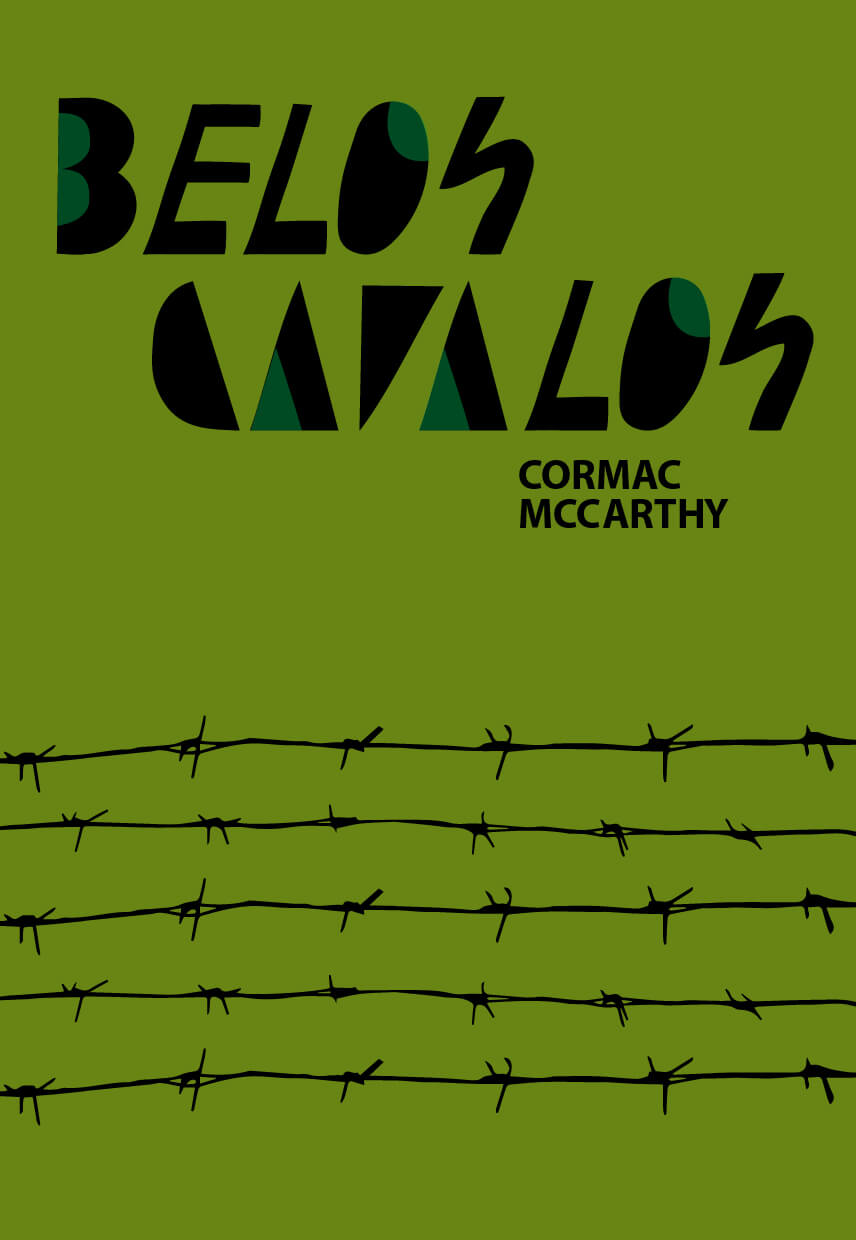
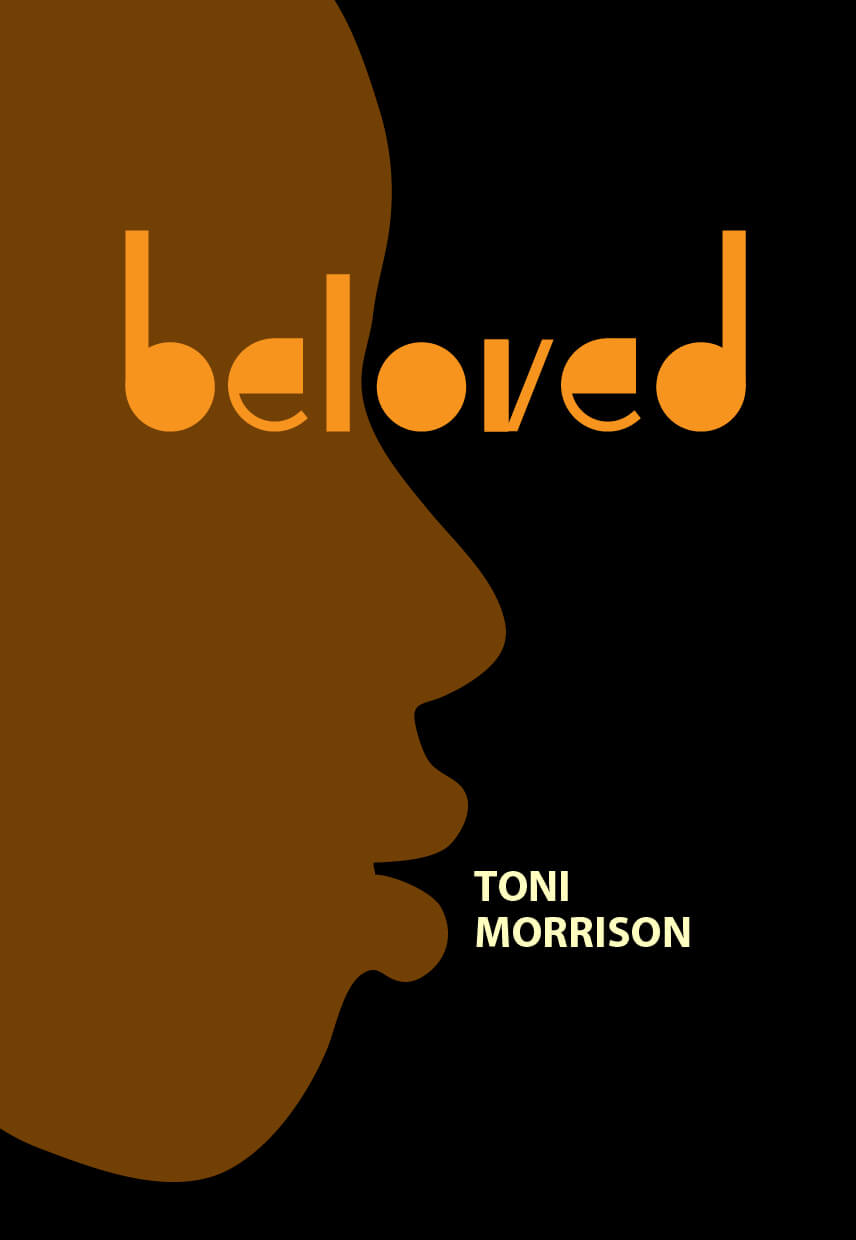
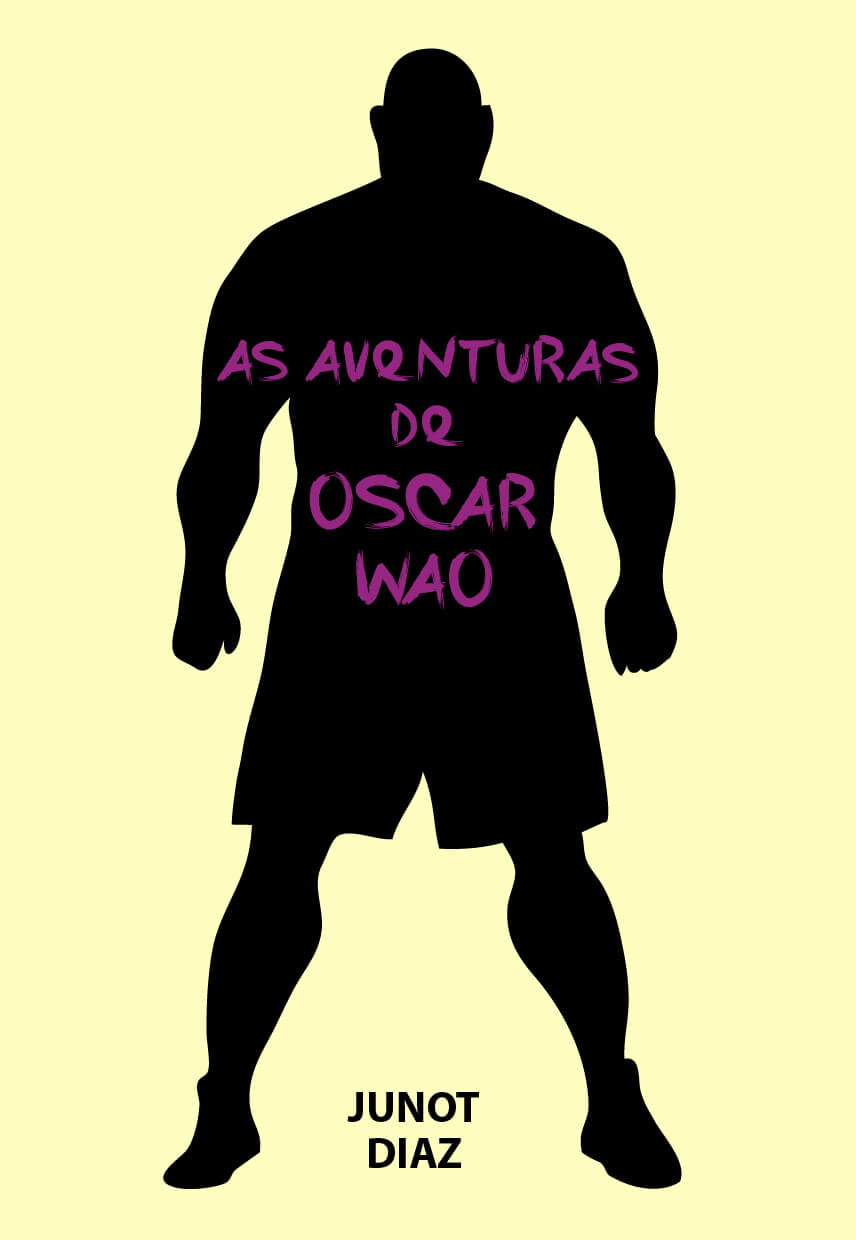



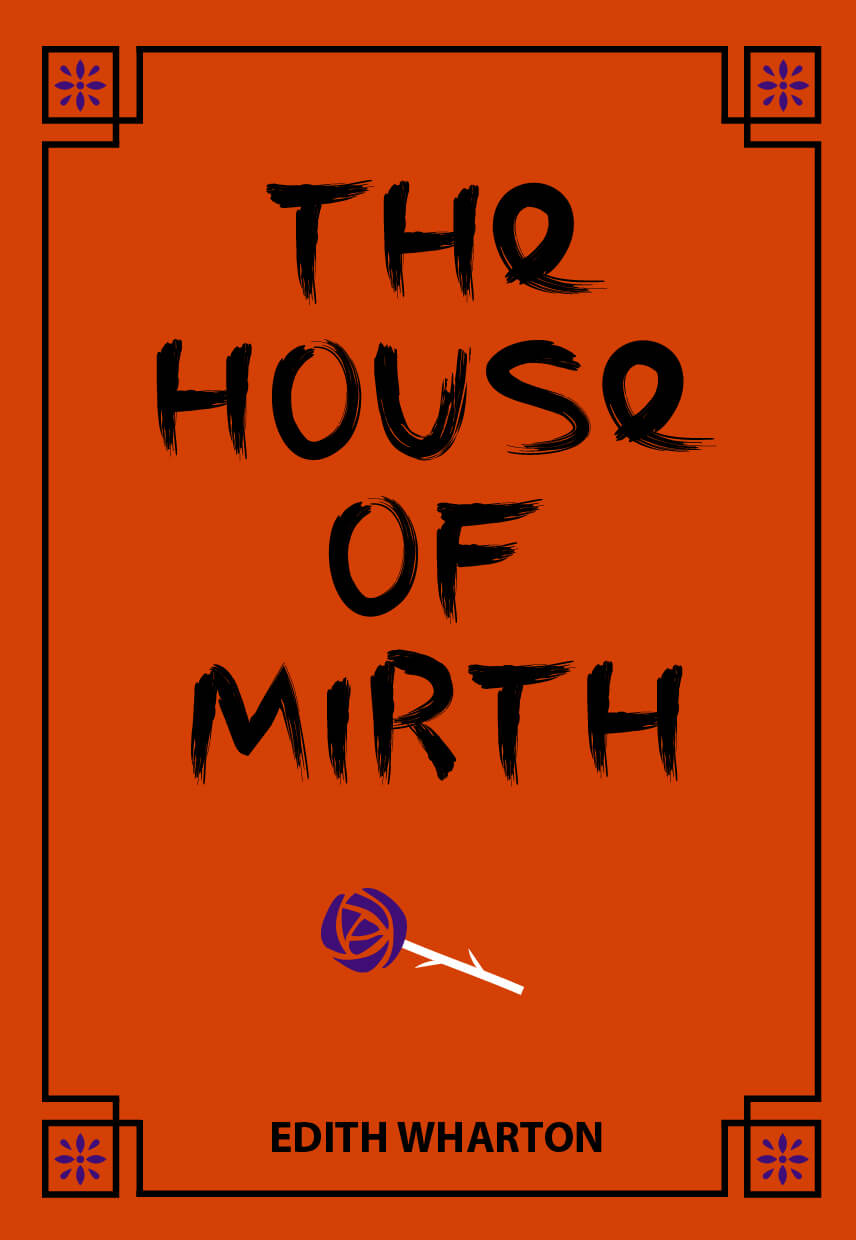



Comentários