Na estação de comboios de Back Bay, em Boston, uma mulher fala alto sozinha. Não grita, é como se conversasse, tivesse um interlocutor à sua frente e fosse respondendo a perguntas.“Bem, eu falo cinco línguas, sabe? Inglês, francês, alemão, italiano e crioulo cibernético.” Tem um vestido africano colorido até aos pés e uma gabardina quente por cima, capaz de a proteger do frio e da chuva miúda que há vários dias cai incessantemente. O cabelo está envolto num turbante às flores, verde e lilás, e as mãos pousadas no que parece ser uma mala de computador. “Quer que exemplifique?”, continua na espécie de entrevista imaginária que congrega cada vez mais curiosos à sua volta, todos a fingir que não estão a ouvir, apenas a consultar o horário de comboios na parede ou a olhar o telemóvel. Ela continua: “É uma gíria, com ela sou capaz de comunicar com o meu povo pela Internet... Sim, mudou tudo. Vejo-os e eles vêem-me. É bom, é bom.” Diz isto e não há indícios de estar ciente da curiosidade que suscita. Só ela, num suposto diálogo, feito num inglês cuidado, com pausas, uma actriz involuntária para uma plateia perplexa: os que fingem não a ouvir. Um homem vai até ela, pergunta com quem está a falar, mas não lhe tira uma palavra. Ela só desvia o olhar brevemente. Ajeita depois as mãos na pasta que tem ao colo e fixa o mesmo ponto de antes, agora num sussurro imperceptível.
Quem é? Qual é a sua história? É louca? Não é isso que se estranha. Um em cada cinco americanos sofre de perturbações mentais (dados de 2015 do Instituto Nacional de Saúde Mental). A média mundial é de uma em dez pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Estranha-se, sim, uma coerência naquela loucura hipotética, como se a mulher fosse o oráculo de um tempo, o presente. Ela vive no presente do futuro próximo, tal como o concebeu o escritor David Foster Wallace na sua obra magna A Piada Infinita (Quetzal, 2012), onde as vidas dos americanos de agora parecem imitar as que ele criou em 1996, e a América actual parece imitar o modelo por ele elaborado. Isto confere a Wallace uma espécie de beatitude literária: o seu livro não previu este tempo muito diferente do que ele realmente é.
Quando a era digital dava os primeiros passos, a ficção de Wallace falava de um domínio do entretenimento, da perseguição do prazer total, do totalitarismo do consumo, da dependência de substâncias — medicamentos, droga, álcool — e de gadgets, da preponderância de patologias mentais, da alienação, da solidão, do vazio, do suicídio e de uma imensa tristeza, pessoal e colectiva. “O tempo de uma culpa colectiva”, como lhe chamou Jonathan Franzen, amigo de Wallace, escritor que no seu último romance, Purity (Dom Quixote, 2015), questionou a intenção tecnológica de estar a trabalhar em prol do bem. Estamos no território da ambiguidade em que se movem os homens e, por isso, a literatura. O totalitarismo do entretenimento de que Wallace falava ou o da rede digital, onde o conhecimento se guarda e multiplica e que Franzen desmonta a partir de organizações bem reais como a WikiLeaks. “Não é o bem, não é o mal”, disse Franzen numa entrevista ao PÚBLICO, há um ano, porque nada é tão simples.
Em tudo isto, a moral e a ética jogam um papel determinante. O que consumir? Para fruição ou alimento do saber, consolidação da democracia, para avançar na ciência. “Ler A Piada Infinita é uma experiência demográfica, geográfica. Além de estética, intelectual, emocional”, disse numa estação de rádio local Paul Ford, especialista em digital, autor de artigos na Bloomberg e New Yorker, acrescentando que o livro de Wallace é uma tentativa de “descodificar o código que rege o mundo”.
A leitura de A Piada Infinita é o contrário de entretenimento, embora não lhe falte ironia. A obsessão é outra, seguir uma cabeça que quer captar o ritmo, os nervos do mundo. A mulher que fala sozinha na estação faz parte desse enigma.
É sábado, passa pouco das nove da noite e não há muito movimento ali, em Back Bay, uma dos maiores centros de distribuição de tráfego de Boston, a par de South Station. Martin espera o comboio das 21h36 para Providence. Ouviu a conversa solitária da mulher. “Incrível! Como é que ela chegou áquilo do crioulo cibernético?” Tem um braço por cima dos ombros da namorada e na outra mão uma garrafa de água. Vieram com três amigos, dois rapazes e uma rapariga, “ao cinema, comer uma pizza, beber uns copos, espairecer”, diz. Regressam agora todos ao campus da Universidade Brown, no estado vizinho de Rhode Island. “Ela deve ser um crânio e às tantas passou-se”, comenta Jenny, uma rapariga de longos cabelos pretos sem tirar os olhos de um dos rapazes do grupo a fazer razias à linha amarela que separa a zona segura da de perigo, mesmo antes do fosso dos carris. “Cuidado, ainda cais!”
A conversa deles é distraída, vão falando e mexendo nos telemóveis. Martin e Jenny têm 20 e 19 anos e vêm da Pensilvânia. Os outros são da Califórnia, Illinois e Nova Iorque. Encontraram-se todos em Providence, estudam Saúde Pública e nunca leram Foster Wallace, o escritor que poderia estar a falar deles quando vaticinou um futuro em que as pessoas falariam para os seus computadores portáteis pessoais. Chamava-lhes utilizadores videofónicos. “Os utilizadores descobriram que tinham de pôr a mesma expressão quase demasiado intensa de quem fala cara a cara. Aqueles utilizadores que, por força de um hábito inconsciente, sucumbiam à tentação de fazer rabiscos ou arranjar a roupa, davam a impressão de serem grosseiros, estarem distraídos ou de prestarem uma atenção infantil a si mesmos. Os utilizadores que, ainda mais inconscientemente, espremiam sinais e metiam o dedo no nariz, obtinham expressões de horror na cara do outro lado da linha. O que tinha como resultado uma evidente tensão videofónica.”
Se aquela mulher cujo nome não sabemos é louca, como ficou louca, qual é a sua história? “So, yo, then man, what’s your story?", apetece perguntar, adaptando à personagem a frase que David Foster Wallace escreveu em A Piada Infinita e foi, entretanto, tantas vezes repetida, tatuada na pele por wallacianos fanáticos, desde a publicação desse épico contemporâneo. O livro conta a história de um povo num tempo. Trágica, irónica, metáfora de um modo de ser que se exporta para o mundo pela sua capacidade de alienação. A América de Foster Wallace, aquela a que ele não resistiu, nem enquanto autor nem como vítima — enforcou-se em 2008, aos 46 anos, após um longo período de depressão — é a que está sempre a perguntar “qual é a sua história, conte-a” para depois passar a outra história numa incontinência consumista em busca do entretenimento infinito.
Somos sempre nós
Estamos em Boston, aglomerado urbano de quase seis milhões de pessoas, capital e maior cidade do estado do Massachusetts, um dos grandes pólos universitários do país, onde Wallace viveu entre 1987 e 1992, como estudante de Filosofia em Harvard e professor em Emerson. É fim de Inverno e já há árvores a florir nos parques, apesar de a neve ir caindo. A cidade e os que a visitam também se vai entretendo com os autores que a escreveram. São muitos e têm itinerários personalizados. Wallace, na sua deriva, não escapou. Ele é entretenimento digital. Descarrega-se uma aplicação para telemóvel, a Infinite Boston, uma série de mapas e de ensaios sobre a cidade n’ A Piada Infinita. É um intrincado de mais de 50 pontos a partir do qual a trama se expande para se tornar uma metáfora da América. Boston é centro da narrativa dominada pela família Incandenza, os protagonistas, e uma complexa rede de personagens-satélite. E o mapa torna-se Infinite Map, também disponível online e estendendo-se a toda a América.
Logo no início sabemos que o pai, James Orin Incandenza Jr., se suicidou colocando a cabeça num forno microondas. Ele era o fundador da Academia de Tenis Enfield — contígua a um centro de reabilitação para dependentes de droga e álcool —, realizador e autor de Infinite Jest (A Piada Infinita), também chamado Entretenimento, um filme que seduz fatalmente quem o vê. O filho mais novo de James, Hal, é o protagonista do livro, fumador compulsivo e secreto de marijuana, com tanto talento quanto dúvidas sobre as suas capacidades. É uma espécie de alter-ego de Foster Wallace, como ele é um jogador de ténis prodigioso que desafia os limites da linguagem, questionando o que o rodeia à medida que tenta encontrar o seu lugar num mundo tiranizado pela indústria do entretenimento, imerso da alienação, onde o valor supremo é o prazer, e onde o tempo, na sua cronologia, é patrocinado por marcas. Os rendimentos dessa subsidiação alimentam os cofres do Estado. Estamos no ano de Glad ou no ano da roupa interior para adultos Depend, os tais anos que se percebe serem num futuro próximo e num território extenso que se identifica como ONAN, de onanismo.
O romance não é sobre Boston, é sobre um território num tempo e Boston forneceu um modelo que se potenciou longe dali, no outro lado do país, actualmente o grande centro tecnológico e motor da indústria de entretenimento: a Califórnia, estado onde Wallace morreu em 2008.
Nesse percurso para oeste, um indivíduo pode reinventar-se como se reinventa o país. Ou melhor, como a América se tentou reinventar nessa conquista territorial, enaltecendo nada mais do que o ideal do indivíduo. "Sejam bem-vindos ao significado da palavra individual. Aqui estamos profundamente sozinhos. É o que temos em comum, esta solidão", escreveu Foster Wallace. Se o presente era assim, o futuro seria ainda mais, quando o virtual fosse transportável num computador pessoal. Não era assim há 20 anos. É assim agora. Estima-se que em 2020 o mercado de media e entretenimento nos Estados Unidos ronde os 2200 milhões de dólares, permanecendo o maior mercado do mundo neste sector. Em 2014 gerou 598 mil milhões de dólares em receitas (número do departamento de Comércio americano), quase três vezes mais do que o PIB português, o que corresponde a 29% das receitas geradas neste mercado em todo o mundo. Não se espera que perca posição, antes que a reforce. E concentra-se essencialmente nas duas costas: na zona de Los Angeles, na Califórnia, e em Nova Iorque.
Wallace faz perguntas incómodas que são as que faz neste momento este país a si mesmo, nem que seja secretamente. “Podem estes EUA sobreviver durante muito mais tempo? Sobreviver como uma nação de outros povos? (…) Se estes forem povos que ainda saibam o que é escolher? Que morrerão por uma coisa maior? E sacrificariam a confortável mansão, a mulher amada, as pernas, até a vida por uma coisa maior do que os próprios desejos sentimentais? E não escolheriam morrer apenas por prazer?”, pergunta uma das personagens de A Piada Infinita. Estamos no país que glorificou o indivíduo e se estruturou nessa ideia da individualidade, conforme Herman Melville melhor que quase todos escreveu noutro livro, noutro tempo, sobre a essência da América, Moby Dick. Esta é uma distopia, atenção!, vai apetecendo dizer enquanto se lê o livro, e se pensa no que ele traz de olhar pessimista sobre nós. Somos sempre nós.
A oeste
Agora em viagem. São precisas 46 horas para percorrer, sem paragens, os cinco mil quilómetros entre Boston e São Francisco. Mais 500 quilómetros do que a distância que vai de Lisboa a Moscovo. É nesse vasto pedaço de terra entre a Costa Leste e a Costa Oeste que se passa A Piada Infinita. No livro, é um imenso território que não respeita fronteiras físicas nacionais e se estende para norte e sul, entrando pelo Canadá e México. É a América do Norte, uma zona ficcionalmente identificada com a tal sigla ONAN e com uma águia como símbolo, “uma águia rezingona vista de frente com uma escova e uma lata de desinfectante numa garra e uma folha de carvalho na outra, com um chapéu mexicano e ar de estar a comer um pedaço de tela com estrelas cravadas”. No mapa real, refere-se a um país-continente, metáfora do sonho, atravessado por aventureiros, paisagem para vaguear. Atravessá-la, fazer o mítico Costa a Costa, é sentir que as possibilidades existem e há sempre a hipótese de um homem se poder cumprir nessa viagem. Não é a típica costa a costa da Route 66 batida por turistas, desde Chicago a Santa Mónica. É maior — mais mil quilómetros — e une dois oceanos. É possível ir de um lado ao outro e voltar, nem que isso seja pura ilusão.
A viagem de avião entre as duas cidades dura seis horas e meia. É ir da chuva miúda e uma humidade que se cola aos ossos de Boston até ao céu de chumbo e uma bátega de água como não se via há muito em São Francisco. Quando chove assim, a Califórnia agradece muito. Há uma cortina entre os olhos e a paisagem. Pode ser chuva, fumo, nuvens. “O nevoeiro escorria das montanhas de São Francisco como líquido que praticamente era. Em dias melhores alastrava até ao outro lado da baía e invadia Oakland rua por rua, uma coisa que se via chegar, uma mudança que as pessoas viam acontecer-lhes, uma estação em movimento. Quando se deparava com sequóias, caíam as chuvadas mais localizadas. Quando encontrava terreno aberto, a sua passagem pálida e imune à gravidade parecia simultaneamente infindável e o fim de todas as coisas. Era uma tristeza temporária, ainda mais bela por ser triste, mais preciosa por ser temporária. Era a canção lenta em tom menor que depois o Sol de rock-and-roll dispersava”, lê-se em Purity, romance onde muita coisa se passa também na Califórnia.
É ali o centro do mundo digital e tecnológico, em Silicon Valley, na zona da baía de São Francisco, onde se encontram os estuários dos rios San Joaquin e Sacramento depois de descerem a Serra Nevada até ao Pacífico. É ali que se concentram 40% dos recursos de água de toda a Califórnia, à volta da cidade de São Francisco, Oakland e San José, onde vivem sete milhões e meio de pessoas e o PIB é de 785,5 mil milhões de dólares, facto que a colocaria na 19.ª posição mundial se fosse um país independente. Muito graças a Silicon Valley, a maior região tecnológica do mundo. Empresas como Google, Apple, Yahoo, eBay, Facebook, Cisco ou Oracle têm ali a sua sede. David Foster Wallace não viveu para conhecer este sítio com esta dimensão. É também um dos maiores pólos de conhecimento com universidades como Berkeley ou Stanford, um pouco como é Boston na outra costa, com Harvard ou o MIT.
A sede do Projecto Luz Solar — concebido por Jonathan Franzen um pouco à imagem do WikiLeaks, e fundado por um homem chamado Andreas Wolf, com muitas semelhanças a Jacques Assange — não fica longe. É 95 quilómetros a sul, em Santa Cruz, a capital do surf, onde Franzen vive e trabalha. Pip, diminutivo de Purity, protagonista do romance, vai trabalhar com Wolf. Ele recruta jovens altamente qualificados e ambiciosos de todo o mundo e é um consumidor de pornografia digital. E estamos no ambiente distópico tal como Wallace o descrevera. Ao ler Purity, percebe-se que, apesar da exclusiva rede de piratas informáticos que montara, foi a pornografia que fez Andreas render-se à informática “e ao seu potencial de transformação do mundo”. “A disponibilidade imediata e ampla da pornografia, o anonimato do acesso, a insignificância dos direitos, a gratificação instantânea, a escala do mundo virtual no interior do mundo real, a dispersão global das comunidades que partilham conteúdos, a sensação de poder que o rato e o teclado transmitem…”
No princípio de tudo, Andreas não tem dúvidas de que a Internet irá ser fantástica. Foi antes de lhe conhecer uma pulsão de morte. “Só muito mais tarde, quando a Internet passou a significar morte para ele, se apercebeu de que também na pornografia digital tivera vislumbres da morte. Qualquer compulsão, como era o caso do visionamento de imagens digitais de sexo, que rapidamente se tornava compulsiva a ponto de devorar dias inteiros, cheirava a morte pela forma como curto-circuitava o cérebro, pela forma como reduzia a pessoa a um circuito fechado de estímulo e resposta. Mas também já havia, nos dias de protocolos de transferência de ficheiros e de grupos de discussão ‘alternativos’, uma sensação de vastidão insondável que iria caracterizar a Internet em fase de maturidade, e as redes sociais que viriam depois; nas imagens da esposa de alguém sentada nua na sanita, a típica obliteração da distinção entre privado e público…”, escreveu Franzen em Purity. A eficácia do entretenimento comercial é esse, diria Foster Wallace, muda o que as audiências procuram.
O livro de Franzen, além de muitas outras coisas, é uma crítica ao universo da Internet e ao modo como a informação online é gerida. Como Wallace, também ele compara o que se passa nessa gestão com o modo como os regimes totalitários manipulam quem neles vive. E tudo começa como uma intenção de pureza. Na conversa com o PÚBLICO, Franzen sublinhou a ideia de intenção tecnológica. “O mantra de Silicon Valley é fazer do mundo um lugar melhor e acho que muito desse desejo de tornar tudo muito eficiente, como uma máquina, tem implícita a ideia de um mundo mais limpo. Infelizmente, quando se chega a adulto, percebe-se que é quase impossível mantermo-nos limpos” e é aí que entram as vidas das personagens de Purity, gente que vai perdendo a inocência, como Andreas, ou Pip. Ou a ambiguidade. Volta a dizer, o bem e o mal não existem a não ser enquanto ideia. Numa entrevista dada em 1996 a uma estação de rádio americana, a Open Source, Wallace afrimava: “Há esperança de que a Internet venha ajudar na democratização das pessoas e estimulá-las a interagir. Mas se continuarmos a ter uma nação de gente sentada em frente a um ecrã, a interagir com imagens em vez de estarem umas com as outras, a sentirem-se sozinhas enquanto recebem e procuram mais imagens, vamos ter o mesmo problema básico. E quanto melhores ficarem as imagens mais tentador será interagir com elas.” Wallace tinha uma visão céptica do futuro. E parecia dizer: desliguem a televisão, afastem-se dos computadores, fixem-se na realidade humana e vejam se se encontram por lá. Era uma espécie de ladainha que repetia a si próprio.
Agora, no livro de Wallace, duas personagens conversam. “Randy Lenz regala Bruce Green com histórias sobre determinados cultos imobiliários do Sul da Califórnia e da Costa Oeste. De tipos de Delaware que ainda acreditavam que a pornografia de realidade virtual, embora se tivesse descoberto que provocava hemorragias nos cantos dos olhos e impotência permanente no mundo real, continuava a ser a chave para aceder ao Shangri-la e que um exemplo qualquer de porno digital-holográfico andava a circular por aí sob a forma de uma disquete com software pirata protegido contra cópia, e dedicavam as suas vidas cultistas a farejar por todo o lado para tentar abocanhar essa disquete do kamasutra virtual e a reunirem-se em locais escuros na zona de Wilmington para falar de forma bastante oblíqua dos rumores sobre onde estaria e o que seria ao certo esse software e de como andavam a correr as buscas, e para ver filmes de foda virtuais enquanto limpavam os cantos dos olhos, etc.”
A Piada Infinita é uma distopia, relembramos, mas retirem-se as disquetes que já não existem e temos ali uma tristeza muito actual. Como, aliás, referiu há uns meses a jornalista e escritora Renata Adler num podcast que celebrava os 20 anos do romance de Wallace. Ali, fazia perguntas para tentar perceber se Wallace se teria rendido ao Twitter ou ao Facebook, ou especular acerca se teria sentido a solidão e o desespero que o levaram ao suicídio se as redes sociais, como as conhecemos agora, existissem. Enquanto autor, e sobretudo nesse livro, sabe-se que Wallace fez a pergunta: porque estamos tão tristes? As mais de mil páginas de A Piada Infinita são uma tentativa de resposta.
Ele nasceu na década de 1950, como Franzen. Testemunharam, mesmo à distância, por causa da sua idade, aquela que para Adler foi a génese da profunda tristeza americana actual: a guerra do Vietname. “Conhecemos a derrota com um conflito que não nos dizia respeito”, afirmou Adler, que com Joan Didion, Susan Sontag ou Camille Paglia foi uma das mais influentes intelectuais da última metade do século XX na América. O seu pensamento continua a gerar mais pensamento, continua a polemizar. Wallace admirava-a. Pela coragem intelectual, pela qualidade do seu pensamento e da sua escrita. Para Adler, o Vietname marcou o início de uma era de derrotas para um colectivo. “Temos sido perdedores e não estávamos habituados”, continuou Adler, que vê nas muitas bandeiras americanas actualmente hasteadas nas janelas, quintais, portões das casas um hastear dessa tristeza. Não há nada para celebrar, só podem estar a assinalar a derrota, cada derrota.
Em Jonathan Franzen, tudo é mais palpável. Começa com uma rapariga em Santa Cruz e arredores. “Pela manhã, a expiração do oceano condensava-se num orvalho tão denso que corria pelas valetas. E esta era Santa Cruz, um lugar cinzento, fantasmagórico e preguiçoso. Quando, a meio da manhã, o oceano voltava a inspirar, desvendava outra Santa Cruz, a optimista, a soalheira. Mas a manápula ficava todo o dia a pairar ao largo. Quando se aproximava o pôr do sol, qual depressão que se segue à euforia, voltava e abafava os sons humanos, tapava as vistas, tornava tudo mais fechado e parecia amplificar os latidos dos leões marinhos nos pilares do cais. Ouviam-se a quilómetros de distância os arp, arp, arp com que chamavam os membros da família que ainda andavam ao largo, a mergulhar no nevoeiro.”
Bem perto daí, em Monterey, o dia acorda cheio de sol. Estranho àquela hora da manhã — sete, ou talvez menos — uma bola de ténis a atravessar a estrada sem carros. Não se ouviu antes qualquer som de uma raquete a bater. Só as gaivotas e o vento nas árvores. A bola parou junto ao passeio e logo depois um cão abocanhou-a. Está desfeito o enigma. Um homem passeia o seu cão, quando o sol bate nas casas de Cannery Row e as torna de um branco eléctrico, e agiganta as sombras como num jogo de computador a três dimensões. Tudo seria irreal não fosse cheirar a pinho e a maresia e haver um homem na rua a varrer o lixo da noite anterior. Os néones estão apagados, restam as tabuletas de madeira e ferro forjado a anunciar tanta coisa, um sortido de bares e restaurantes, roupa, artesanato, hotéis, lojas da sorte... “So, yo, then man, what’s your story?”, apetece gritar ao homem que segue com o cão e ficar depois a ouvir o que ele tem para dizer. Mas o homem já lhe atirou a bola e o cão correu atrás dela. São duas silhuetas solitárias naquela baía azul onde do outro lado, bem ao fundo, se avista um recorte cinzento no céu, Santa Cruz.
O passado outra vez no futuro
“É um belo lugar, limpo, bem administrado e progressista. As praias estão limpas, ao passo que em tempos eram infestadas de tripas de peixe e de moscas. As fábricas de conservas, que outrora espalhavam um fedor doentio, desapareceram, havendo em seu lugar restaurantes, lojas de antiguidades e afins. Agora pescam-se turistas e não sardinhas, e essa espécie não parece quererem extingui-la.” John Steinbeck escreveu isto em Viagens com Charley (Livros do Brasil, 2016). Viajava de Leste para Oeste, desde Long Island até à Califórnia, cumprindo um desafio pessoal e literário: conhecer o país sobre o qual escrevia e nesse périplo voltar ao seu lugar de origem. Parou em Monterey também para votar. John Kennedy e Richard Nixon eram os candidatos à Casa Branca nas eleições desse ano de 1960. “Nos meus dias de juventude no condado de Monterey, cem milhas a sul de São Francisco, toda a gente era republicana. A minha família era republicana. Poderia ser ainda um deles se lá tivesse ficado. O Presidente Harding empurrou-me para o Partido Democrático e o Presidente Hoover cimentou-me nele. Se me abandono à história política pessoal, é porque penso que a minha experiência pode não ser única”, escreve ainda em Viagens com Charley. Naquelas que foram das eleições mais disputadas da história da democracia americana, o então senador democrata do Massachusetts, John Kennedy, ganhou com 0,1% de vantagem sobre o republicano Nixon. Mas não conseguiu vencer na Califórnia. O país estava quase dividido a meio, num mapa eleitoral onde a Costa Leste foi maioritariamente azul e a Oeste vermelha.
No condado de Monterey, onde Steinbeck nasceu em 1902, na cidade de Salinas, Nixon bateu Kennedy por uma margem de 13%. “Cheguei a Monterey e a luta começou. As minhas irmãs ainda são republicanas. A guerra civil é tida como a mais amarga das guerras, e a política em família é decerto a mais veemente e venenosa”, escreveu Steinbeck. Hoje, 56 anos depois, o governador da Califórnia é democrata, e desde 1984, quando George Bush foi eleito Presidente dos Estados Unidos, que o Partido Republicano não vence neste estado. No condado de Monterey, meia hora de carro para o interior da baía, Barack Obama bateu Mitt Romney em 2012 por uma diferença de 37% de votos. O “progresso”, que Steinbeck então estranhava, trouxe alterações ao quadro político local: “Lembro-me de Salinas, a minha cidade natal, quando anunciava orgulhosamente quatro mil habitantes. Agora tem oitenta mil e pula desordenadamente numa progressão matemática – cem mil dentro de três anos e talvez duzentos mil daqui a dez, sem fim à vista. Até as pessoas que se regozijam com os números e ficam impressionadas com a grandeza começam a preocupar-se, tornando-se gradualmente conscientes de que deve haver um ponto de saturação e de que o progresso pode ser uma progressão para o estrangulamento” (Viagens com Charley).
Salinas tem agora 150 mil habitantes (Census de 2015), menos 50 mil do que as expectativas de Steinbeck para 1970. Ao contrário de Monterey, junto à baía, onde o turismo e o nome de Steinbeck são enormes atracções, a zona de Salinas, que o inspirou a escrever As Vinhas da Ira e A Leste do Paraíso, vive sobretudo da agricultura, uma das maiores fontes de riqueza da Califórnia, a par com a indústria de computação e produtos electrónicos, comunicações e serviços, como o turismo, cuidados médicos, comércio e entretenimento. Tudo o que faz da Califórnia o estado mais rico do país, com um PIB que corresponde a mais de 16% do PIB nacional.
Estamos a duas horas de carro a sul de São Francisco, “a Cidade”, como lhes chamavam os contemporâneos de Steinbeck, e a 512 quilómetros de Los Angeles, que podem demorar um dia a percorrer se a opção for seguir pelo Big Sur, parte mítica da Highway 1, desde Carmel-by-the-Sea (a cidade de que Clint Eastwood foi mayor entre 1986 e 1988) e San Simeon. São 145 quilómetros entre montanha e mar, talvez a paisagem natural mais descrita, filmada, desejada por quem sonha seguir para oeste no país que se expandiu justamente nesse sentido.
Num dia do Verão de 1960, Jack Kerouak, cansado da artificialidade em que sentia que a sua vida se tornara depois da publicação de Pela Estrada Fora, também saiu de Monterey até Bixby Canyon, junto a uma das mais célebres pontes no Big Sur, com o mesmo nome. A ponte parece uma serpente no modo como une os cumes das rochas, seguindo paralela ao mar. Um amigo emprestara-lhe uma cabana de montanha e ele pretendia isolar-se ali durante uns meses.
“Ergo os meus olhos para o céu e vejo esta antiga e abrupta montanha, alta como se tivesse dez mil metros ou cem quilómetros, com palácios gigantescos e templos que se escondem nas suas brumas, equipados com colossais mesas e bancos de granito à espera de serem usados por deuses gigantescos, mais altos do que aqueles que se agarram aos arranha-céus de Wall Street.” A impressão foi anotada num bloco e veio a integrar o livro Big Sur (Relógio d’Água), publicado em 1962 em resultado da experiência que não durou, afinal, mais de três semanas. Começou a sentir o isolamento do mar, a ser assaltado pelo medo e por alucinações e pôs-se à boleia para São Francisco. Quem já passou pelo Big Sur é capaz de perceber que poderá mesmo ter feito o caminho a pé, escaldando pele e pés e desistindo para sempre de viajar à boleia. Pode demorar muito a passar um carro e o Verão é inclemente, apesar da penumbra. “O paraíso, qualquer, qualquer que ele seja, tem seguramente falhas. (Falhas paradisíacas, se quiserem.) Se não tiver, será incapaz de atrair os corações dos homens ou dos anjos”, escreveu Henry Miller em O Big Sur e as Laranjeiras de Jerónimo Bosh (Presença, 2011)
Henry Miller vivia então ali, desde 1944, e só saiu em 1963. Foi uma influência para Kerouac e para os poetas da geração beat que tinham como centro São Francisco e, aí, um sítio em particular: a City Lights, uma livraria fundada em 1953 pelo poeta Lawrence Ferlinghetti. Nada mais do que o homem que emprestou a cabana a Jack Kerouac. Fica em Columbus Avenue e está cheia na manhã daquele domingo de Primavera. São dois pisos de literatura, livros de arte, poesia, livros de música, textos de viagem assinados por grandes nomes ligados à cultura norte-americana e, sobretudo, da Califórnia. A City Lights é hoje uma fundação. Organiza eventos literários e de artes plásticas, promove escritores, faz edição e é uma livraria independente em pleno circuito turístico, perto de Chinatown, que àquela hora parece um gigantesco mercado oriental, com pregões, música, conversas à porta das mercearias… tudo sem que se escute uma palavra em inglês. Ali vive a maior comunidade chinesa fora da Ásia, com uma população que ultrapassa as cem mil pessoas.
Ser da margem
É preciso descer a colina e caminhar por boa parte da cidade durante uma hora, sentir todas as contaminações culturais, sociais, étnicas, as várias camadas que a tornam um dos centros mais cosmopolitas dos Estados Unidos, para chegar a outra livraria, a Green Arcade, discreta, silenciosa, numa esquina da Market Street, uma das artérias principais e mais longas de São Francisco. Rebecca Solnit escolheu esse sítio para conversar. “É de uns amigos e podemos estar aqui tranquilamente”, refere, enquanto tira o gorro e as luvas que foi preciso ir buscar ao armário num dia especialmente frio e húmido. Solnit é uma das vozes mais activas e influentes do jornalismo e da literatura nos Estados Unidos. Activista dos direitos das mulheres, das minorias, do ambiente, tem uma vasta obra publicada e escreve nos principais jornais e revistas, não apenas da Califórnia como de todo o país. Tem dois livros publicados em Portugal — Esta Distante Proximidade e As Coisas Que os Homens Me Explicam, Quetzal, 2015 e 2016.
Solnit nasceu em São Francisco há 55 anos. “Ser deste lado do país é ter uma história diferente”, diz, como quem refere que ser californiano não é o mesmo que ser um americano da Costa Leste ou mesmo do interior dos Estados Unidos. “Estamos muito ligados à Ásia, recebemos influências do budismo. A população de São Francisco é 35% a 40% asiática. Cresci a ir aos tea garden japoneses, conheço muita gente aqui cujos avós e bisavós se lembram de quando vieram os brancos. Temos uma história muito nova em relação à presença europeia aqui. E temos uma fronteira com o México, as cidades têm um plano traçado por Espanha, sempre com uma grande praça…” Solnit lembra a guerra com o México que terminou na anexação da Califórnia ao território americano em 1848. “Até lá pertencíamos ao Norte do México, grande parte da Costa Oeste fala espanhol e português. Se for ao Vale Central — San Joaquim — muito pouca gente fala inglês. A actividade lá é a alimentação e em muitos aspectos é como se se estivesse no México. Essas coisas têm uma presença muito forte aqui…”
Solnit fala pausadamente, como quem descreve uma casa, atentando nos detalhes que conferem carácter e identidade a um sítio. Conhece-o bem de viver nele, de o percorrer todos os dias a pé, e mapeou-o num livro a que deu o título Infinite City. “Qualquer sítio se não é infinito é praticamente inesgotável”, escreveu na introdução ao primeiro de três livros dedicados a três cidades americanas afectadas por três catástrofes recentes: São Francisco e o sismo de 1989, Nova Orleães e o furação Katrina, em 2005, Nova Iorque e os atentados de 11 de Setembro, em 2001. São livros com muita informação, ilustrações, o passado e o presente, uma atenção sociológica, artística. Infinite City, diz Solnit, “mapeia a morte e a beleza, borboletas e histórias bizarras”, a intenção não é descrever a cidade mas sugerir as muitas maneiras através das quais pode ir sendo descoberta, nem que seja pelo modo como as diferenças coexistem nesse território.
E depois diz no mesmo tom: “Mas a Califórnia e a cidade estão a mudar por causa de Silicon Valley.” Faz uma pausa, a mão no rosto, os olhos a pedirem atenção. “Eu gosto da Califórnia como uma margem, não como um centro. Nas margens acontecem muitas coisas interessantes, nas fronteiras, nas sombras. Agora Silicon Valley tornou-se um dos grandes centros do mundo. Toda a tecnologia que o mundo usa está aqui. Eu vivo no centro do mundo.” Há uma intenção política no modo como fala disto. “Há muito dinheiro, prosperidade, mas já muita pobreza também e perda de identidade, a essência. São Francisco era uma cidade para onde as pessoas vinham pelos seus ideais e não por dinheiro. Está a tornar-se um sítio para as pessoas que querem ganhar muito dinheiro. As corporações tiram a magia do lugar, a criatividade.” Solnit tem escrito sobre isso, denunciando desigualdades, fazendo alertas.
Uma breve pesquisa online com o seu nome dá uma ideia da vastidão de interesses desta mulher que se confessou uma apoiante de Bernie Sanders — ele ainda corria ao lado de Hillary Clinton pela candidatura democrata à Casa Branca — e pedia que a discussão desta campanha de 2016 tivesse focos definidos. “As alterações climáticas, primeiro; a justiça económica, depois. Penso que estes dois temas cobrem muitos outros, desde a justiça à inclusão, a igualdade de género, a imigração... Se houvesse uma política diferente em que a riqueza fosse distribuída e em que as pessoas não vivessem aterrorizadas com viver ou morrer pobres... Há muito para fazer em termos de equidade económica. Acho que essa diferença grotesca entre ricos e pobres neste país não era tão grotesca quando eu era jovem. Qualquer pessoa nascida depois de 1980 não se lembra das ruas sem estarem cheias de sem-abrigo, e um sistema que torna a saúde ou a universidade financeiramente insuportáveis. Criámos um mundo que quase se assemelha ao do século XIX. Bill Clinton tinha um slogan, building a bridge to the 21st Century. Nos anos 90 isso parecia muito progressista. E agora costumo brincar com isso, estamos a construir uma ponte para o século XIX.”
Rebecca Solnit é californiana e escreve não ficção. Anthony Marra, um novo e aplaudido nome da literatura, nasceu em Washington DC em 84, escreve ficção, dá aulas em Stanford e vive na Califórnia há cinco anos. Em Oakland, do outro lado da baía, e com vista para Berkeley, onde Solnit estudou jornalismo. Fica no topo de outra colina, já fora da cidade. Árvores e vista de mar e a cidade ao fundo. O campus aponta para a baía, vêem-se barcos ao fundo, a ponte. Idílico não fosse alguém apontar para as grades, quase invisíveis, nos últimos pisos dos edifícios. São o sinal de outra tensão actual. Estão ali para evitar suicídios. O suicídio entre universitários é um fenómeno mundial. “A ansiedade e a depressão, por esta ordem, são agora os diagnósticos de perturbações mentais mais comuns entre estudantes universitários”, escrevia o New York Times num artigo publicado no ano passado sobre a pressão de que os universitários se sentem alvo: é preciso ter bons resultados para entrar num mercado competitivo e conseguir pagar as propinas.
Um relatório nacional sobre o suicídio informava que em 2013 8% dos estudantes universitários tentavam o suicídio e 2,7% concretizavam-no. Mais raparigas do que rapazes. É um tema que Wallace se recusa a tratar com pinças: ironiza, desmonta, lança ácido sobre ele, fere quem o lê. Em A Piada Infinita, Kate é uma suicida internada numa ala de psiquiatria. Ela fala do seu impulso: “Acho que é provável que haja diferentes tipos de suicidas. Eu não sou dos que odeiam. Não faço parte do género que diz 'Sou uma merda e o mundo ficaria melhor sem mim', mas ao mesmo tempo se põe a imaginar o que toda a gente vai dizer no meu funeral. (...) Não tive nenhum ressentimento especial. Não chumbei em nenhum exame nem fui abandonada por ninguém. (...) Apenas quis fazer o que fiz.”
A ficção de Marra não é biográfica, reflexiva, uma cadência caótica da consciência como a de Foster Wallace. Acaba de publicar em Portugal O Czar do Amor e do Tecno (Teorema, 2016) um livro que se situa na Tchetchénia e reflecte sobre o drama da guerra e dos refugiados, o trauma de um país longe do seu. Isto enquanto prepara outro livro, uma reflexão sobre o estado actual da América, onde encontra paralelismo com o passado do país. Como se escreve então sobre este presente? Marra ri. “Se se escrevesse um romance sobre a campanha eleitoral de Donald Trump, iria parecer um delírio, ninguém iria acreditar no escritor que o inventasse. Uma questão que se coloca neste momento aos escritores é como responder a uma realidade que parece inverosímil, mais estranha e mais absurda do que se poderia pôr numa página. Neste momento, estou a escrever um livro que se passa em Hollywood, Los Angeles, e um pouco em Itália. Situei-o na primeira metade do século XX e muitas das coisas que se vêem na política, agora, estavam lá. Se recuarmos aos anos 40, chegamos a palavras de ordem parecidas com as de Donald Trump, remetem para Charles Lindbergh [herói nacional e candidato republicano nas eleições de 40], a sua ideia da América isolada, sem receber refugiados... tudo um pouco assustador.” E a América nisto tudo? “É um lugar tão estranho quanto incrível. Muito grande, com uma língua comum, mas são muitas américas diferentes. Eu tentarei viver numa América costeira. Washington DC e a Califórnia são mais parecidos do que Oklahoma. Acho que essa diversidade — de território, culturas, etnias — é o reflexo de três ou quatro séculos de imigração.”
Em busca do sossego
Desce-se agora no mapa até ao lugar de John Steinbeck. Em Viagens com Charley escreveu algo parecido: “Os americanos são muito mais americanos do que são do Norte, do Sul, do Leste ou do Oeste. E descendentes de ingleses, irlandeses, italianos, judeus, alemães, polacos são essencialmente americanos. Isto não é gritaria de propaganda patriótica; é um facto cuidadosamente observado. Os chineses da Califórnia, os irlandeses de Boston, os alemães do Wisconsin, e os negros do Alabama têm mais em comum do que têm a separá-los. Isto é o mais notável, por ter acontecido tão rapidamente. É um facto que os americanos de todas as regiões e de todas as origens raciais são mais semelhantes do que os Cockney, ou, no que ao assunto respeita, os escoceses das Terras Baixas são parecidos com os highlanders. É espantoso que isto tenha acontecido em menos de duzentos anos e, na sua maior parte, nos últimos cinquenta. A individualidade americana é uma coisa exacta e demonstrável.”
A estátua de Steinbeck está virada para o mar, de frente para a Santa Cruz de Franzen. E muita coisa ali remete para o que ele escreveu. Cannery Row, romance de 1945, é também o nome da artéria principal que atravessa a cidade. Conta a história daquela terra durante a Grande Depressão, num ambiente de fábricas de conservas que hoje estão transformadas em quase tudo menos em conserveiras. Hotéis, restaurantes, bares, lojas para abastecer quem se instala nos hotéis, velhos edifícios alfandegários — até meados do século XIX era o único porto de entrada de bens taxáveis na Califórnia — e um movimento de estância balnear. Estamos na Califórnia turística, a que segue pelo Big Sur rumo a Los Angeles. Muitas horas na estrada entre verde, azul, neblinas, árvores solitárias ou floresta, reservas de lobos marinhos, terras de beira de estrada com nomes estranhos, como Gorda by The Sea, onde um casal pára a velha autocaravana em que viaja para sul para pôr gasóleo e comprar cigarros. Entram na loja de mãos dadas, saem da loja de mãos dadas e ele pede-a em casamento ali mesmo. Ela ri, dá-lhe um beijo, afaga-lhe o cabelo e sussurra qualquer coisa. “Hey, you, then man, what's your story?”
Seguiram para a cidade onde um escritor irlandês, Colm Tóibín, se vai fechar num apartamento a escrever porque ali “há sossego”, diz ele numa conversa longe, em Nova Iorque, quando falamos de escrita e geografias criativas. Sossego em Los Angeles, a maior cidade da Califórnia, uma área urbana onde vivem mais de 13 milhões de pessoas e se demora pelo menos duas horas no trânsito para entrar e sair? “Sim, porque Los Angeles não tem rua”, justifica, no sentido de uma vida de rua, gente a andar pelos passeios, encontros por acaso, uma ida à esplanada beber um café, uma cerveja, ir à mercearia ou ao quiosque dos jornais. “Só anda na rua quem tem mesmo de andar, não por prazer. É preciso ir de carro para todo o lado. Quem não tem carro fica em casa. Basta ter a despensa e o frigorífico com comida e escreve-se durante horas seguidas sem lamentar não ir à rua.”
E ia-se até Claremont, a cidade nos arredores de Los Angeles, 50 quilómetros a norte e para o interior, onde David Foster Wallace viveu os últimos anos da sua vida e decidiu acabar com ela. Era ali o seu templo? Ele escreveu que “templo é ser e sentimento”, que as decisões apenas são aparentemente livres. Serve para o indivíduo e para uma nação. “Tudo aquilo de nós a que chamais escolhas livres vem daí: qual é o nosso templo? Qual é o templo, então, para os EUA?” Este é apenas o início de uma longa conversa. Não vale a pena ir a Claremont.




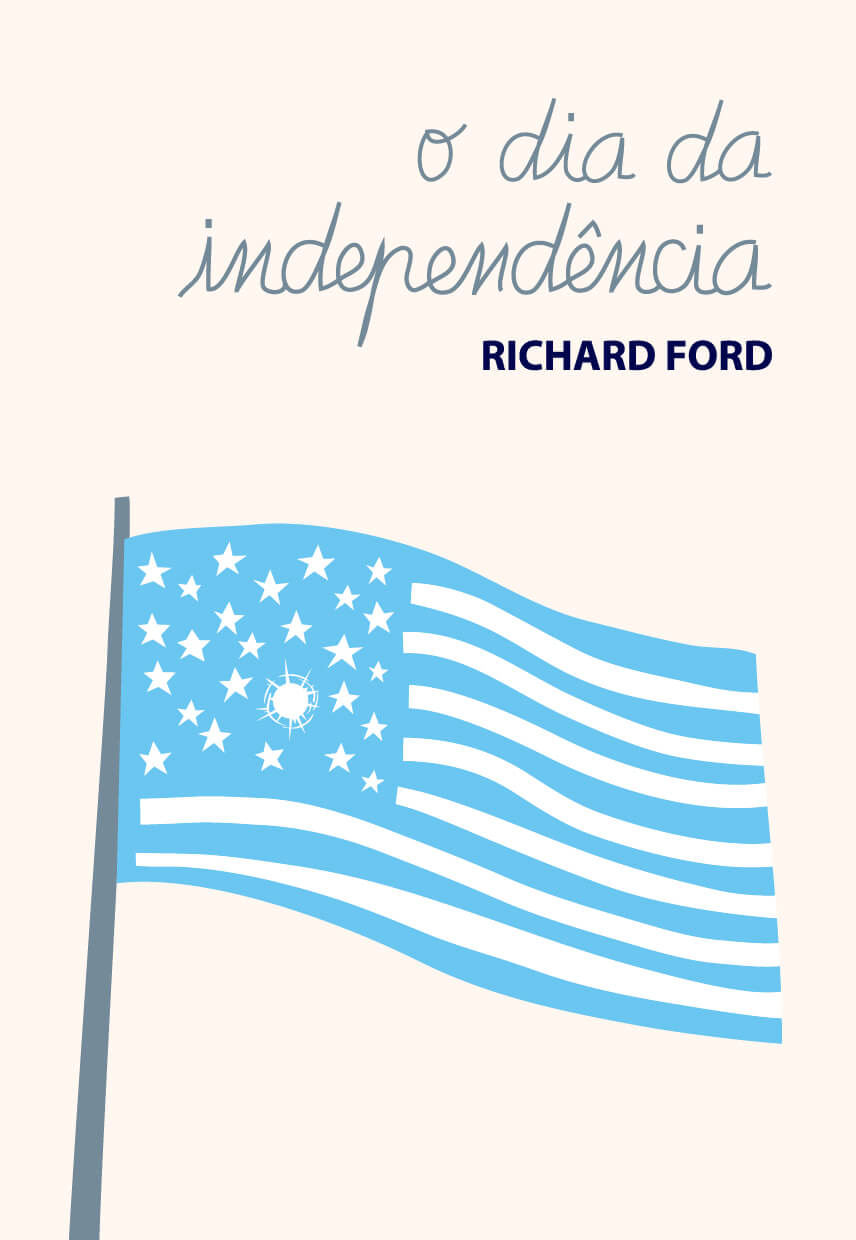

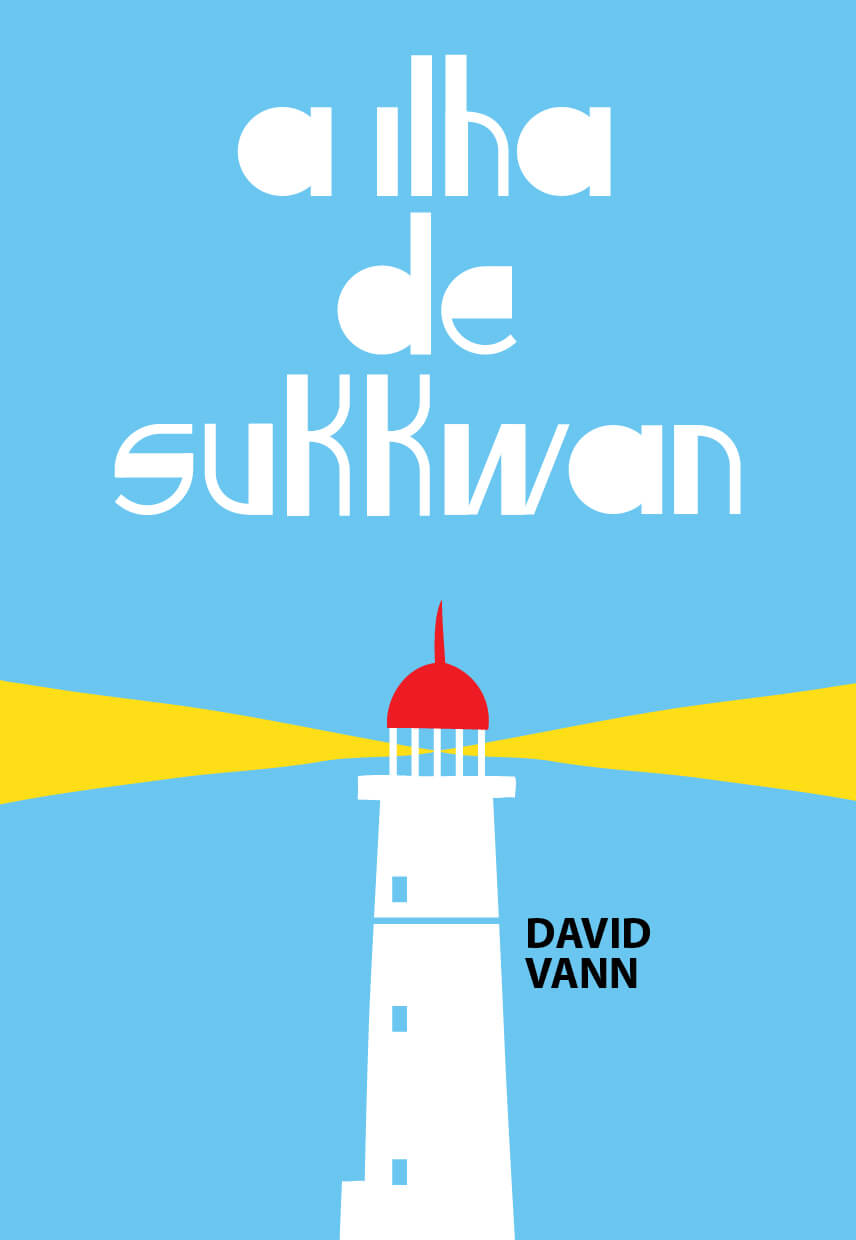
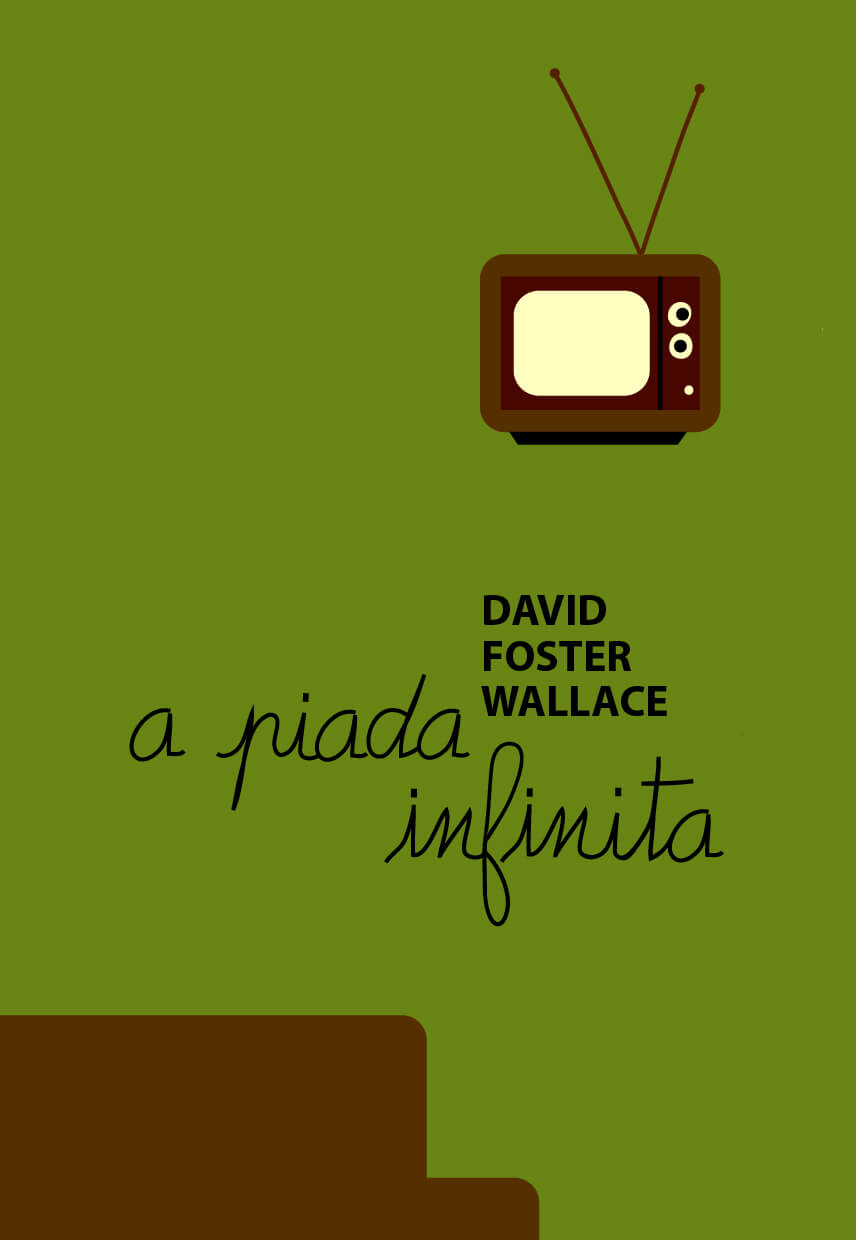


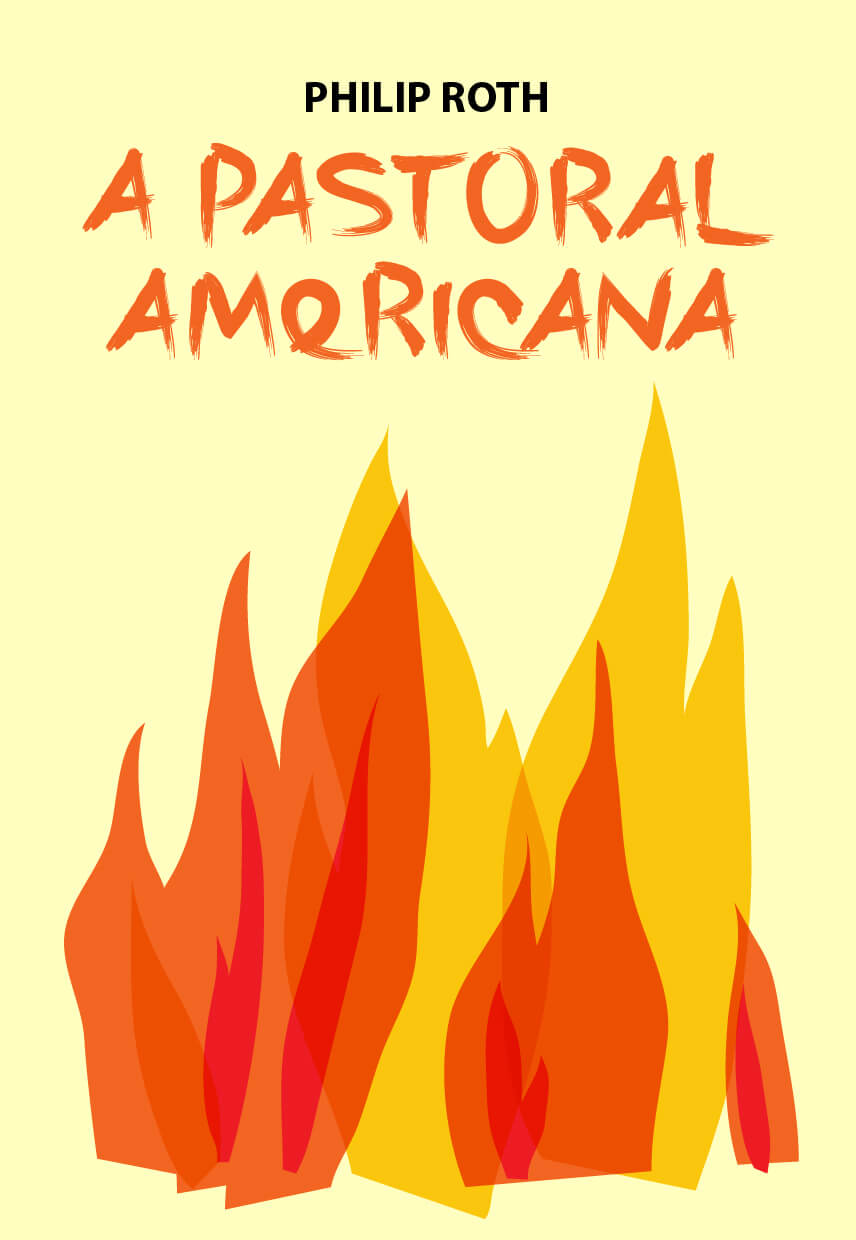
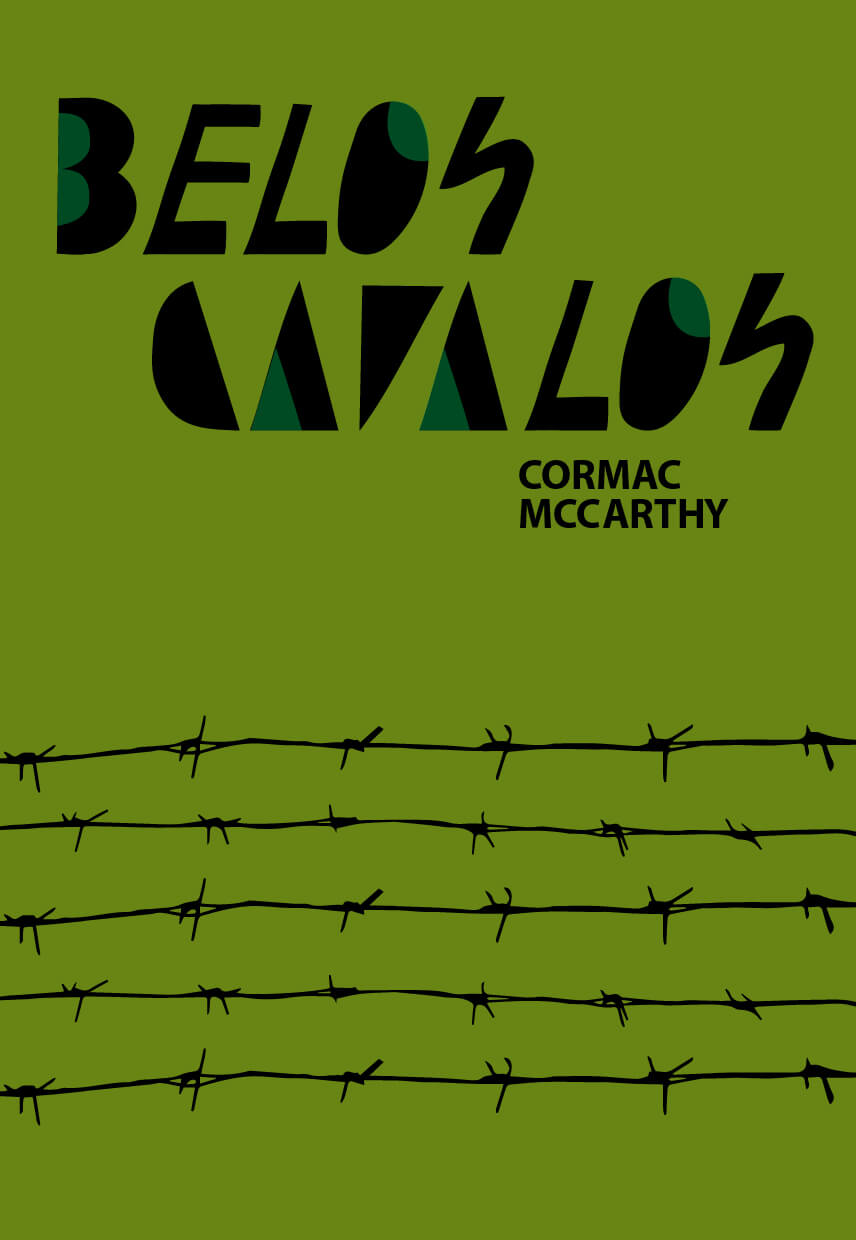
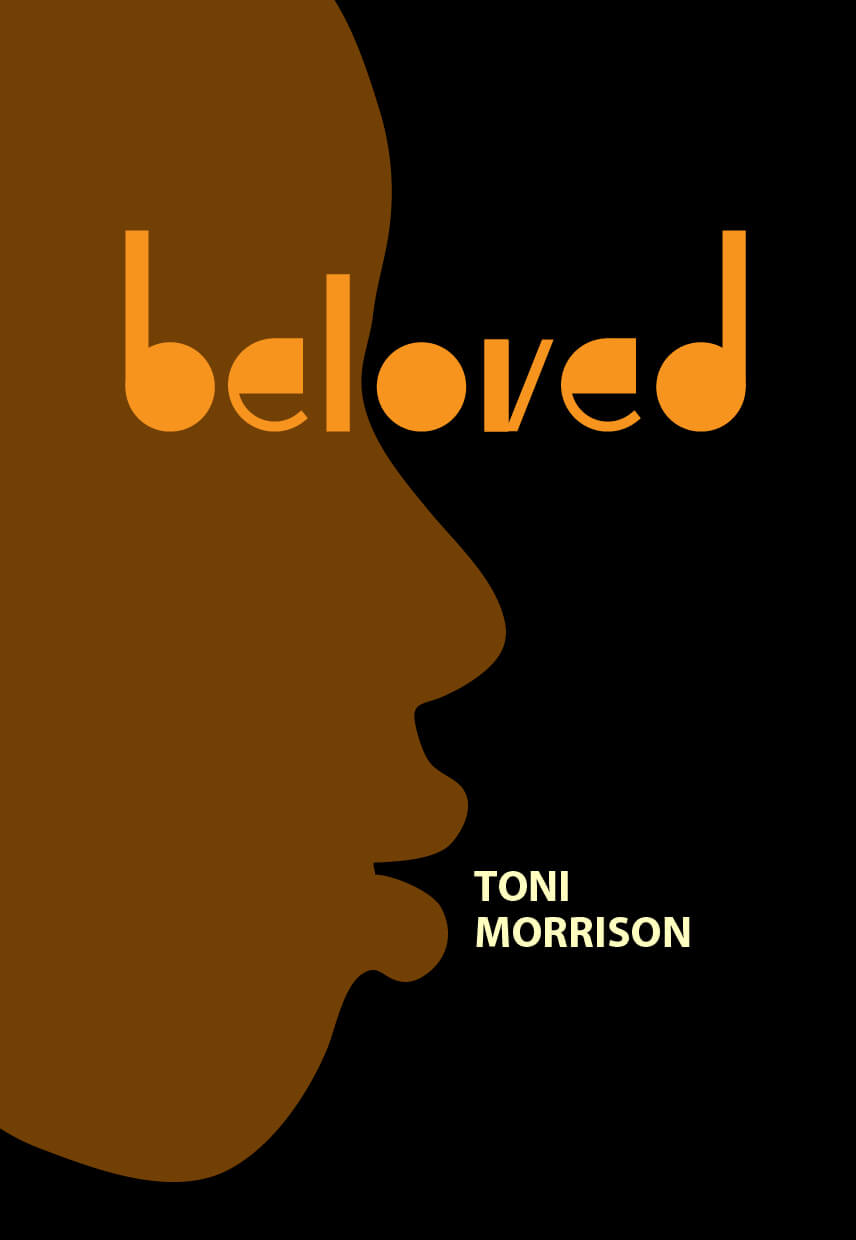
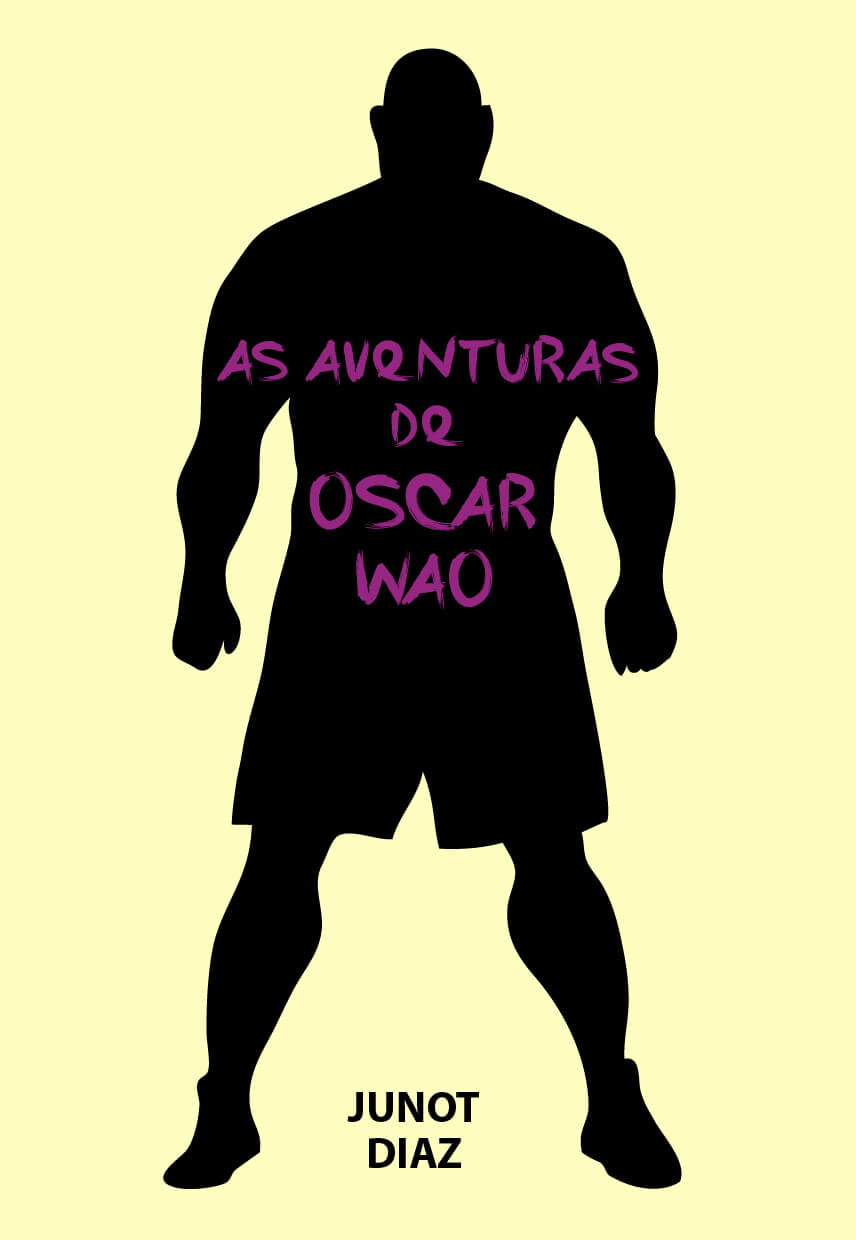



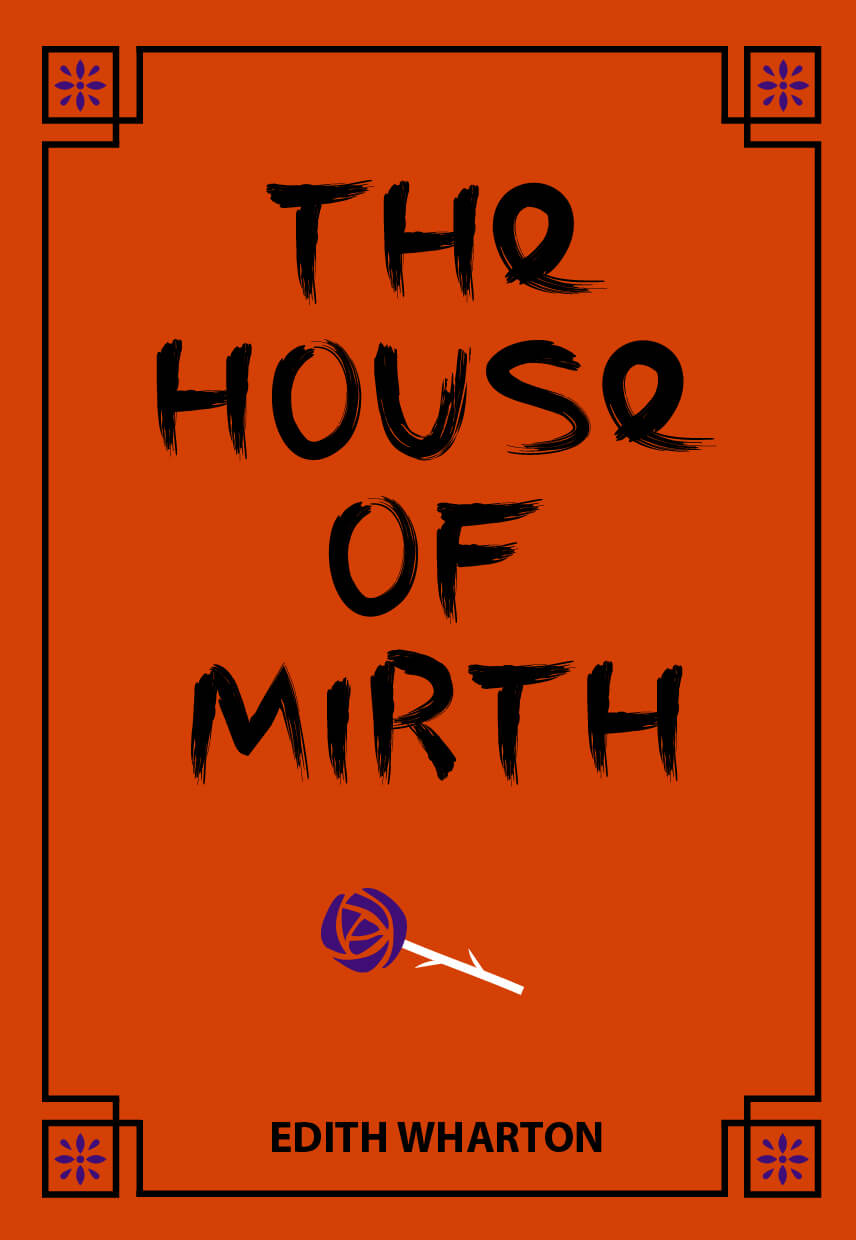



Comentários