Faz frio, há um vento gelado que parece vir do centro da terra ou então do céu, sem direcção definida. Os termómetros marcam 12 graus negativos, mas a medida mais fiável é a dor que percorre o nariz sempre que se respira fora da gola alta do casaco. Um homem e uma mulher caminham pela rua vazia. Ao longe parecem dois rapazes adolescentes, mas perto, vêem-se-lhes as rugas, a pele curtida pelo calor e pelo frio. O cabelo é liso, azeviche, e os traços são os que se associam aos índios americanos como os que o fotógrafo Edward S. Curtis imortalizou na série The North American Indian (1907-1930), 1500 retratos feitos por toda a América em populações indígenas. Este homem e esta mulher não têm o porte nobre dos rostos de Curtis. Parecem curvados e o olhar é tímido, quase sem expressão. Pedem um cigarro num sotaque quase imperceptível e com o gesto universal, indicador e médio colados à boca. Não há. Repetem: "não há". E riem num riso sem dentes, afastando-se com passos hesitantes. É uma da tarde e eles são agora dois bêbados que andam ao sol sobre um manto de gelo.
"São boa gente, mas têm vidas curtas." A frase é um sobressalto no silêncio oco da planície. Minutos antes ouvia-se um comboio muito longe. Mais nada depois, nem os pés daquele homem e daquela mulher no chão de neve e lama. É Adam. Chegou no seu táxi e estaciona ao sol. "Sabe qual a esperança média de vida destas pessoas? A deles é de 44 anos e a delas, 47. O álcool e doenças que os corpos deles não conheciam estão a matá-los." Adam não é dali. Tem 34 anos, chegou há sete como refugiado da guerra do Sudão e não se habitua ao frio. "O meu corpo não pertence a este lugar, nem a minha cabeça", continua, mãos no volante a inverter a marcha no centro de Fargo, a maior cidade do Dakota do Norte, fronteira com o Minnesota, conhecida como a porta de entrada no Oeste, no extremo sudeste de um estado que foi integrado na União em 1889. A designação ficou desde o início da colonização, quando o Oeste era o caminho para tornar a América maior, e os obstáculos a vencer eram o isolamento, o clima, os búfalos e os índios. Nesse percurso nasceram muitas lendas.
“Os índios sobreviveram à nossa intenção clara de os eliminar (...) O mito do índio como um animal selvagem, indigno de confiança, perigoso, astuto, inteligente e auto-suficiente enquanto oponente, deu lugar ao mito do índio como criança, incapaz de aprender e de cuidar de si mesmo. Daí ter sido feito menor perante a lei, não importa que idade pudesse ter. O problema, naturalmente, é que no início ele era a única pessoa que podia cuidar de si próprio. As suas colheitas serviram os nossos primeiros colonos, as suas aptidões na caça foram absorvidas para que o nosso povo pudesse viver; e o seu método de guerra foi aprendido e não só se voltou contra ele, mas voltou-se contra outros inimigos. Oh, sim, o índio poderia cuidar de si próprio – contra todos menos nós”, observou John Steinbeck no volume de não-ficção America and the Americans. Também Willa Cather, que escreveu como poucos sobre as terras de fronteira e as grandes planícies, autora de romances emblemáticos sobre a América como O Pioneers! (1913) e One of Ours, vencedor do Pulitzer em 1923, tentou desmontar muitos dos mitos sobre os índios. Em Death Comes for the Arcebishop (1927), escreveu: "Eles não devastaram nem os rios nem a floresta, e se irrigassem gastavam tão pouca água quanto a que servia às suas necessidades. Trataram com consideração a terra e tudo o que ela suportou; não tentando melhorá-la, nunca a profanaram".
Muitos anos depois, o discurso de Adam entra no circuito da informação especulativa acerca da população nativa nos Estados Unidos. Os números que indicou eram verdade há quarenta anos. Não são agora, muito graças ao impacto do Indian Health Care Improvement Act assinado em 2010 pelo então Presidente Barack Obama, que dava sequência a um plano anterior, entretanto expirado, e que veio melhorar as condições de saúde na população indígena. No entanto, os índios americanos continuam com uma esperança média de vida menor do que a da generalidade da população americana: 72,3 para 76,9 anos. Adam não sabe destes dados e a imagem daquele homem e daquela mulher a cambalear legitima, aos seu olhos, os rumores que correm pelas ruas de Fargo e um pouco por todo o país: a maioria dos nativos são bêbados, pobres, desempregados, gente que nunca recuperou da conquista do Oeste pelos colonizadores europeus. Há alguma verdade nisto, só que o grau de mentira é maior. Mas o que vale argumentar quando o que se vê naquele momento é um homem ao longe, na paisagem gelada, ele a ajeitar as calças dela, muito largas, e ela, por fim, num equilíbrio instável, a apertar a fita que as prende à sua cintura magra?
No lugar da ficção
Só se chega à estação de Fargo de madrugada, desde as grandes cidades a Oeste e a Leste do Dakota. De Mineápolis, a capital do estado vizinho do Minnesota, sai um comboio por dia em direcção àquela cidade que a ficção tornou sinónimo de comédia negra. Ao longo da viagem de seis horas, a paisagem é invisível, os rostos não se percebem e as respirações são profundas. Há só o reflexo dos olhos no vidro da janela e o apito ao passar por cada estação. Resta imaginar. “No interior desse terraplano não se encontram nem altas montanhas nem profundos vales.” A frase de Alexis de Tocqueville em 1835, no seu Da Democracia na América, serve de guia ao filme fantasioso sobre uma paisagem que não se vê. “(…) Os rios misturam as suas águas, unem-se, separam-se, voltam a encontrar-se, perdem-se em mil pântanos, extraviam-se e a cada instante no meio de um labirinto húmido que eles mesmos criaram, e só no termo de inumeráveis circuitos alcançam enfim os mares polares. Os grandes lagos que rematam esta primeira região não se acham engastados, como a maior parte dos do velho mundo, entre colinas ou rochedos.”
E Fargo, por fim, um céu escuro e a terra branca com a neve. O comboio vai e é como se levasse toda a vida no seu movimento. Fica o silêncio das três e meia da manhã numa cidade de 120 mil pessoas que dormem. Tudo parece um cenário de ficção que a ficção tem aproveitado, contaminando depois o real em que antes se baseara. Tem sido uma zona fértil para efabular.; estende-se pela grande zona das pradarias que começa a Leste das Rocky Mountains e abrange onze estados, passando a fronteira com o Canadá. É o interior da América, terra plana que representa cerca de um quarto da superfície do país, percorrida por manadas de bisontes, terreno de pasto, searas de milho, moinhos de vento, pontuado a longos espaços por torres de igrejas e atravessado por extensas linhas de comboio, sobretudo de mercadorias, que cruzam o país. Séries de televisão como Bonanza, sobre a família Cartwright, ou Uma Casa na Pradaria estereotiparam um modelo de vida que produções mais recentes vieram desmontar, neste caso quase sempre com recurso ao absurdo e à comédia negra que o inóspito inspira. É o caso de Fargo. Primeiro no filme dos irmãos Joel e Ethan Coen (1996), e agora na série da Fox com o mesmo título.
“Se Fargo [o filme] é sobre alguma coisa é sobre a loucura americana”, disse o escritor Steve Erickson (autor de Zeroville). Por tudo isso, não se chega de imaginário virgem a Fargo, terra num dos extremos dessa vasta área, a das Grandes Planícies. Como nos romances de Louise Erdrich, todas as circunstâncias parecem extraordinárias a um visitante, mesmo que muitas vezes esse visitante seja um americano, da Costa Leste ou Oeste. Apesar de tudo, a nova imagem mais visível desta terra, aquela que se tem repetido nos últimos meses e a internacionalizou, é a de um índio de mão erguida a levantar a sua voz em nome de Standing Rock. E isso é a realidade.
"Sempre que os ‘protectores de água’ mostraram a sua determinação em manter a mensagem e avançar através da oração e da celebração, deram ao resto do mundo um modelo de resistência", escreveu Erdrich num texto publicado na revista New Yorker em Dezembro de 2016. Ela sublinhava a não violência dos protestos do povo Sioux face à autorização federal de construir um pipeline petrolífero de 1886 quilómetros, entre as reservas do Dakota do Norte e o Illinois, atravessando território indígena nas margens do rio Missouri e arriscando contaminar todas as suas reservas de água e arrasando “terra sagrada”. Para a escritora, as imagens dos protestos sem recurso à violência percorreram o mundo e tornaram global a mensagem Sioux, levando ao Dakota a solidariedade de dois milhões de forasteiros. “Esta foi provavelmente a primeira vez que muitos não-nativos estiveram numa reserva, ou na presença de cerimónias nativas. Isso é positivo. Quanto mais as pessoas entenderem que os nativos americanos têm os seus próprios rituais religiosos e objectos de veneração – o que para muitos não-nativos são simplesmente características da paisagem –, bem como catedrais e igrejas, melhor. Entender o mundo natural como mais do que apenas um recurso para obter energia, ou uma oportunidade recreativa, ou mesmo um recurso alimentar, dá peso moral ao esforço para conter a mudança climática catastrófica. Imagine se a Energy Transfer Partners planeasse perfurar debaixo de Jerusalém. Naturalmente, a companhia não consideraria tal rota. No entanto, seria mais seguro do que a perfuração sob o rio Missouri.”
Mantidos à margem durante décadas, só mencionados a propósito de massacres históricos, os nativos do Dakota do Norte venciam o silêncio a que foram sujeitos através da raiva – Erdrich chamou-lhe “raiva sagrada” – despertada por mais um movimento de sobranceria federal em relação à nação índia. A vitória de Donald Trump a 8 de Novembro parecia indiciar o pior. Ao longo da campanha, a protecção do ambiente nunca fora uma prioridade do candidato apoiado pelos republicanos. Antes, pressionado por muitos protestos, Obama mandou suspender as obras para que se consultasse o povo Sioux. Depois da tomada de posse, Trump deu ordens no sentido inverso. O que se segue é para já uma incógnita.
A herança da comida nativa
Sean Sherman, o chef Sioux, como é conhecido no mundo da gastronomia, lamenta. “O modo como os governos têm tratado os povos indígenas é horrível. Muitas destas comunidades tomaram conta da terra vivendo nela; os recursos naturais eram mantidos e preservados. Com governos como o de agora, mais preocupados com lucro imediato do que com o ambiente a longo prazo, é importante mostrar o que realmente importa. Num momento de stress global em relação aos recursos naturais é preciso olhar para o que sobra e não destruir mais ainda por causa de petróleo.”
Sean nasceu em 1974 na reserva de Pine Ridge, na subtribo Sioux de Oglala Lakota, Dakota do Sul, e lidera um movimento que quer recuperar a tradição gastronómica indígena. Em Março de 2016 serviu um jantar no Donaldson, o hotel histórico de Fargo; uma ementa segundo a tradição Ojibwe que resultou de uma investigação morosa porque quase tudo se perdeu. Em casa, Sean tinha alguns alimentos tradicionais, colheitas selvagens, algumas bagas, mas a base da comida não era tradicional. “Era fornecida pelo governo, muitos enlatados, comida hiper-processada, muita coisa à base de farinha, açúcar, flocos… Mas o meu avô tinha um rancho, havia carne de vaca e alguma caça. Era uma alimentação variada, mas não seguia a herança nativa”, conta ao P2 este homem de longos cabelos pretos e voz muito serena.
Era pequeno quando a mãe se mudou com ele para Black Hills, junto ao Monte Rushmore onde estão esculpidos na rocha os rostos de quatro presidentes: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. “A minha família não tinha muito dinheiro, e comecei a aceitar trabalho com 11 anos, e aos 13 fui para os restaurantes.” Estudou enquanto trabalhava nessas cozinhas, foi para a universidade. Mudou-se para Mineápolis. Depois de alguns anos de experiência tornou-se chef executivo. “Tive então uma espécie de epifania. Eu estava a explorar tantos tipos de cozinhas, japonesa, europeias e achei que devia estudar a minha própria cozinha. Ninguém o estava a fazer nem ninguém o tinha feito.”
Foram anos de pesquisa. História, antropologia, livros de ciência, cruzar muitos ângulos para entender um passado que não conheceu. Em 2012 abriu o seu negócio e começou com uma empresa de catering a servir comida nativa. Que comida é essa? “Muda muito dependendo da região. Limitando-nos à América do Norte – Canadá, Estados Unidos e México – vemos muitas diferenças em função das culturas, da região, da época. A alimentação reflecte isso.”
Sean fala no plural, em nome de uma equipa. “Com base nos produtos e nas técnicas de confecção tentamos perceber qual é a base real da alimentação e traçar um mapa alimentar. Era bom que isto ultrapassasse a América e passasse a um mapa global das culturas indígenas para se perceber como eram antes do colonialismo”, e acrescenta: “Um dos produtos que fazem parte desta tradição é o milho. Veio desde o México, antes dos Maias, e lentamente migrou para o norte até ao Canadá, associado ao cultivo de muitos tipos de legumes, feijão, abóbora, nozes e um conhecimento vasto de alimentos selvagens. Diferentes tipos de cogumelos, cebolas, alho, ervas... Há tanta comida por aí! Entendemos melhor o que é a alimentação americana em geral sabendo como é que as pessoas sobreviveram recorrendo a certos alimentos durante milhares de anos antes de os europeus aparecerem.”
Um das suas bíblias tem sido Buffalo Bird Women’s Garden, um livro dos anos trinta do século XIX, que resulta de várias entrevistas a uma mulher índia do Dakota do Norte. Ela conta como cultivava os seus produtos e preparava a comida segundo os preceitos tradicionais. Esse saber era passado oralmente entre gerações. “Grande parte do trabalho destas mulheres consistia em preparar comida e estarem prevenidos para o longo Inverno. Tudo era pensado de acordo com as estações do ano, as plantações, as conservações.” Sean segue-a. “Estamos a estudar a natureza para tentar identificar o que são as verdadeiras comidas da América do Norte.” Entretanto, abriu um foodtruck com uma comunidade nativa de Mineápolis. “Não usamos alimentos europeus, eliminámos tudo o que não estava antes aqui. Não há farinha, açúcar, porco, galinha, carne de vaca…”
Vai abrir este ano o primeiro restaurante de gastronomia indígena nos Estados Undos e quer que funcione como um centro de troca de saber. "Queremos trabalhar com tribos desta área e ajudá-los a abrir pequenas unidades de negócio alimentar que permita resolver alguns problemas ligados à alimentação culturalmente e regionalmente apropriados. Nas comunidades mais pobres, especialmente as nativas, encontramos o mesmo tipo de doenças baseadas na alimentação: diabetes de tipo 2, obesidade, patologias do coração. Muitas resultam de uma dieta à base de porco e não é sequer uma escolha, o porco está mais disponível, muita comida distribuída pelo governo é à base de porco. Mas as dietas originais das populações indígenas dos Estados Unidos são muito saudáveis. Há notícia de um homem da tribo Ojibwe que viveu 140 anos. Tinham índices de glicémia baixos e muita actividade física. No último século, com o sistema de reservas e as pessoas removidas dos seus lugares tradicionais, deixou de haver contacto com esse tipo de alimentos e assistiu-se a um declínio da saúde.”
É o saber ancestral de que também trata a literatura de Erdrich e de que os ossos dos antepassados são guardiães, como os de uma mulher antiga “que tinha conhecido os segredos das plantas, que poderia encontrar comida em qualquer lugar (…) e memorizado os versos da Bíblia”. É sabedoria em chão sagrado, chão como o vêem também os Sioux, que não o querem ver destruído.
A América governa-se com equilíbrios
À porta do Donaldson isso parece muito longe. “O Dakota é grande e não tem gente.” É Adam outra vez. A cidade é pequena e é fácil cruzarmo-nos duas vezes no mesmo dia com a mesma pessoa. Espera um cliente. O sol está menos quente e as ruas sem ninguém. O aspecto é de um grande cenário pronto a ser tomado por câmeras e acção. Tão devastador quando grandioso na sua potencialidade e a instigar tristeza. Adam não está disposto a deixar-se levar por ela. Prefere fixar-se na grandeza, metáfora, crê ele, do país onde quis viver. É grandiosa a ideia de se mover num país que agora o acolheu como cidadão, deixando para segundo plano a sua condição de refugiado. O tema é sensível e ele adivinha a pergunta que aí vem. “Votei em Trump. Sou republicano.” E não tem medo porque, lembra, é cidadão.
A declaração de princípio revela-se apenas um preâmbulo para a conversa que se segue. “Não concordo com o que ele está a fazer. Este é um país de imigrantes, sempre foi. Não se tratam as pessoas assim, expulsando-as, separando famílias, olhando-as como criminosas à partida, só por terem uma religião, serem de uma raça.” E diz que já foi mais fácil viver ali. “Toda a gente pergunta de onde venho, o que vim fazer, todos querem explicações.” Quem são todos? “Os brancos, os que se acham com mais direitos e escorraçam todos, sobretudo os índios que já cá estavam antes deles." É casado, tem dois filhos, vive num apartamento “novo de dois quartos, duas casas de banho, garagem”. Paga 900 dólares. É esse o sonho americano? “Eu tenho um, viver em segurança; vi muita guerra, muita gente a morrer. Não gosto da guerra.”
Já ouviu falar do pipeline? “É muito longe, a umas cinco horas de carro daqui [confere], mas o dinheiro chega cá”, comenta, como que justificando o aparente silêncio da cidade naquele momento em relação a protestos que persistem, com mais ou menos intensidade, no mesmo estado. “Aqui as pessoas não se manifestam muito. Esta é uma terra onde as pessoas amam o dinheiro e se pelo dinheiro for preciso fazer mal a outras pessoas, elas fazem. Sabe, por amor ao dinheiro há licença para odiar pessoas.”
Faz-se a mesma pergunta a Kevin. Tem 63 anos, trabalha num restaurante, nasceu e vive em Fargo. “Eles não precisam que os defendam. Se sabem andar por aí também podem lutar pelos seus direitos que, confesso, não sei bem quais são.” Salem é do Sudão. Tem 29 anos, chegou como refugiado há 12 anos, com a família. “As pessoas não gostam de Trump. É verdade, ele é um palhaço, mas a outra seria pior. Ela iria dar cabo deste país.” Conta que votou. Trump. “Ele não pára de dizer disparates, mas a América governa-se com equilíbrios, ajustes, e ele é posto na ordem. Acredite.” Andou na universidade, mas desistiu. Queria estudar Gestão, conta que já teve muitos trabalhos e agora está numa oficina de automóveis. O próximo objectivo é ir embora do estado. “Falta calor e piri-piri na comida”, ri, mas África não faz parte dos seus planos, para já. “Os políticos são corruptos, há sempre um ditador. Eu quero viver em democracia.” Pergunto como se mantém informado. “Pela televisão, pelas redes sociais…” E os jornais? “Ahahaha, os brancos é que lêem jornais.”
A população branca representa 90% dos habitantes do Dakota do Norte. É um estado tradicionalmente republicano onde Donald Trump venceu com 63% dos votos, elegendo os três representantes no Congresso. Mesmo as maiores cidades como Fargo, ou a capital, Bismark, votaram no candidato apoiado pelos republicanos. O último democrata a ganhar umas eleições naquele estado foi John F. Kennedy, em 1960. Desde então, os republicanos elegem a totalidade dos representantes.
No imenso mapa eleitoral do Dakota do Norte houve, no entanto, dois pontos azuis: o pequeno condado de Rolette, na fronteira com o Canadá, e o de Sioux, onde fica Standing Rock com os seus 4.500 habitantes. Hillary Clinton ganhou com 64% dos votos. Foi a excepção que confirma a regra de que quando se fala em voto indígena não se fala necessariamente em voto de esquerda ou de direita. Os índios votam nos dois partidos. “Tive um breve e estranho flirt com a direita”, disse Louise Erdrich numa entrevista dada em 2010 à Paris Review. “Votei em Richard Nixon. Mas nessa altura Nixon era um herói para muitos nativos. Apesar de tudo, ele foi um dos primeiros presidentes a entender qualquer coisa sobre índios americanos. Ele (…) colocou as nossas nações no caminho da autodeterminação. Isso teve um efeito de galvanização no país índio. Por isso votei em Nixon, e meu namorado queria-me matar e eu não sabia por quê.”
O território dos romances de Louise Erdrich é ficcional, mas reflecte o das pequenas comunidades do Midwest onde nasceu, cresceu e viveu grande parte da sua vida.
Com Fargo no caminho
Karen Louise Edrich é a mais velha de sete irmãos. Nasceu em Junho de 1954, em Little Falls, no Minnesota, filha de um pai de origem alemã e de mãe Ojibwe, uma das seis tribos índias do Dakota do Norte. Os pais eram professores num centro de estudos indígenas e o avó materno era o chefe tribal da reserva de Turtle Mountain. Tudo é por ali mas não há sensação de vizinhança. Cresceu em Wahpeton, cidade de sete mil habitantes, 70 quilómetros a sul de Fargo, na zona do Bois de Sioux River, confluência de três estados, Dakota do Norte, Dakota do Sul e Minnesota. É uma massa de água afluente do Red River, o rio que corre para norte, o mesmo nome de outro rio que inspirou Howard Hawks no clássico de 1948, Red River, com John Wayne e Montgomery Clift. Esse fica bem no sul do país, no Texas. São mais ruas largas, prédios de dois ou três pisos alinhados para criar um centro com restaurantes, lojas de conveniência, bombas de gasolina. O resto é a planície que parece prolongar-se sem fim. “Pluto – um pequeno lugar árido com alguns edifícios antigos, uma mercearia em dificuldades, algumas lojas de presentes, um Cenex, e um novo Banco of the West.” É mais ou menos assim, como nesta terra de LaRose, o seu mais recente romance, que muitos críticos puseram entre os melhores de 2016. Pluto Argus... são pontos imaginários numa geografia bem real, como Fargo, onde viveu e escreveu e andava de bicicleta entre o apartamento onde morava e o café onde se alimentava nas pausas de escrita, quando regressou ao Dakota depois da universidade em Dartmouth.
Fargo está sempre no seu caminho, confluência de estradas, num estado que vist do céu parece uma quadrícula gigante, linhas rectas a régua e esquadro ao longo de quilómetros. Louise gosta de guiar nelas. Várias vezes por ano faz sete horas e meia de viagem entre Mineápolis, onde vive e é proprietária de uma livraria independente especializada em cultura indígena, e Turtle Mountain, a reserva de que é membro activo. Ao lado, tem sempre um bloco e uma caneta, e tira notas ao volante quando lhe surge uma ideia. São as estradas do Dakota do Norte: pouco trânsito, visibilidade até a um horizonte que parece sempre muito longe.
Nesses caminhos, ladeados por terra ou armazéns, o tempo passa devagar. Segue-se pela Interstate 94, 2500 quilómetros de extensão entre o Montana e o Michigan, o sentido é agora Oeste-Este. É outra vez Fargo. Não há menção à luta dos Sioux pela protecção das suas terras quando se caminha pelas ruas da cidade num sábado de manhã de Fevereiro. Está tempo para andar na rua segundo os parâmetros dos fargoan, designação que identifica os locais, aqueles que aparecem retratados no filme dos irmãos Coen com frases carregadas de oh yas e I betcha, estereótipo do sotaque rural que atravessa o Minnesota.
No centro da cidade, as famílias páram a ver montras; no cinema passam Elle e Lion, e os cafés, bares e restaurantes estão cheios de gente a tagarelar. Um passeio destes seria impraticável, não fosse o sol dos últimos dois dias ter feito subir as temperaturas. Devem estar um dez, doze graus negativos e a neve derrete lentamente, formando uma lama vermelha e pastosa nos passeios. À sombra, o piso tem a segurança de uma pista de patinagem. Não se anda. Calca-se o chão com botas que abrem fendas no gelo criando uma espécie de aderência momentânea. É isso ou cair. Nada que estrague o efeito de benesse em plena Snow Moon, a lua de Fevereiro, tempo de grandes nevões, ausência de caça e comida racionada. Muitas tribos chamam a esta lua a Lua da Fome. É uma época em que as temperaturas atingem recordes mínimos de 17 ou 18 graus negativos durante dezenas de noites, um contraste com o calor de mais de 40 graus em Julho ou Agosto. Por isso, Fargo é considerada a cidade com o clima mais duro dos Estados Unidos. Nada que tenha impedido o crescimento da sua população nos últimos anos. Entre 2010 e 2015 houve um aumento de 12 mil habitantes, ou seja, de 12,3%. Uma percentagem de crescimento semelhante à que registou o estado, a maior do Midwest, muito graças a incentivos fiscais, à introdução de tecnologia na produção agrícola, à universidade e à fixação de multinacionais.
A população índia também cresceu. São mais seis mil do que em 2010, a viver em reservas onde, como nas outras reservas do país, têm soberania limitada e possibilidade de criar fontes de receitas próprias, como casinos. Resistiram, como refere Steinbeck em America and the Americans: “Houve um tempo em que parecia que os índios poderiam desaparecer completamente, mas há cerca de cinquenta anos, algo – ou talvez uma série de coisas – aconteceu. A taxa de natalidade começou a aumentar e a de mortalidade diminuiu. Alguns dos jovens emergiram das suas reservas para assumir trabalhos perigosos, como a descida às florestas e o trabalho nas estruturas de ferro nos novos arranha-céus das cidades em crescimento; ao mesmo tempo deixou de ser uma desgraça oculta de sangue indígena.”
33 maneiras para ser índio
Cinco por cento da população do Dakota do Norte, o quatro estado menos povoado do país, é índia: 36 mil pessoas num total de 758 mil habitantes. São números oficiais; no entanto, envolvem uma considerável margem de erro. “Ser-se índio é, sob muitos aspectos, uma grande embrulhada burocrática”, escreve Louise Erdrich em A Casa Redonda (Clube do Autor, 2013), romance vencedor do National Book Award em 2012, onde a escritora de 62 anos expõe as contradições inerentes a uma identidade que parece continuar a ser um embaraço nacional. Na base esteve a violação de uma mulher, índia, em 1988. “A partir de um conjunto de impressões digitais não é possível saber-se se uma pessoa é índia. Nem a partir de um nome. Nem sequer com base num relatório da polícia local. É impossível saber-se isso a partir de uma fotografia. De uma identificação fotográfica policial. De um número de telefone. Do ponto de vista do Governo, a única forma de se afirmar que um índio é um índio é olhando para a história dessa pessoa. Tem de haver na sua genealogia antepassados antigos que tenham assinado algum documento ou estejam registados como índios pelo Governo dos Estados Unidos, alguém identificado como membro de uma tribo. E mesmo depois de estabelecido isso, é preciso investigar o sangue da pessoa, perceber que porção de sangue índio possui. Na maioria dos casos, o Governo apontará a pessoa como indígena se o seu sangue for um quarto índio, e, de uma forma geral, terá de pertencer a uma única tribo, mas essa tribo também tem de estar reconhecida em termos federais.”
Uma reportagem recente na revista de domingo do New York Times referia que a legislação federal define os nativos americanos de 33 maneiras e são obrigados a transportar um cartão que certifica acerca do seu grau de sangue índio. Isto não acontece com outras etnias na América.
Quando se diz que existem 2,9 milhões de índios americanos e nativos do Alasca e 566 nações indígenas oficialmente reconhecidas é bom ter toda esta informação em conta para interpretar o peso dos números, e excluir, hipoteticamente, a possibilidade de qualquer tipo de mestiçagem. Na América isso nem na ficção. Lembre-se o fascínio do escritor italiano Italo Calvino pela diversidade de indivíduos, todas as possíveis “grandes personagens”, quando atravessou o país entre 1959 e 1960 e se ia fixando em algumas paragens para observar. “À noite passo muitas vezes por um bar de ínfima ordem, frequentado por marinheiros e prostitutas: o que me atrai lá dentro é a estranha mistura de povos que ali reina. Distinguir entre o chinês, o filipino, o japonês, o havaiano, o índio, o anglo-saxão e o espanhol é difícil porque há sempre a possibilidade de uma gradação intermédia...”. Está em Um Otimista na América, livro de viagens publicado postumamente e editado este ano em Portugal pela Dom Quixote.
Deixemos Calvino. 2,9 milhões de índios eram os números oficiais em 2010. Em 2015, apontavam para seis milhões de índios, ou seja, cerca de 2% de uma população americana. “(...) Os índios reconhecem outros índios sem terem de recorrer a um pedigree federal, e este reconhecimento, à semelhança do amor, do sexo, do facto de se ter ou não ter um filho, não tem nada a ver com o Governo.” É a conclusão a que chega Joe, o adolescente de 13 anos que se vê sozinho entre o silêncio em que se refugia a mãe depois de ter sido violada, e o desespero do pai, juiz numa reserva Ojibwe, no que se revela a difícil gestão pessoal entre o respeito à lei e a lealdade à sua própria emoção. O livro é sobre tudo isso e pretende ser também um alerta para a ambiguidade da justiça sempre que há um nativo envolvido. Bastava para que a obra de Erdrich fosse política. Mas não é só. É política e íntima na forma como narra o estrangulamento a que é sujeita a vida interior, doméstica, sexual por determinações que a ignoram. No epílogo de A Casa Redonda, Erdrich deixa algumas notas: “Maze of Injustice, um relatório de 2009 da Amnistia Internacional, incluía as seguintes estatíticas: 1 em cada 3 mulheres nativas será violada no decurso da sua vida (e esse número é seguramente mais elevado, uma vez que as mulheres muitas vezes não denunciam a violação); 86 por cento das violações e das agressões sexuais contra mulheres nativas são perpetradas por homens não-nativos; poucos são processados.”
Política de identidade
O que Louise Erdrich faz na sua literatura é o que se convencionou chamar política de identidade, como notou o New York Times ao falar de escritores empenhados em preservar um tipo de civilização, autores de livros que contam histórias de gente mantida na sombra por uma maioria que detém o poder. De os silenciar ou aniquilar. Desde o primeiro livro, Love Medicine (1984, com edição revista em 1993) até ao último, em 2016, que Erdrich se apoderou dessa fronteira complexa e através de histórias que cruzam mistério, crença, celebração e um sentido de justiça que não exclui o ajuste de contas civilizacional, e expõe um olhar que indaga e denuncia. Philip Roth reparou nela no primeiro conto, The World’s Greatest Fisherman, considerando-o obra de uma autora muito dotada. Seria a história de abertura de Love Medecine, sobre a vida de duas famílias numa reserva tribal do Dakota do Norte entre 1934 e 1984, um livro sobre o qual Toni Morrison escreveu: “A beleza da Medicina do Amor salva-nos de sermos devastados pelo seu poder.”
Quando é preciso apresentá-la fora do rótulo de escritora nativa, é comparada com William Faulkner, Eudora Welty ou Gabriel García Márquez pela espécie de realismo mágico de personagens e situações dos seus romances. Ela costuma referir que quem diz isso não conhece a “magia” e a espiritualidade da vida dos índios, onde tudo, o céu, a terra, as estrelas e as palavras têm uma simbologia vital. Se existe realismo mágico não é o das Caraíbas ou o da América Latina. Mas há nela a complexa genealogia e o negrume dos romances de Faulkner, além de um território ficcional que se pode comparar ao condado de Yokonapawpha, criado pelo autor de O Som e a Fúria. Mas Erdrich cita outra escritora do Sul quando fala do seu inferno pessoal, do modo como se foi sentindo rejeitada sempre que se sabia as suas origens. É uma frase de Flannery O’Connor em Revelation, “Go back to hell where you came from, you old wart dog”. O sentimento que essas palavras despertam talvez seja a presença mais forte na obra de Louise Erdrich.
É o céu e o inferno como dois pólos na literatura e experiência de vida de Erdrich. A espiritualidade índia e o catolicismo; a ideia de sagrado nas duas e a de pecado na Bíblia. O livro das escrituras parece estar em todos os quartos de hotel do Midwest. Fargo não é excepção, chegam notícias de leituras de Bíblia ao domingo à tarde. Católicos e protestantes unem-se nos evangelhos e no Antigo Testamento. Junto a uma igreja, ouvem-se cânticos. Há índios nas igrejas, o mistério de uma fé que convive com outra fé e que pode ser simplesmente explicado como no último romance de Erdrich: “Landreaux era um católico devoto que também seguia os caminhos tradicionais, um homem que mataria um cervo, agradeceria a um deus em inglês e deitaria tabaco a outro deus em Ojibwe.”
Louise também é isso tudo. Como Joe, o protagonista de A Casa Redonda, cresceu numa tribo índia nos Estados Unidos num mundo comandado pelo simbolismo mas onde a última palavra pertence, no limite, à da burocracia federal. Ainda como Joe, tem uma identidade complexa. Ou nem tanto. “Pode parecer muito confuso para a maioria das pessoas definir o que é ser índio na América actual, mas quando se está entre eles, entre nativos, tudo fica mais simples”, disse a escritora numa entrevista ao PÚBLICO em 2013. E acrescentou: “Eu não sou só índia, tenho também uma herança alemã e sou essa mistura de origens.”
As fronteiras identitárias podem ser fluidas, fixam-se na anatomia, formam linguagens raras onde cada palavra é um símbolo. Como ‘Sioux’, que agora quer dizer resistência e se ouve contra o silêncio com raiva, deixando um rasto como o apito do comboio na planície.




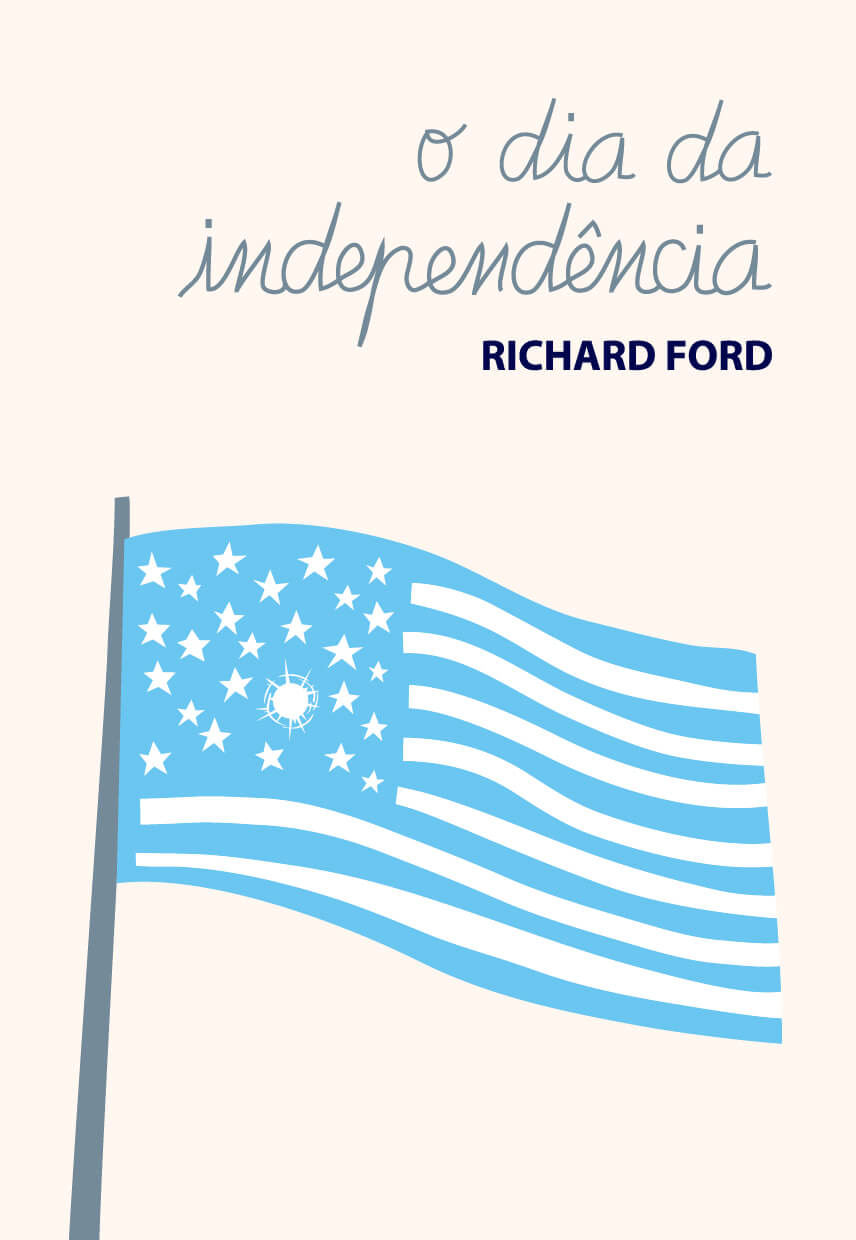

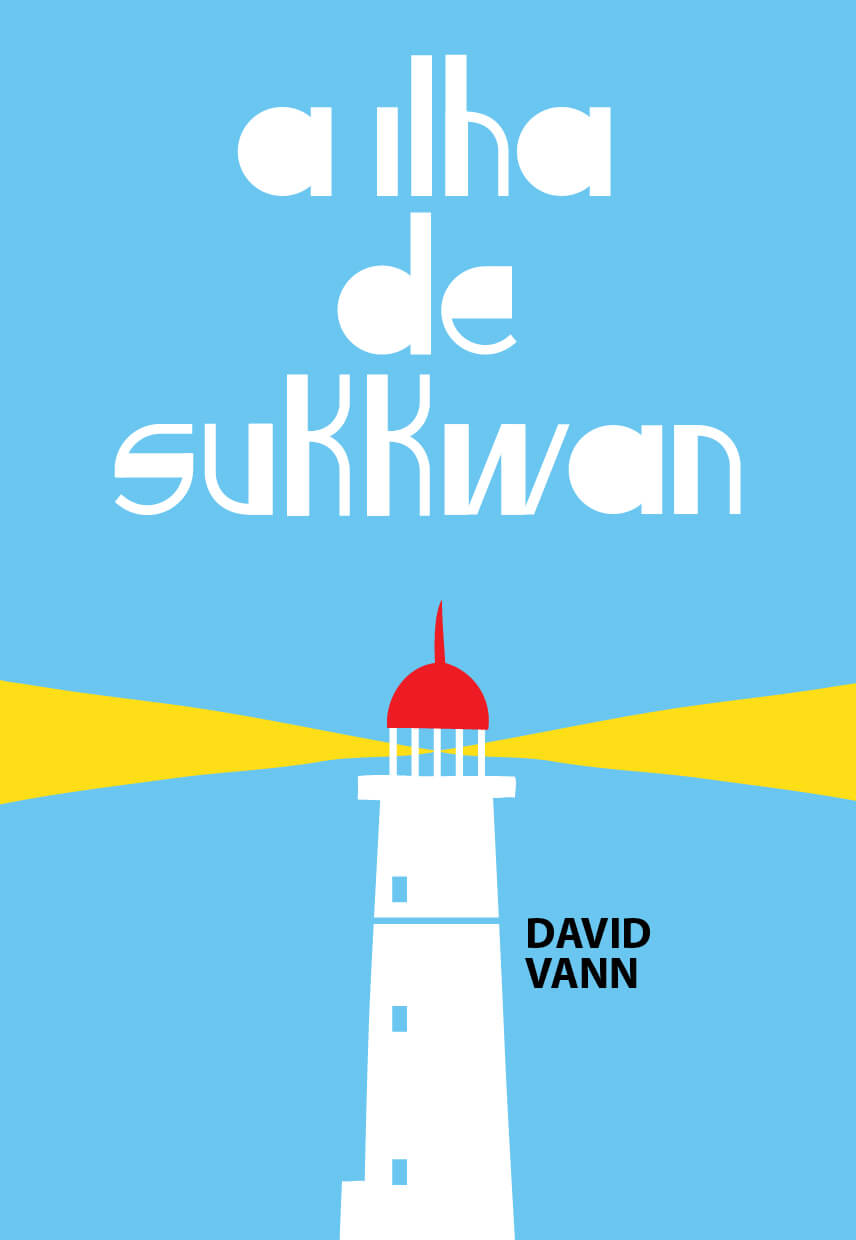
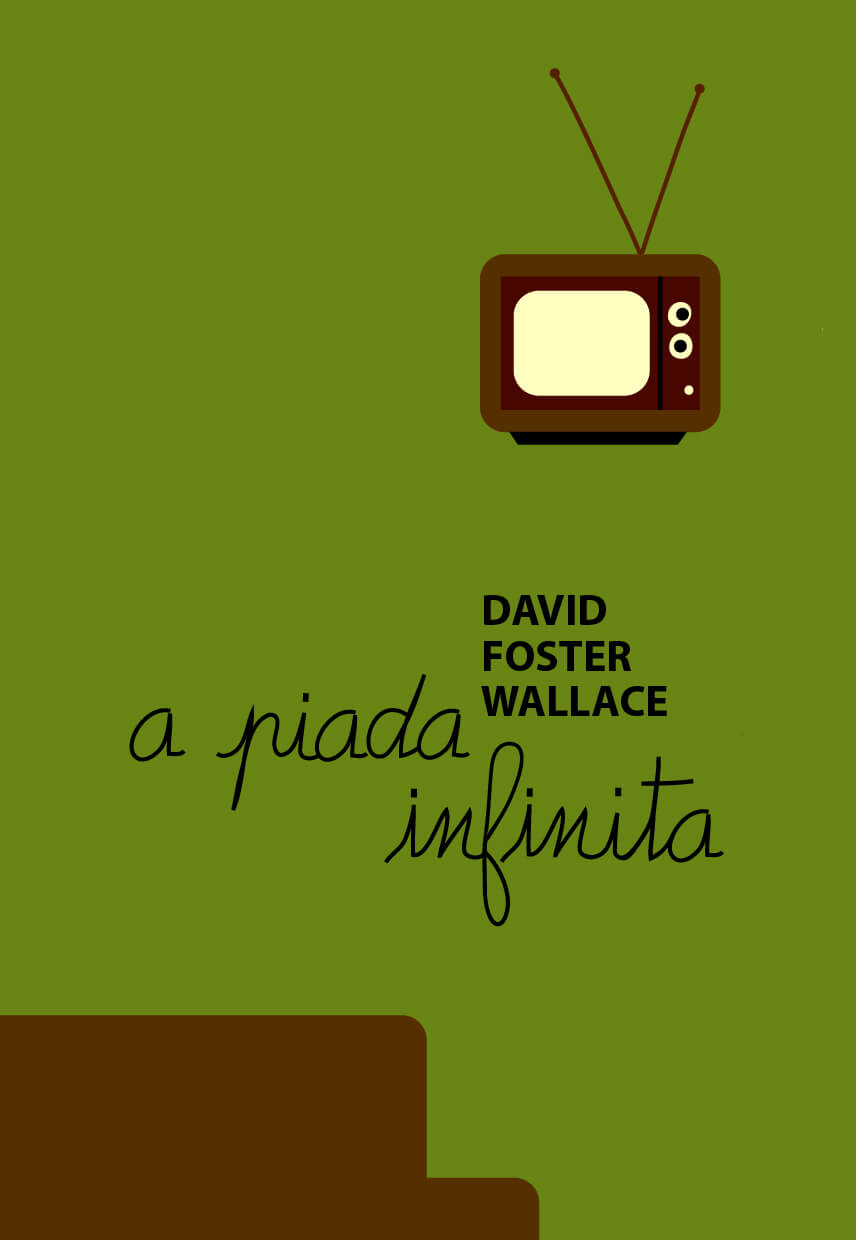


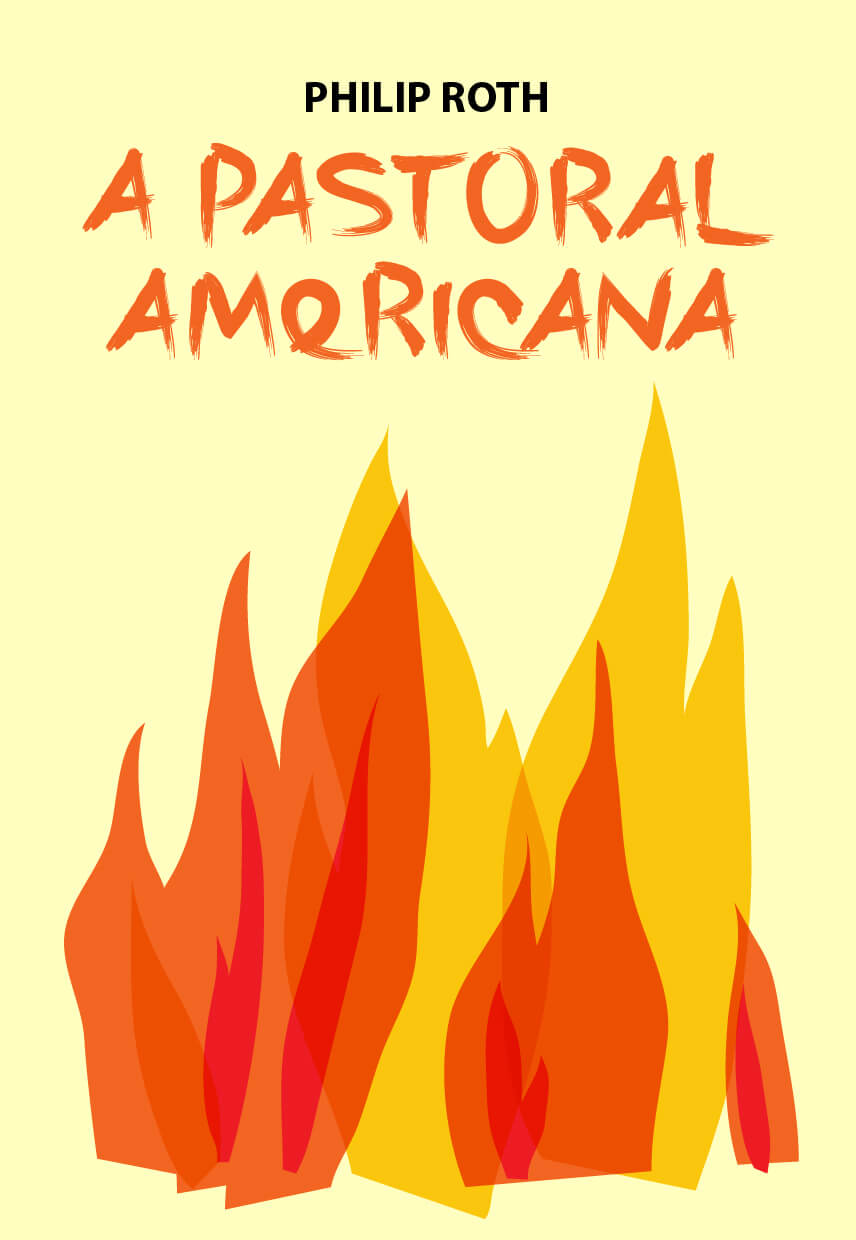
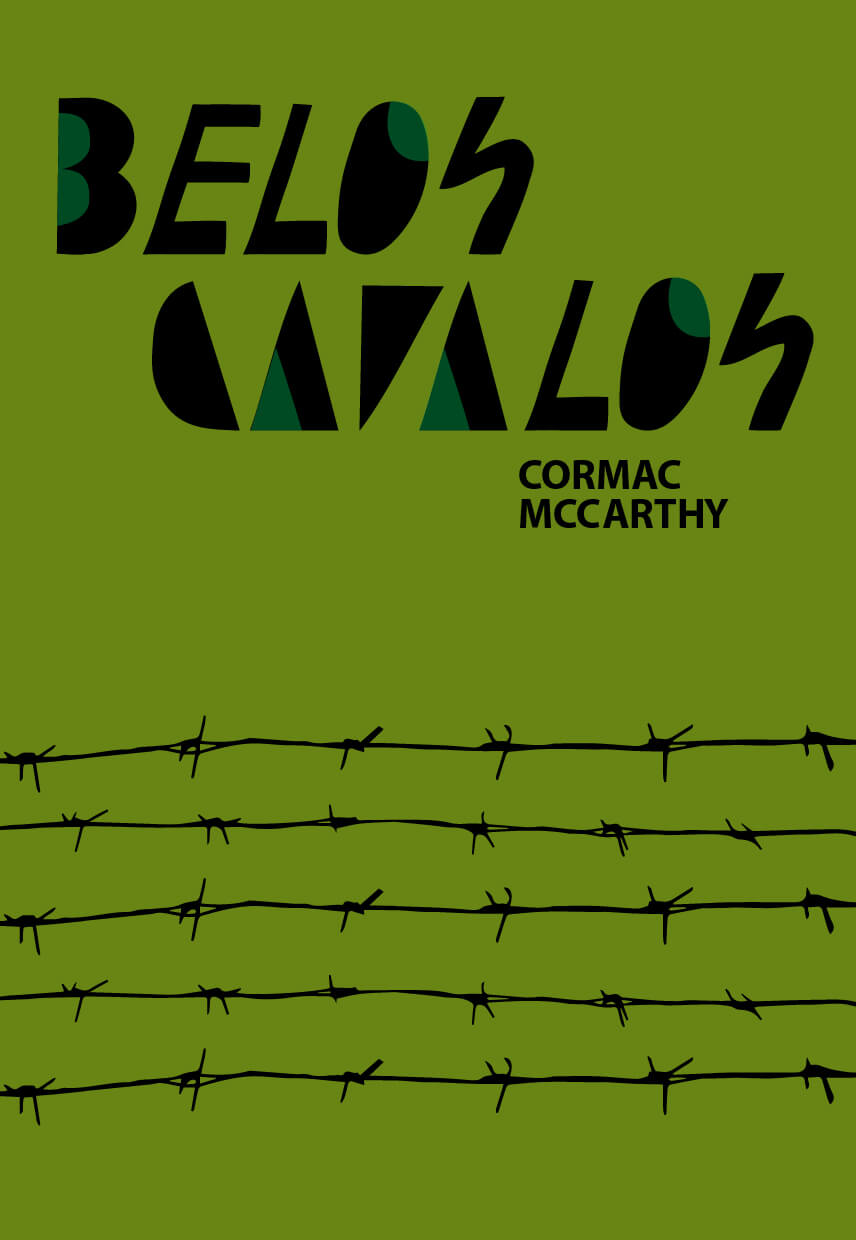
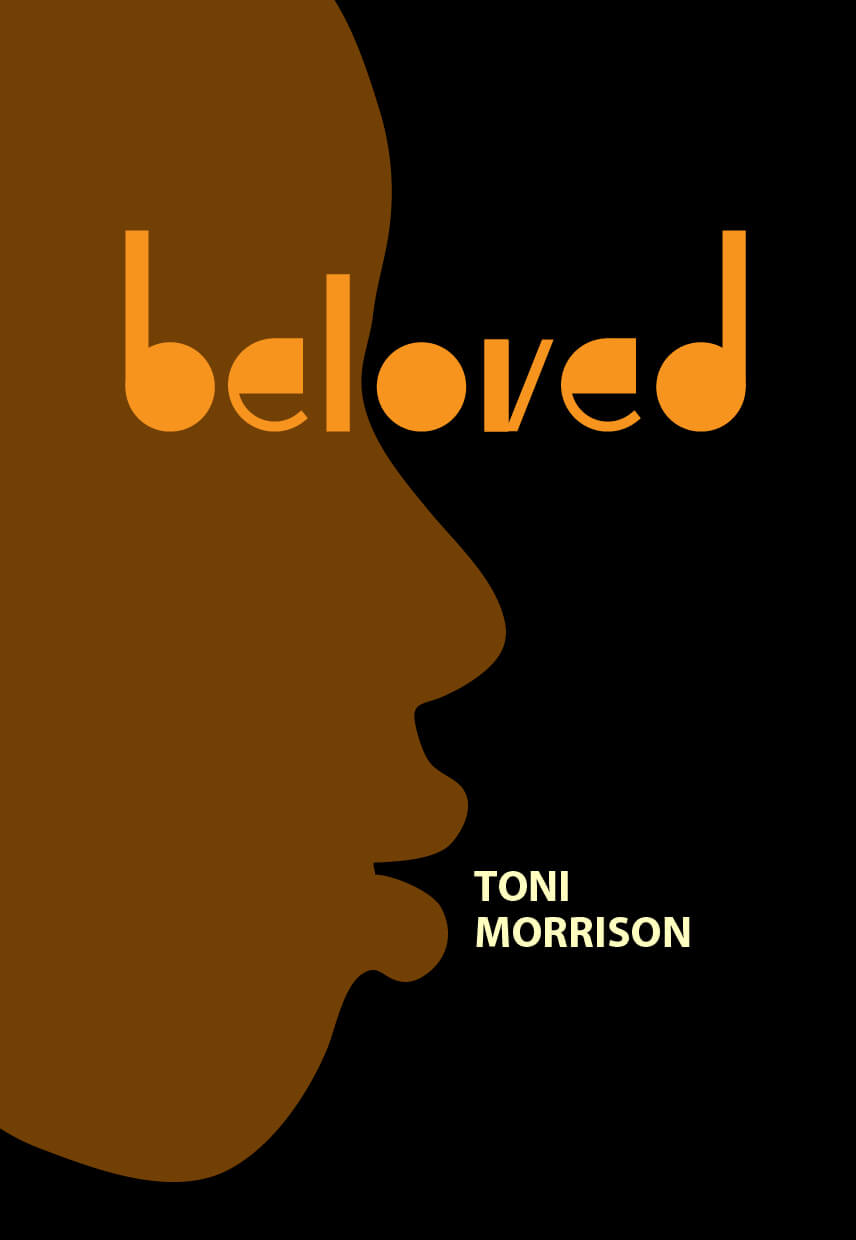
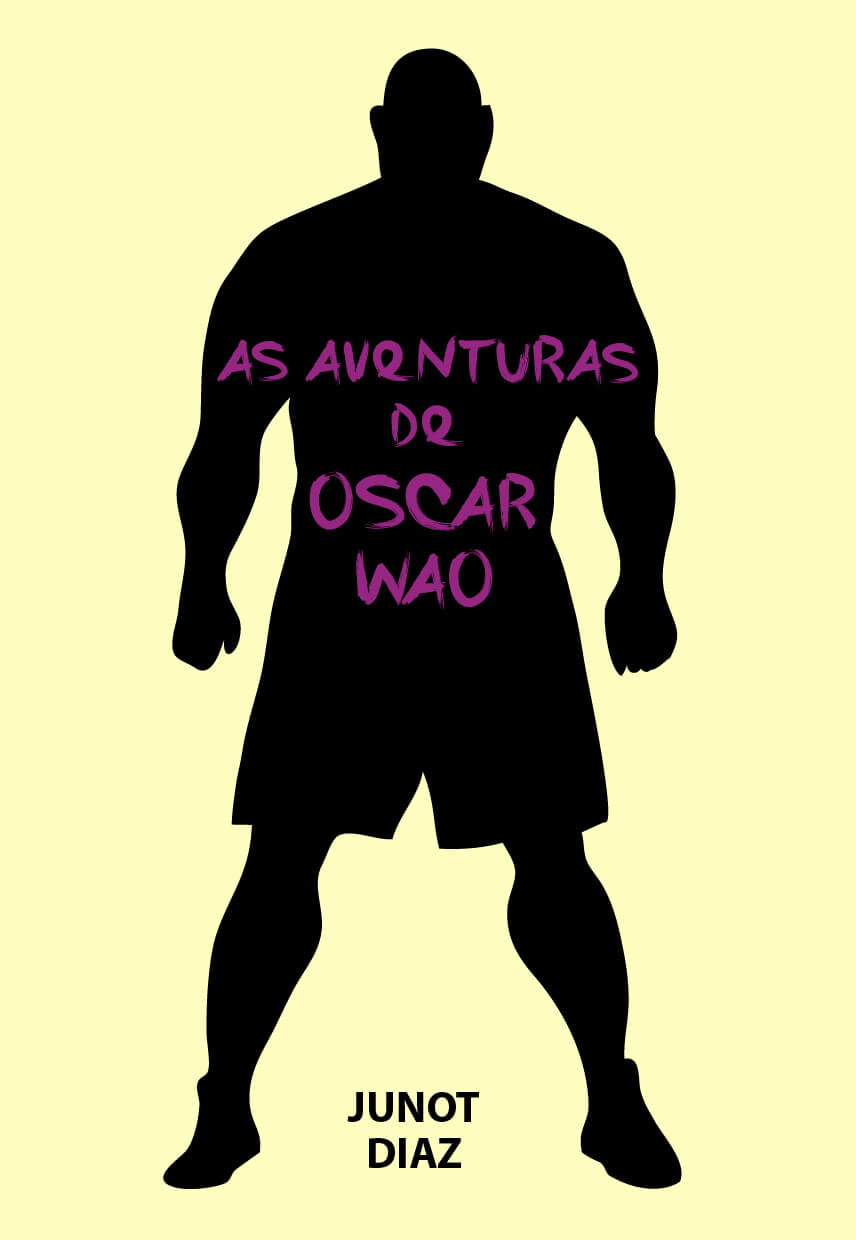



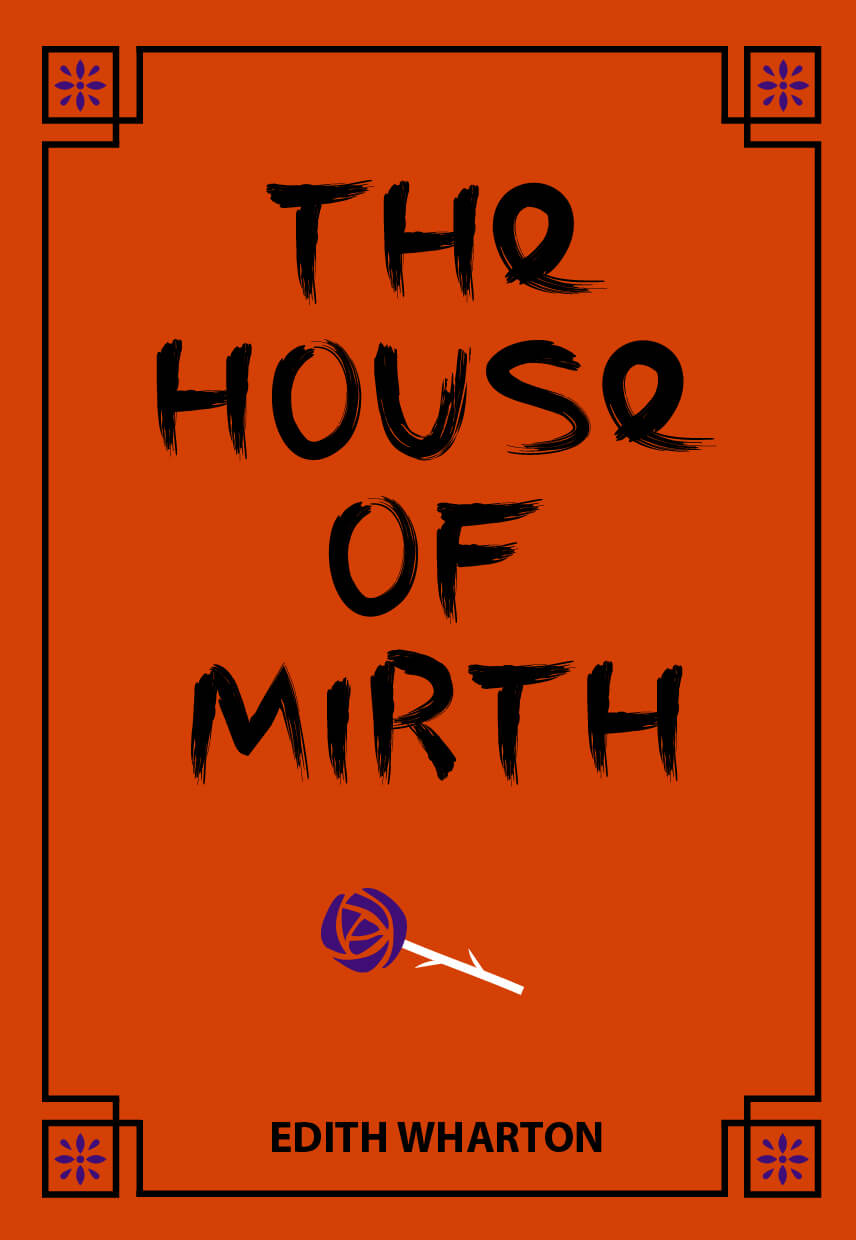



Comentários