A primeira coisa que Anne faz todos os dias quando acorda é arredar a cortina da janela da cozinha e olhar as montanhas. “Só para ver se ainda estão lá. Se estiverem, está tudo bem.” Sabe que olha aqueles montes como se fossem uma divindade que a protege. Naquela manhã parecem um contorno numa enorme tela branca, céu e terra da mesma cor e um silêncio oco a envolver o conjunto. Anne enche uma caneca de café e volta à janela, agora com mais tempo. Há um grasnar ao fundo. Um bando de gansos voa baixo e a tela ganha vida. Outro som, o de um motor. Kevin está a chegar. Estaciona o velho táxi, uma carrinha branca dos anos 1970, já meio ferrugenta, com bancos de pele corridos. Saiu cedo para o aeroporto, para esperar os passageiros dos primeiros voos, e volta a tempo de partilhar o pequeno-almoço com a mulher. Anne e Kevin, ela de 75 anos e ele de 83, têm esta rotina diária no sítio onde vivem há 43 anos, no sopé das Rocky Mountains. É daí, a partir desse universo interior, numa casa de madeira junto a uma lagoa, que os dois olham o mundo. “O mundo que vejo na televisão vai muito depressa e as montanhas acalmam-me”, diz Anne, outro café nas mãos, num domingo de manhã em que Kevin não foi buscar ninguém ao aeroporto e a levou à cidade.
Anne e Kevin vivem junto a uma vila chamada Cleft e foram passear a Boise. Diz-se boizi, e é a capital do Idaho, no sudoeste do estado. Estão sentados numa cafetaria do centro, a neve a derreter no passeio do outro lado do vidro. É ele quem fala. Ela ouve, compõe-lhe algumas frases. Não foi o isolamento que os atraiu à montanha mas a ideia de terra prometida em comparação com o lugar onde viviam, uma cidade pequena no Minnesota, entre o Midwest e o Sul dos Estados Unidos. É a voz de Kevin: “Chegámos há 53 anos, num comboio. Agora já não há comboios aqui, só carros. É uma pena. Gosto de comboios e acho que fazem falta neste país... Perde-se na sua história, Anne desperta-o. “Pense num clima mau, e ele existe no Midwest, pense em qualquer coisa má, e ela existe no Midwest. Quis sair de lá. Aqui, o mar está mais perto e a montanha é simpática”, retoma então a narrativa da sua rotina, um quotidiano certo só brevemente interrompido, espera ele. No dia anterior, Donald Trump anunciou a interdição à entrada de muçulmanos no país, houve protestos em Boise e, apesar de Kevin e Anne não quererem falar de política, tudo parece levar lá. “Não o podem acusar de não fazer o que prometeu e muito mais depressa do que se pensava, não podem mesmo.” Kevin abana a cabeça, gesto entre a admiração e a incredulidade. No dia seguinte vai voltar ao aeroporto.
Boise fica num imenso vale nas margens do rio com o mesmo nome. Um serpenteado entre montanhas e bosques, com pequenas baías para onde voam patos e gansos. No último domingo de Janeiro, o rio é uma linha cinzenta em contraste com o branco da neve que cobre cada pedaço de chão. Seguir essa linha a partir da maior cidade do Idaho é entrar numa densa floresta de choupos do Canadá, árvores com bagas que se assemelham a algodão, pinheiros, carvalhos, nogueiras. Quatro estações do ano bem vincadas favorecem a diversidade da flora naquele que é um dos estados mais montanhosos e menos povoados do país.
Em mais do dobro da área de Portugal, vivem um milhão e seiscentas mil pessoas (número de 2016). Há 30 anos eram um milhão, o que equivale a um crescimento de cerca de 20 mil habitantes por ano atraídos pelo emprego em empresas de novas tecnologias, turismo e agricultura. Mesmo assim, o Idaho é o segundo estado mais pobre da América, atrás do Mississípi. Tem sido governado pelo partido Republicano desde 1995 e nas eleições presidenciais de 2016 votou maioritariamente em Donald Trump: 59,2%, ou seja, a totalidade dos representantes do Idaho para o Congresso americano: quatro. E Trump venceu mesmo em Boise, o núcleo mais liberal do estado, cidade com uma média de idades de 35 anos, formação superior e um mayor democrata desde 2004.
“Boise é uma excepção”, refere Sandra, loura, olhos azuis, pele quase transparente. Fuma um cigarro à porta do mesmo café onde estão Kevin e Anne. Tem 25 anos, nasceu no vizinho estado do Montana, mas vive ali desde os três anos. Trabalha numa empresa de acessórios de informática. “Eu não votei”, diz, os pés a baterem no chão para tentar manter a temperatura do corpo. “Os meus pais votaram Trump. Muita gente votou Trump e o argumento é o do emprego e da imigração. Têm medo que venham tirar o que acham que lhes pertence por direito. Mas em Boise muita gente já não pensa assim. Eu não penso assim.” Por que não votou então? “Achei que não seria preciso.”
América rural, crente
Sandra parece fazer parte de um conjunto muito homogéneo, os brancos do Idaho. A população do estado é 90% caucasiana, descendente sobretudo de ingleses e alemães que levaram consigo a prática dos vários tipos de protestantismo quando foram habitar aquela zona, que seria integrada nos EUA em 1846. O Idaho foi o 43.º estado e ainda hoje se especula acerca da origem do seu nome. Diz-se que é um som que terá ficado de uma das tribos de índios que habitava a região. Idaho!, exclamação que quer dizer qualquer coisa como “o sol desce pela montanha”. O sol a que os índios dançavam por trazer a renovação. Isso agora é apenas parte do folclore. Os nativos não chegam a 2% do total dos habitantes, e mais de 80% das pessoas que vivem no Idaho declaram-se cristãos. Desses, 60% são protestantes. Por ali acredita-se que “as razões por que as coisas acontecem estão escondidas, mas escondidas no mistério de Deus”, como se lê em Lila (Presença, 2103), o último romance de Marilynne Robinson. A acção arranca no Iowa, estado do Midwest, em 1920, quando uma mulher rouba uma criança. A criança chama-se Lila e vai ser para sempre condicionada pelo medo. É o ponto de partida para uma parábola da América rural, crente, em permanente migração, “um país bastante” decente como achou a protagonista ao olhar as searas num dia de sol e a achar que “aquilo não tinha fim, os Estados Unidos da América”.
Essa visão sobre o país foi construída no Idaho, onde Marilynne Robinson nasceu há 73 anos e onde outro escritor, Ernest Hemingway, morreu a 2 de Julho de 1961, dando um tiro na cabeça depois de meses de desespero. Num momento como no outro, o cenário foi o das montanhas que acalmam Anne e atraíram o avô de Ruth, narradora de Housekeeping (1980), o livro de estreia de Marilynne Robinson, que o Guardian considerou um dos cem melhores romances de sempre. “Numa Primavera o meu avô deixou a sua casa subterrânea, caminhou até à estação e apanhou um comboio para oeste. Disse ao homem da bilheteira que queria ir para as montanhas e ele arranjou maneira de o mandar para aqui, o que não foi uma má piada, ou uma piada sequer, já que existem montanhas, montanhas incontáveis, e onde não há montanhas há colinas.” Seguiram-se Gilead (Ao Meu Filho, Difel), o primeiro romance da trilogia que decorre num território ficcional, um pouco à imagem do condado de Yoknapatawpha, criado por William Faulkner, onde a acção humana é marcada pelo desespero e obsessão religiosa.
Gilead é a história de um velho pastor protestante, John Ames, que, sentindo-se próximo da morte, decide escrever a sua vida para deixar ao filho de sete anos, e ao fazê-lo conta a existência das gerações que o antecederam: a do pai, um pacifista cristão, a do avô, capelão nos anos da Guerra Civil. Publicado em 2004, o romance ganhou o Pulitzer. Vamos encontrar Ames na mesma geografia com algumas das mesmas personagens em Home (2008) e em Lila (2014), e fica assim completa a trilogia sobre o homem religioso na sua contradição. Com Housekeeping, constituem um épico sobre a solidão do homem rural na sua relação com Deus e o território; no caso, a América.
Quatro romances em 73 anos de vida, todos marcantes na história da literatura contemporânea. Se tudo em Robinson tivesse de ser resumido a uma imagem, seria a da tal cabana através da qual se olha o resto, com a mão que arreda a cortina, entre o medo e a curiosidade, numa gestão complexa de contradições. Das montanhas do Idaho, lendo Robinson e viajando pelo estado no fim de Janeiro de 2017, vê-se um país com medo, o medo de quem olha e o medo de quem é olhado. Nos dois casos é um medo presente.
A solidão do novo mundo
Não há voos directos para Boise a partir de Nova Iorque. É preciso fazer escala em Houston, Chicago ou Detroit até percorrer os quatro mil quilómetros que separam as duas cidades – mais do que a distância entre Lisboa e Bucareste – e atrasar ou adiantar o relógio duas horas, até estar próximo do Pacífico. “Um dia hei-de ir a Nova Iorque”, diz um rapaz que trabalha na loja de roupa desportiva no centro da capital do Idaho, “mas para isso tenho de poupar muito”. Não resiste a fazer piadas. “Para mim, Boise é uma grande cidade. Sou do Norte, rural. Tenho sotaque. Não lhe disseram que vinha para a terra da batata?”
Disseram.
O Idaho é conhecido como a terra da batata – com um terço do total da produção dos Estados Unidos –, e só muito depois como do esqui, das boas práticas religiosas, do conservadorismo político; tem sido apresentado na literatura pelo seu isolamento, solidão, rudeza de costumes, simplicidade de linguagem, habitado por gente temente a Deus, que olha de longe o país como um eremita olha a cidade a partir da sua cabana. Por ali, parece mesmo fácil ser eremita como ocupação permanente; ser-se esquecido ou esquecer para sempre, tal a dimensão da montanha e da floresta. É opção ou fatalidade.
Denis Johnson, autor de livros como Anjos ou Filho de Jesus (Relógio d’Água), criou umas das personagens mais emblemáticas dessa paisagem na novela Train Dreams (sem edição em português), e deu-lhe o nome de Robert Grainier, alguém que chegou ao Idaho no início do século XX para criar uma família e acabou muitos anos depois sozinho. “Quase todos naquelas paragens conheciam Robert Grainier, mas quando ele morreu durante o sono em algum momento de Novembro de 1968, permaneceu morto na sua cabana o resto do Outono e durante o Inverno, a sua falta nunca foi notada.”
Johnson vive entre o Arizona e o norte do Idaho, perto do lugar onde a escritora Marilynne Robinson cresceu e onde teve como primeira aspiração na vida nada mais do que ser eremita, apelo irresistível a quem, como ela, gosta da solidão; seja “a solidão forte”, como a descreve uma personagem do seu primeiro romance, “o tipo de solidão que faz os relógios parecerem lentos e ruidosos” e as “vozes soar como vozes a atravessar a água”, ou a solidão sentida por Lila, no seu último livro: “A solidão era uma coisa má, mas era melhor do que qualquer outra coisa de que se lembrasse.”
E a memória é crucial nesse jogo, em narrativas onde a toada soa a essa construção enganosa entre o facto e a lembrança do facto que aos poucos confere identidade e é indissociável da geografia. Tudo no Idaho fica entre montanhas ou na própria montanha. São 114 serras numa imensa cadeia que se estende pelos estados vizinhos de Montana, Nevada, Utah, Oregon, Washington e Wyoming, um cenário entrecortado por rios, lagos e vales que serviu a Robinson para criar a vila ficcional de Fingerbone, inspirada em Sandpoint, cidade de 7 mil habitantes junto ao lago de Coeur d’Alene, no noroeste do Idaho, perto das fronteiras com o Canadá e o Oregon. Marilynne Robinson cresceu aí, numa família presbiteriana, mais por tradição do que por fé, com o irmão a dizer-lhe, eram ainda muito pequenos, que ela iria ser poeta e ele pintor. Ela é professora, escritora, ensaísta, feminista, activa em causas ambientais, nomeada pela revista Time uma das figuras mais influentes em 2016, fiel à sua religião e a escritora preferida de Barack Obama. Parece muita contradição. Será? Ele é o artista plástico David Summers. Um e outro permanecem inseparáveis. Em Housekeeping, pressentimos David no modo como o avô de Ruth pinta as montanhas a aguarelas, os Alpes, os Andes, os Himalaias, as Rockie, “e muitas mais montanhas, nenhuma delas identificável, se é que alguma delas era real”.
Escrito enquanto Robinson andava na universidade, o romance transporta uma visão do mundo construída a partir do interior, da casa, do lado do humano, num ambiente que valoriza as virtudes domésticas, moldado por uma geografia que, sem ser hostil, isola, dando a consciência a quem a habita “de que toda a história da humanidade aconteceu noutro lugar”, lê-se em Housekeeping. Isso molda uma relação próxima com Deus, um Deus único e o único que parece capaz de aplacar o sentimento de abandono.
Está tudo na lenda da expansão da América que é a lenda pessoal de cada um dos que a viveram. “Temos uma lenda familiar sobre a chegada de parentes no século XIX – vindos em vagões cobertos –, florestas escuras, lobos, índios americanos que vinham pedir tartes. A minha bisavó foi uma das primeiras pessoas brancas naquela parte do leste de Washington, e supostamente ela cuidava de um índio ao pé da porta, ela saía, e ele dizia, tarte. Isso é apenas uma história, mas as mulheres na minha família sempre fizeram tartes. E têm muita vaidade nisso”, contou em 2008 numa entrevista à Paris Review, confirmando que sim, também sabe fazer tartes.
Não há como não pensar nisso ao ver o fumo sair da chaminé de uma casa de madeira, branca e azul num sábado à tarde de um Inverno que Kevin e outros habitantes do Idaho garantem ser o mais frio dos últimos 150 anos. A casa não está em Sandpoint nem em Fingerbone, mas é no mesmo estado a norte do país, na mesma atmosfera trágica, onde o destino tem um papel determinante. Na sua ficção, Marilynne Robinson descreve-os numa cadência alucinante. “O povo de Fingerbone e arredores era muito dado ao homicídio. E parecia que por cada crime lamentável havia um acidente terrível. O que com o lago e o caminho-de-ferro, e o que com tempestades de neve e fogueiras e celeiros e incêndios florestais e a disponibilidade geral de espingardas e armadilhas para ursos e licor caseiro e dinamite, o que com a prevalência de solidão e religião e as raivas e êxtases que induzem e a proximidade das famílias, a violência era inevitável.”
Foi nesse ecossitema que Marilynne Robinson cresceu, filha de uma dona de casa e de um chefe de departamento de uma empresa de madeiras. Leu todos os livros que conseguiu, ela e o irmão desafiando-se um ao outro no interesse pela literatura, poesia, história, pintura. A leitura mostrou-lhe o mundo para lá das montanhas. Os pais deixavam-na estar, em silêncio, dois mundos separados, o das crianças e o dos adultos, que se juntavam nos ritos familiares. “À mesa do jantar, falávamos mais de política do que qualquer outra coisa. Eles eram muito republicanos. Eu não precisava de dizer isto. Ou talvez precise”, contou na mesma entrevista à Paris Review.
E talvez precise para afirmar como destoou, ou ainda destoa, do ambiente onde nasceu. Um lugar, onde como no lugar de Lila, a religião tinha sobretudo que ver com interdição, como um dia lhe disse uma mulher. “Não se pode beber, nem fumar, nem dançar, nem usar maquilhagem, nem jóias. Não gostam lá muito que as mulheres guiem. Também não se pode roubar nem matar, mas não falam assim tanto disso. Mas eu não me importo. Fui educada desde pequena nessa religião.” Castigador ou salvador, Deus andava sempre por perto.
Abençoados os que...
Ainda anda. Não se estranha que um pouco por todo o Idaho, de hora a hora, se ouçam os sinos. Agora ecoam onze badaladas e o som entra no vale a chamar para a missa na St. Michael’s Cathedral, uma igreja presbiteriana bem no centro de Boise. É o quatro domingo da Epifania e o primeiro dia sem neve desse Inverno. Desde Dezembro que as temperaturas não sobem do zero. Àquela hora estão oito graus negativos, mas há sol. Antes de começar o serviço religioso, o reverendo saúda a melhoria de tempo. É uma mulher. Tem ar de adolescente, óculos de lentes grossas, cabelo muito comprido e um fino piercieng de ouro no nariz. Chama-se Emily Van Hise e a voz soa como uma melodia nas paredes do templo quase cheio.
Homens, mulheres, muitas adolescentes raparigas cantam os cânticos e dão graças depois de uma homilia que apelou à aceitação da diversidade a partir de um Evangelho Segundo São Mateus. “Abençoados sejam os que procuram a Justiça”, ouviu-se. No altar, Emily pede por muitas intenções, repetindo nomes, causas e a melodia da sua voz parece eterna até se dirigir aos que a ouvem com um “agora é a vossa vez”, em silêncio ou numa intenção partilhada. Todos os rostos estão baixos em oração, e ouve-se a voz grave de um homem: “Pelos refugiados!” O único som foi o do virar discreto de todas as cabeças à procura do autor daquele pedido. É uma assistência de espectros curvados. Uma mulher tira o lenço do bolso e limpa as lágrimas. Há mais gente a repetir o gesto.
É este o dia seguinte à decisão de Donald Trump de proibir a entrada no país de muçulmanos depois de Obama, em Agosto, ter autorizado a vinda de 10 mil sírios para os Estados Unidos. Na altura, o New York Times noticiava que Boise aceitara receber mais refugiados do que as cidades de Nova Iorque e Los Angeles juntas. Nos últimos 12 meses chegaram ao Idaho 1221 pessoas nessas condições, mais de 50% vindos do Congo, mas também do Sudão, Síria e Iraque. Os números são do Gabinete para os Refugiados do Idaho (GRI), organização que funciona em Boise desde os anos 70 do século XX.
"Muitos dos que foram chegando ao longo destes anos integraram-se e tornaram-se cidadãos americanos. Ficaram independentes do nosso apoio. Esse é o nosso principal objectivo", referiu ao P2 Christina Bruce-Bennion, directora do GRI. "A maior parte está no sudoeste do estado, nas cidades de Boise e Twin Falls", e, garante Christina, "recebem bastante apoio das comunidades locais, mais familiarizadas com o programa e com as necessidades destas pessoas". Diz, no entanto, que no último ano começaram a surgir mais perguntas. "As palavras 'segurança' e 'terrorismo' potenciaram o medo. Isso e as imagens que vêm da Europa, com centenas de pessoas a caminhar entre fronteiras. Parte da população, sobretudo nas zonas mais conservadoras do estado, a norte, temem que isso se repita aqui e haja gente a entrar sem qualquer controlo. Não é uma coisa só do Idaho. Parece-me geral. Mas este tipo de medo revela um total desconhecimento acerca do processo de entrada de refugiados neste país. Quando chegam, já passaram por um filtro muito apertado, uma longa triagem. Mas há muita informação deturpada e contra-informação, muitos mal-entendidos. Pouca gente saberá que nunca houve qualquer tipo de acto terrorista nos Estados Unidos vindo de um refugiado."
Christina não esconde a preocupação com a directiva de Donald Trump que impede a entrada de refugiados e cidadãos de sete países muçulmanos: Irão, Iraque, Líbia, Iémen, Sudão, Somália e Síria. "No sábado, dia 28 de Janeiro, muitos refugiados estavam no ar, dentro de um avião, quando a ordem saiu. A consternação, a angústia foram muitos grandes. Por parte de quem não pode entrar e de quem os esperava. Há famílias divididas e havia muito medo", afirma a responsável pelo gabinete que dá apoio desde a chegada até que se dê a integração. "Ajudamos a encontrar casa, emprego, escolas para os mais jovens, damos apoio jurídico, garantimos que têm assistência médica e, no início, há um apoio monetário que dá para pagar a renda de casa. Neste momento estamos num impasse. Tentamos acalmar as pessoas. Há apenas uma família a chegar, hoje à noite [dia 2 de Fevereiro]. Todas as outras entradas estão canceladas. Além disso, quem tem autorização de residência no país vê os seus movimentos limitados. Quem sai não sabe se pode voltar a entrar, quem viaja nos Estados Unidos não sabe se será surpreendido.”
Ir à igreja como quem vai a casa
No fim da liturgia, Emily cumprimenta muita gente, apertos de mão demorados. Traz ainda vestidos os paramentos. Depois de se mudar para um fato escuro com uma gola branca que a identifica em qualquer parte, refere ao P2 que a “maioria das pessoas em Boise tem muito orgulho em receber os refugiados” e conta que “muitos já entraram na igreja” para pedir ajuda.
Emily não é dali. Nasceu em Washington DC há 35 anos, viveu em Kansas City, Califórnia, Nova Iorque. Explica a sua fé como uma coisa natural. “Fui criada na Igreja episcopal. Sempre gostei muito da celebração eucarística, da comunhão e isso ajudou a manter-me muito próxima da minha família.” Pais, irmão, avós, tios e primos vivem uma diáspora americana e quando se visitam vão juntos à igreja “como quem vai a casa”. A igreja como centro. “Quando fui para a universidade, estudei planeamento urbanístico e via as cidades a crescer à volta de igrejas, e as igrejas eram construídas da mesma forma, com o altar no meio, onde as pessoas podem entrar, religiosas ou não, só para visitar, pedir ajuda. Há uma assistência, uma comunidade. A fazer pesquisa, projectos, eu acabava sempre na igreja, a falar com o padre. Percebi que queria fazer parte disso.”
Foi ordenada aos 25 anos, depois de um ano de voluntariado e outro num seminário em Nova Iorque. Esteve em igrejas no estado de Nova Iorque e no Connecticut. “Um dia recebi uma chamada do padre de St. Michael’s. Nunca tinha estado no Idaho. Vim visitar a cidade no começo de um Verão, a temperatura era muito agradável, havia luz até às dez e meia da noite, as pessoas eram simpáticas. Sim, quase toda a gente é branca, muito parecida. Estava habituada a lugares com maior diversidade. Disse ao meu marido que ficava e que o veria quando ele me viesse visitar. Senti-me em casa.” Foi há três anos. Já fala de Boise com conhecimento. “É um sítio muito mais conservador do que outros onde estive, mas levou pouco tempo a perceber que politicamente é a congregação mais variada que conheci, as pessoas são muito piedosas e preocupam-se com o ambiente e a comunidade. É um conservadorismo um pouco diferente.” Diferente como? Sorri. “Boise não é tão conservador como o resto do estado. Nesta congregação, as pessoas são politicamente muito diversificadas. Sim, há alguns assuntos que podem ser mais complicados, mas as pessoas têm grandes convicções.”
O assunto “complicado” do momento é a divisão do país já diagnosticada por Kevin, o marido de Anne. Emily descontrai. “Sim aqui também há essa divisão. Há no país, na cidade, nas famílias.” Faz uma pausa, um suspiro. “É muito assustador ouvir o que se está a passar com os refugiados. Um soco na face.” À pergunta de que lado está neste país dividido, Emily responde: “Espero estar do lado da justiça.” Cita o evangelho, fala da tomada de posse, de muita gente na sua Igreja ter discordado com o discurso. “Rezamos sempre pelos nossos governantes, o que não significa que concordemos com eles. Pomos de lado convicções políticas, a diversidade faz parte da democracia, mas há coisas que nos desconcertam...”
Deriva da América para longe de uma identidade cristã
Marilynne Robinson não é padre, mas também disse sermões na Igreja Presbiteriana da comunidade onde vive, no Iowa, há mais de 20 anos. Diz que isso acontece na ausência do pastor, muitas vezes pedem-lhe porque sabem que escreve sobre essas coisas. E, mais uma vez à Paris Review, admite ficar nervosa: “Estamos a falar dentro de uma congregação. Eles conhecem o género. Há muitas coisas que o sermão tem de ressoar além do texto específico que é o assunto do sermão. Na minha tradição, há uma certa postura de graciosidade que é preciso ter, não importa qual seja o tema principal do sermão.”
Esta é a mesma mulher que em Março de 2016 escrevia no Guardian sobre Donald Trump: “A sua implausível suposição como um candidato abrigou-o a meses de escrutínio pela imprensa, que, no entanto, lhe tem dado banhos de atenção. Ele é alarmante, assim como absurdo, mexendo e alimentando os piores impulsos no eleitorado. (...) Trump saiu da fusão entre notícias e entretenimento, de um mundo de fantasia gótico de estrangeiros sinistros e catástrofe iminente, um facto que pode tê-lo feito menos bizarro para os seus espectadores e ouvintes do que o resto de nós estávamos pronto para entender.”
Meses depois, no dia da tomada de posse, a 2 de Janeiro, dizia no mesmo jornal: “Estamos numa situação que teria sido inimaginável há um ano. Damos posse a um presidente cuja vida mental é coisa de avaliações televisivas, concursos de beleza e fantasias egoístas, que ameaçam e se regozijam e encerram rancores e querem que todos a conheçam, cujos impulsos são alarmantes e alarmantemente incoerentes. Ele não tem o tipo de conhecimento da história e da vida cívica e maneiras decentes que a maioria dos adultos adquiriu...”
Barack Obama descobriu Marilynne Robinson durante a sua primeira campanha para a presidência dos Estados Unidos. Estava então em Des Moines, capital do Iowa, onde Robinson dá aulas de escrita criativa na universidade local. Entrou numa livraria e comprou Gilead. Obama gostou da personagem do reverendo Ames, “gracioso e cortês”, um homem um pouco confuso “sobre como conciliar a sua fé com todas as várias dificuldades que a sua família atravessa”, conforme a descreveu na entrevista que fez a Marilynne Robinson, em 2015, transcrita na New York Review of Books, quando saiu o volume de ensaios The Givenness of Things. Neles, Robinson fala de Deus, do clima, do nuclear, do poder, do medo, e do papel do medo na religião e na democracia. Tudo visto a partir do filtro do cristianismo, como também sublinhou Obama, e vincando bem a ideia presente nos ensaios, nos romances, nas entrevistas: a de que não gosta da divisão entre religioso e não religioso porque sempre que uma religião traça um círculo à sua volta torna-se uma falsificação.
E o círculo é uma fronteira e a fronteira gera medo. Do exterior, do outro, da diferença. “A América contemporânea está cheia de medo”, escreveu Robinson para logo a seguir acrescentar que “o medo não é um costume da mente cristã”. O cristianismo ensina a não temer a morte, a amar o outro. Estas são apenas algumas premissas que Robinson, à luz do cristianismo, contrapõe ao uso da religião para fomentar o medo. “Ouvimos muita coisa sobre a deriva da América para longe de uma identidade cristã”, refere no ensaio O Medo, alegando que isso é o reflexo de um desconhecimento acerca do que é essa identidade. Lila duvidava do medo de Deus, mas tinha medo dessa dúvida. E tinha medo. “Eu cá tenho medo d’Ele”, confessou Lila um dia, o medo da omnipresença, de quem tudo vê. É Robinson na ficção. Depois há Robinson no ensaio: “Aqueles que se esquecem de Deus, única garantia de nossa segurança, qualquer que seja a definição para essa palavra, são reconhecidos pelo modo como dão respostas irracionais a medos irracionais.” Na entrevista, Obama parece querer testá-la sobre isso quando lhe diz que muitas vezes o cristianismo na América é visto como um “eu contra eles”, cristãos contra os outros, e pergunta-lhe como conjuga a ideia da sua fé como coisa importante e “séria” com o discurso cívico, democrático que ela também defende. Robinson responde que não sabe o que é isso de se levar o cristianismo seriamente. “Quando as pessoas se voltam para si mesmas (...) contra um outro imaginado, não estão a levar o cristianismo a sério.”
Para Robinson, a religião é um “mecanismo de enquadramento”; “uma linguagem de orientação que se apresenta com uma série de questões”. Afirma ainda na entrevista: “A religião tem sido profundamente eficaz na ampliação da imaginação e expressão humanas. Só muito recentemente é que não se consegue ver como as artes estão intimamente ligadas à religião.”
Estamos sempre do lado da fé e do outro lado, uma posição que desafia equilíbrios. Como casar religião e ciência, religião e política, como separar águas. Há quem prefira a racionalidade dos ensaios de Robinson, e, outros, o modo como explora nos seus romances a fronteira entre sofrimento e salvação, usando personagens em posição de extremo abandono. Robinson não é linear nem consensual. Já lhe chamaram um espécime raro.
Desejo de segurança e medo. Um medo irracional
Bruce DeLaney sorri quando se fala de Marilynne Robinson. Está junto a uma série de pinturas, trabalhos de artistas locais sobre obras universais. D. Quixote, Anna Karenina, Ulisses... É dono da livraria Rediscovered Books, no centro de Boise. Como a família de Marilynne Robinson ou o avô de Ruth, como Anna ou Kevin, Bruce não é do Idaho. Tem uma explicação para que tanta gente tenha votado Trump mas pouca queira hoje falar sobre isso no estado onde mora. “Não há propriamente um entusiasmo entre os seus defensores aqui. Tem que ver com o tipo de conservadorismo deste lugar e Boise é mais moderado do que conservador. Os conservadores que se vêem são do género ‘vamos deixar-vos em paz para fazerem e serem o que quiserem se nos deixarem também em paz’. São conservadores do tipo de aceitar o casamento gay mais do que conservadores que gritam contra.”
Formado em Física, Bruce cresceu em Cleveland, no Ohio, e chegou ao Idaho há 15 anos para chefiar um laboratório de microinformática. Há 13 anos deixou o emprego para abrir uma livraria, com a mulher, professora de música. "Adoramos livros, ler. Sempre que viajávamos, íamos conhecer as livrarias dos lugares. Em Boise não havia uma livraria como sítio para partilha de ideias, de descoberta, que fizesse parte da comunidade não apenas fisicamente.” Fazem leituras, apoiam festivais de cinema, organizam eventos culturais. “As pessoas têm uma ideia do Idaho como muito rural, mas acho Boise muito cosmopolita. É uma terra que recebe refugiados e isso é um orgulho. Nas escolas há falantes de 120 línguas diferentes. Claro que tem os problemas das pequenas populações. Nunca será Nova Iorque ou Portland, mas é um óptimo sítio para viver, criar uma família, para visitar e adoro fazer parte do centro da cidade.”
É inevitável voltar à política num dia em que a primeira página do jornal local, o Idaho Statesman, se faz com as novas medidas de Donald Trump. “Aqui, muitas pessoas que votaram Trump, como penso que aconteceu no resto do país, têm um anseio, uma nostalgia por uma ideia que nunca existiu realmente. O meu pai nasceu em 1936, cresceu no rescaldo da Depressão, na II Guerra Mundial, e quando era jovem era possível terminar o liceu, arranjar um emprego, criar uma família, comprar uma casa. Quem tem esse tipo de nostalgia não percebe que aquilo não era a norma, foi uma excepção. Cresce-se, casa-se tarde, talvez se viva com os pais, talvez se tenha uma família multigeracional. O que aconteceu aqui depois da II Guerra Mundial não foi o normal, e não volta a acontecer porque o mundo mudou; já não se encontra um emprego pago a 30 dólares a hora como quando se tinha um diploma de liceu. Alguém vem dizer que pode fazer com que isso volte a acontecer e há pessoas que pensam que talvez consiga.” É ambição? “Também, mas desejo de segurança, medo, um medo irracional.”
Não é o medo de Lila. O do trauma, o da dor, o que não a deixa fugir. “Porque aquele medo nunca mais saiu do meu corpo, apenas se escondeu dentro dele, à espera”, lê-se em Lila.
Gerard vai à janela. Olha a paisagem cá em baixo. Apanhou o avião em Houston, Texas. Está em escala no regresso a casa depois de uma semana de férias em Tampa, na Florida. “Fui visitar uns amigos, aproveitar para fazer uma pausa no Inverno”, conta, pele bronzeada, boné de basebol a dizer Idaho, jornal na mão. Vive em Sun Valley, perto de Ketchum, o sítio onde Hemingway tinha a sua casa-refúgio, hoje transformada num museu e onde ele tem um “negócio”. Não se fala de literatura. É Gerard quem vai buscar o tema. “Já viu todos estes protestos?! As pessoas protestam porquê?”, diz a apontar para o jornal que tem na mão, uma foto de manifestações em Nova Iorque. “Têm de aceitar que perderam e agora é a vez de alguém tentar fazer alguma coisa por este país. Julguem-no depois.” Não diz o nome. Votou em Donald Trump? “Sim. O meu candidato era o homem do Ohio [John Kasich, governador republicano que não passou na convenção de Cleveland]. Mas entre este e ela, não tinha opção.” Porquê? “Porque aquela família, como outras que por lá passaram, deram cabo deste país.” Arruma o jornal, está irritado. “É muito cedo para o julgar, mas ‘ele’ está a cumprir as promessas.”
Em baixo estão as montanhas, as incontáveis montanhas do Idaho e todas as histórias que encerram mais aquelas que de lá se conseguem ver. A vertigem ao olhá-las é mínima ao pé da velocidade a que correm as notícias. Uma semana, quase outra. O avião corta o céu e é como se o presente ficasse rapidamente para trás. O que se viu, o que se ouviu é uma memória com as sombras do que se irá ver e ouvir. Lá em baixo continuam as montanhas de Housekeeping, as reais e as ficcionadas. “Parece que houve um tempo em que a dimensão das coisas se modificou, deixando uma série de margens intrigantes, como entre as montanhas, como deveriam ter sido e as montanhas como são agora, ou entre o lago como antigamente era e o lago como agora é.”




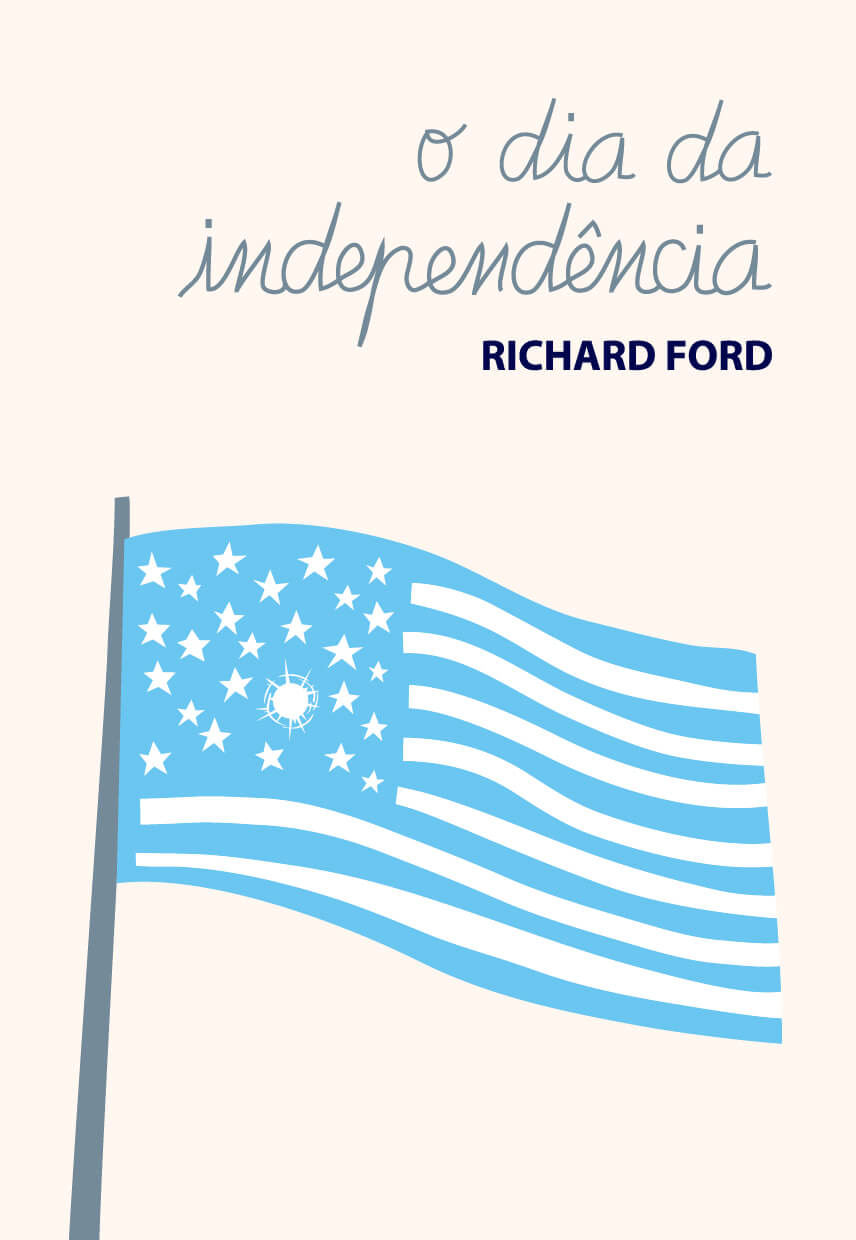

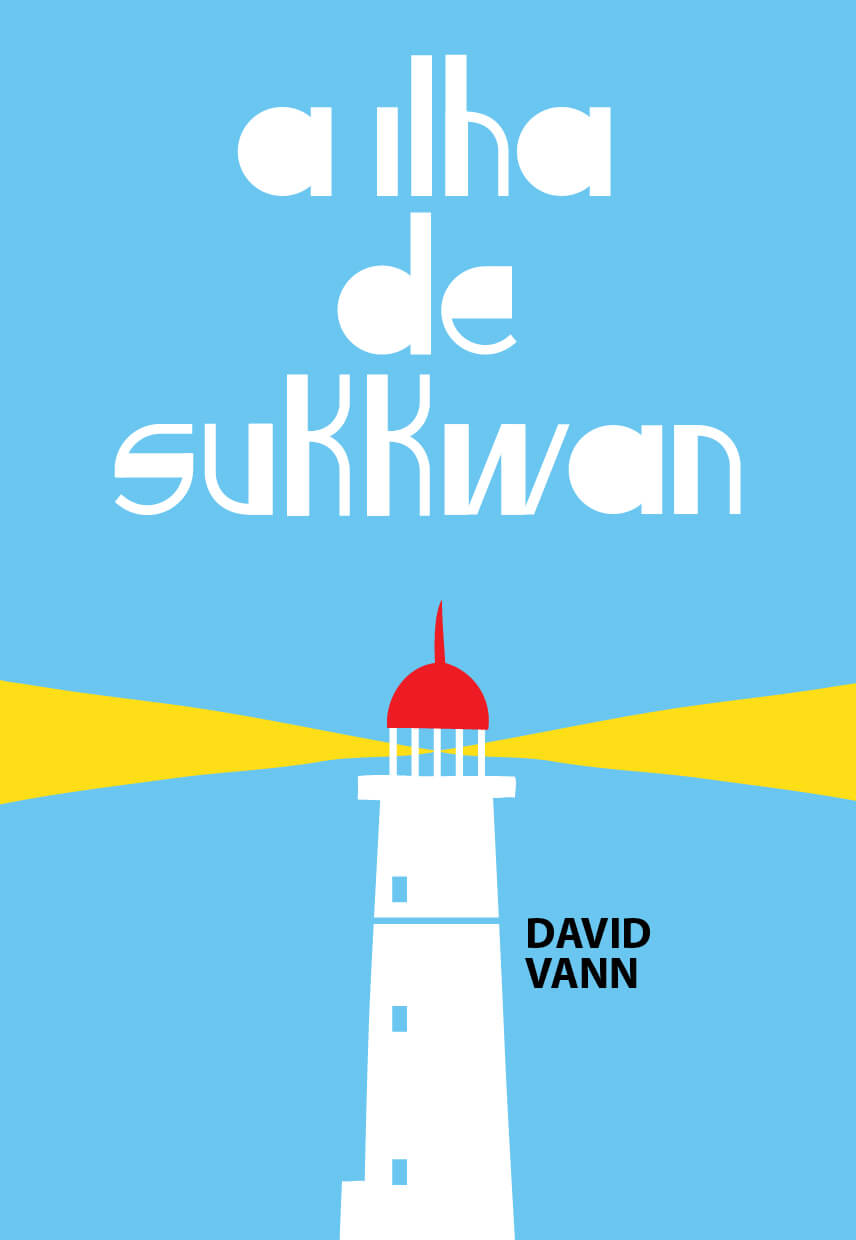
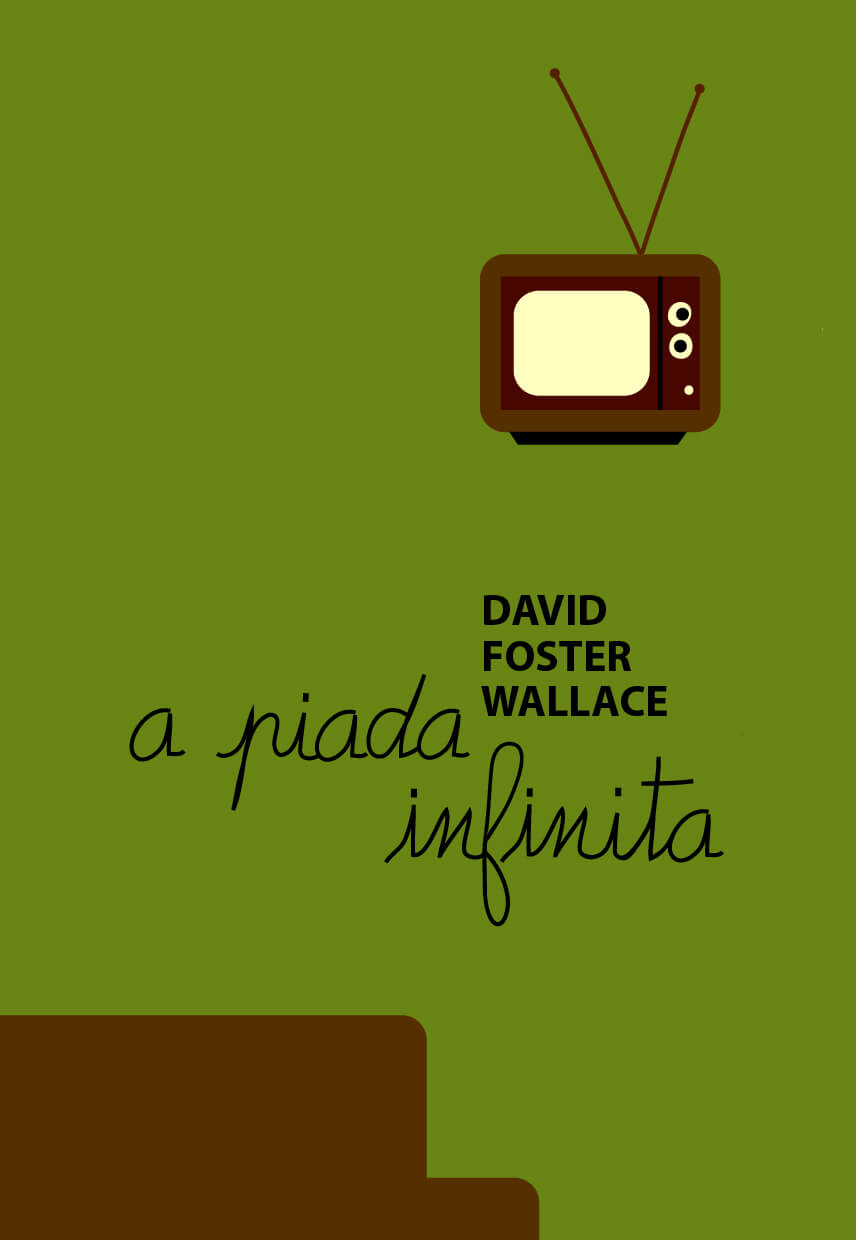


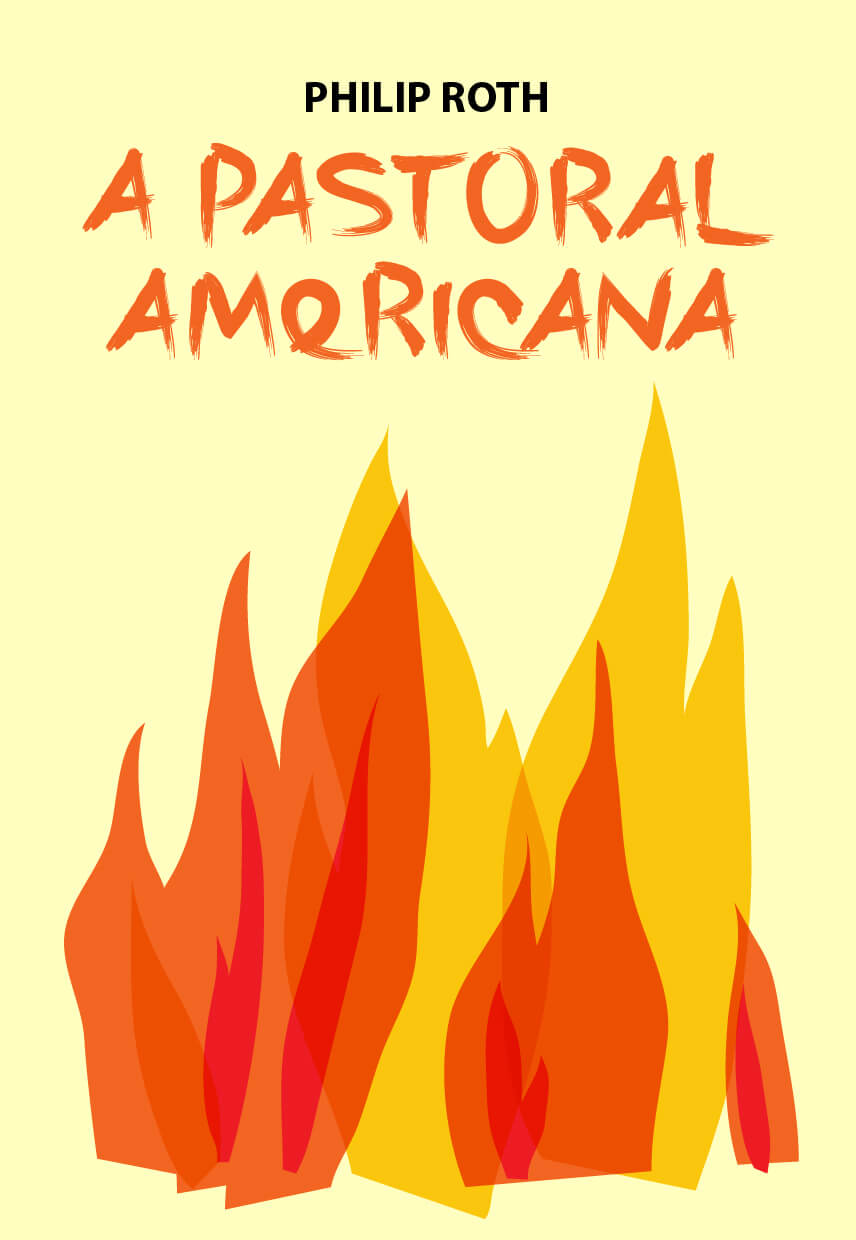
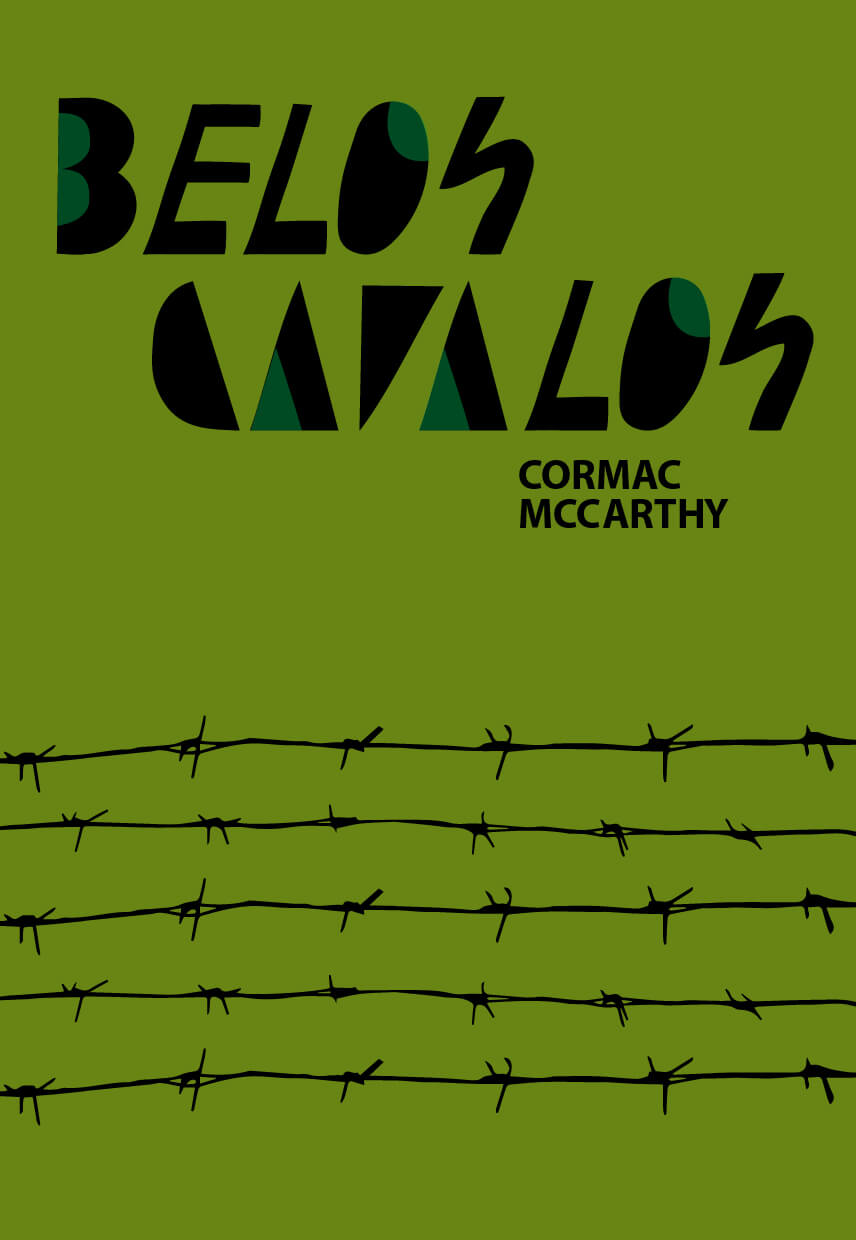
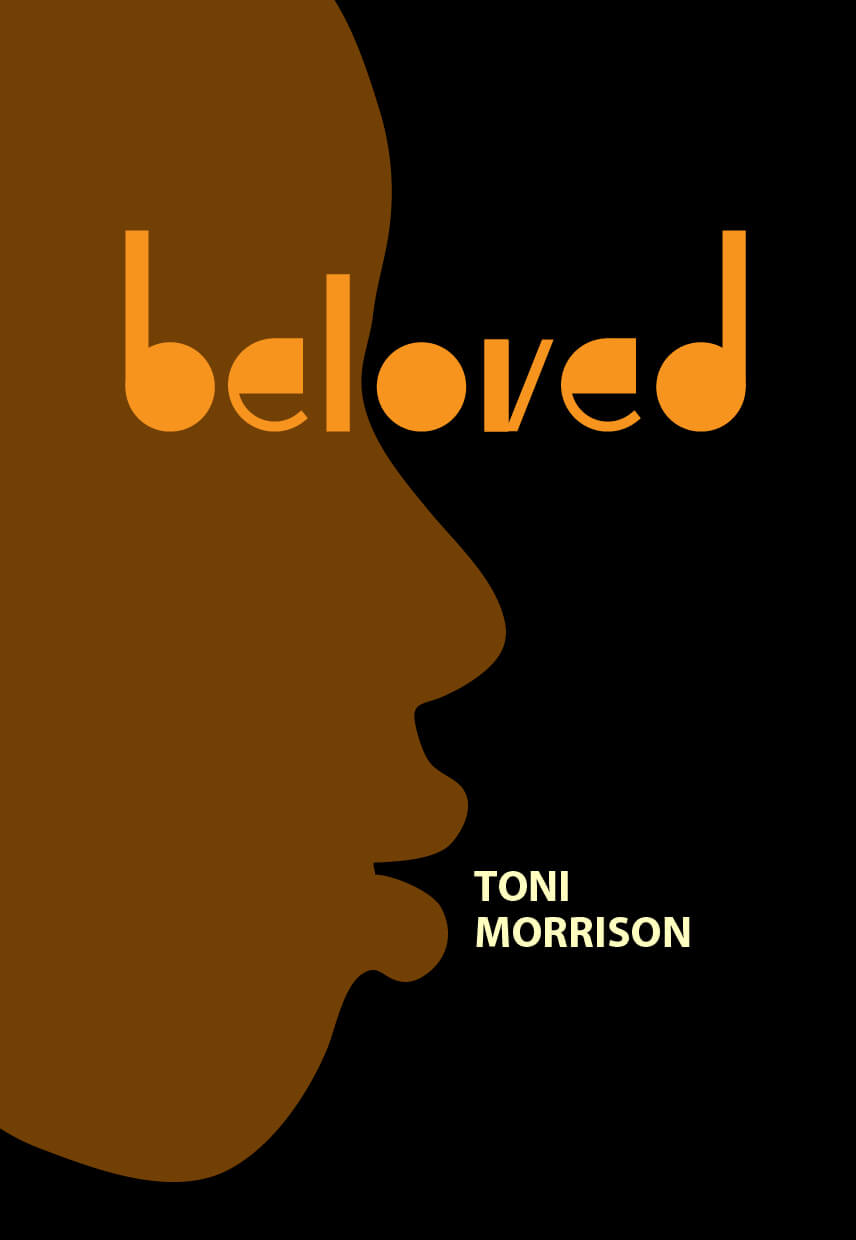
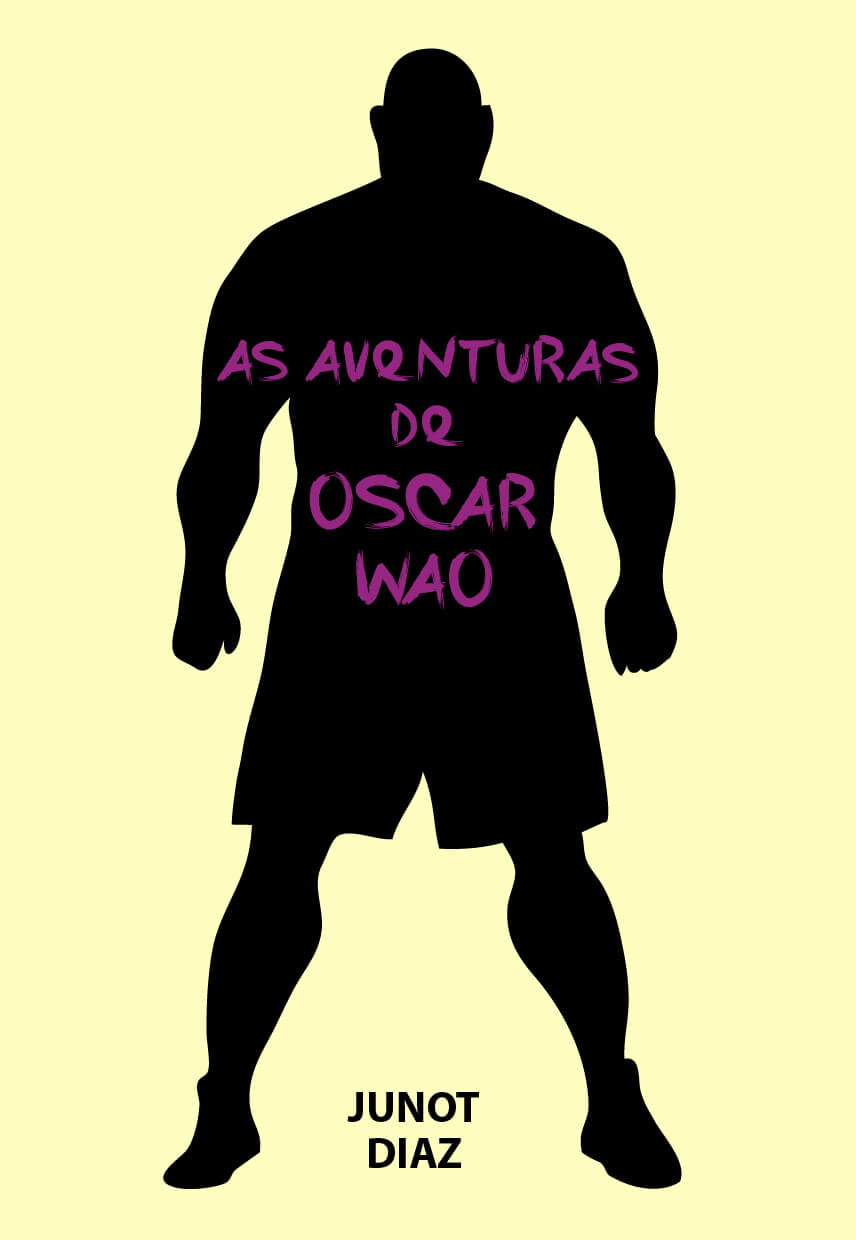



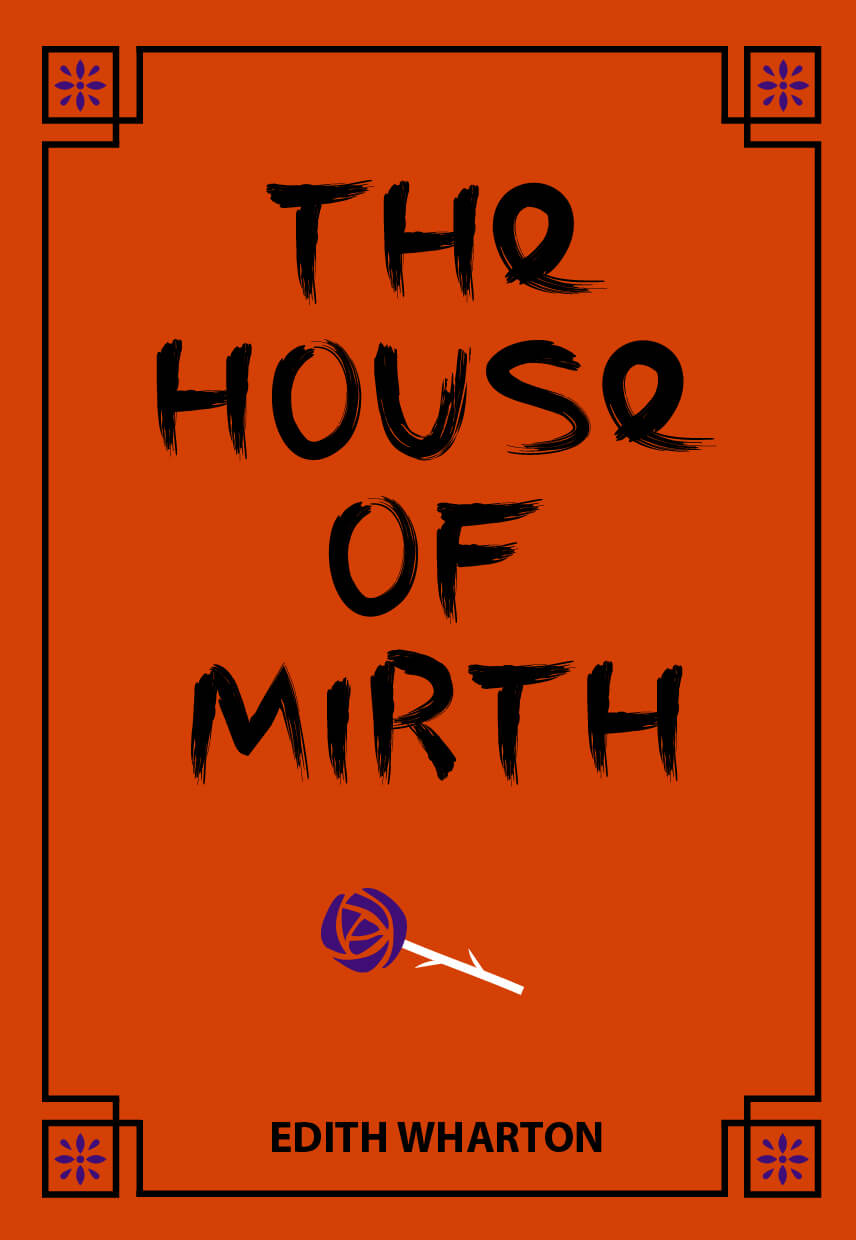



Comentários