A história de irmãos gangsters maltrapilhos e famintos cruza-se com a de um casal de agricultores sem notícias do filho adolescente meio destrambelhado e com uma secreta atracção por álcool. Uns vêm da fronteira entre a Geórgia e o Alabama, os outros vivem a algumas centenas de quilómetros, no Sul do Ohio. Tudo acontece em meio rural no ano de 1917, quando os Estados Unidos se preparam para entrar na I Guerra Mundial, recrutando no campo voluntários para o conflito. Este é o cenário do segundo romance de Donald Ray Pollock, Banquete no Paraíso, um livro com a violência do anterior, Para Sempre o Diabo (Quetzal, 2012), aqui atenuada pelo humor — às vezes negro, outras vezes ingénuo, outras vezes as duas coisas em simultâneo — que resulta numa sátira que desmonta os tiques da sociedade. Não apenas norte-americana, humana.
“O romance anterior era tão negro que quis que este fosse um pouco mais leve”, diz o escritor de 65 anos, natural do Ohio, autor de um livro de contos, Knokemstiff (2008), e de dois romances, e um ex-operário de uma fábrica de papel que aos 50 anos se despediu e se inscreveu na Universidade do Ohio, em Columbus, decidido a tornar-se escritor. É quase sempre por aqui que Pollock é apresentado, como se essa resolução inusitada fosse suficientemente atraente para conquistar leitores para a literatura que escreve. Talvez seja, porque tudo tem corrido bem. Isto é, os seus livros correspondem à expectativa criada a partir de tal informação.
É um universo onde bem e mal se confundem num tumulto muitas vezes exacerbado pelo fanatismo religioso, pela míngua de alimentos, de conforto e de perspectivas. Que vê no sofrimento condição para a salvação nos céus, um sofrimento marcado pelo rigor do clima, natureza implacável. Que tem no álcool e nas drogas um escape e na educação uma miragem nem sempre avistada com bons olhos. E onde há pregadores do apocalipse ou do paraíso, gente perdida e uma gargalhada que sai quase sempre no momento errado. Esta é a normalidade do mundo segundo Donald Ray Pollock que, muito simplesmente justifica desta forma: “Escrevo sobre o que conheço.”
Não é um desconhecido em Portugal, embora muito poucos o tenham lido. O seu primeiro romance está a ser adaptado para o cinema pelo nova-iorquino Antonio Campos e vai chegar às salas em 2020. Não se envolveu “muito”, como salienta. Quanto a pensar em si como escritor... “Acho que já consigo pensar em mim como escritor, mas não sei, é como se a prova viesse sempre com o livro seguinte, como se tudo dependesse do livro que se segue àquele que acabei de escrever”, diz, numa conversa com o Ípsilon diante de uma chávena de café e tentando, por uma hora, não se lembrar dos cigarros. O tom é o de sempre, calmo, sotaque acentuado do Midwest, uma bonomia no olhar que contrasta com o ambiente negro da escrita. Esteve em Óbidos, a participar no Fólio e a promover Banquete no Paraíso, livro que lhe saiu diferente do planeado.
“Na cidade onde vivo [Chillicothe] existiu um campo de treino militar durante a I Guerra chamado Camp Sherman, e pensei escrever um romance à volta desse campo. Iria ser acerca de homens que chegavam de diferentes partes do país... Li bastante sobre esse período da história, mas aquilo não estava a sair muito bem e comecei a focar-me em três irmãos também de outra região do país que acabavam por chegar ao campo. Essa seria a história. E eles acabam por chegar ao centro do Ohio, mas não estão no campo, ou seja, o campo acaba por ser apenas um pano de fundo.”
Os três irmãos, Cane, Cob e Chaminé surgem pela primeira vez no livro ao lado de Pearl Jewett, o pai, um fanático religioso que dorme numa almofada feita do verme saído do corpo da mulher quando ela morreu. Essa morte marca o princípio da tragédia familiar. Depois disso, os quatro andam pelo mundo até se fixarem numa cabana velha na propriedade de um homem ganancioso, Thaddeus Tardweller, numa terra onde, à excepção de uma chuvada esporádica, todos os dias eram iguais.
Tardweller explora-os com o consentimento mudo de Pearl, confiante no poder redentor do sofrimento; é uma fé que aumenta e se legitima após o encontro com um eremita. Pearl tinha fome e o eremita apaziguou-o ao dizer que não comia há uma semana, “a não ser uns quantos girinos e as criaturas que encontrei nesta barba”. Pearl está renitente. “O que é que eu ganho com toda esta redenção de que vossemecê fala?”, pergunta. “Ora, um dia poderás comer do banquete do paraíso”, respondeu-lhe o eremita.
A ideia de um banquete no paraíso passa a ser a fixação de Pearl que a transmite aos filhos, o sensato Cane, o retardado Cob e o inconformado Chaminé que só pensa em fugir daquela miséria. “Desde que Pearl descrevera o céu como uma espécie de salão de banquetes no paraíso, onde a comida se empilhava bem alto para todo o sempre e uma pessoa servia-se sempre que lhe apetecesse, Cob ficara obcecado com a ideia de entrar no paraíso.”
Até que Pearl morre, de calças na mão, depois de comer mais um pedaço do porco doente de que se vão alimentando. “Interessou-me explorar a relação quase sempre tensa entre pai e filho. Seja com o pai dos três irmãos, seja com o agricultor e o filho adolescente”, afirma Ray Pollock sobre este livro em que pela primeira vez sai da sua geografia pessoal, as pequenas comunidades de Chillicothe, onde vive, e Knockemstiff, estendendo-se à fronteira com outros estados, a Sul. “Estive a Sul, é um espaço que conheço. Não fui lá para conhecer mais antes de escrever este livro. É fácil para mim pôr-me nesses lugares, imaginar o que é estar lá, ser de lá. Não é muito diferente do meu lugar; o clima é mais duro e há mais cobras venenosas do que na nossa terra”, sorri para a mulher, Patsy, que o acompanha, à procura de concordância e cumplicidade. “Esta gente existe, estas histórias existem ou podiam existir nestes lugares. Estou a falar de coisas comuns. O bem, o mal, a fé, a miséria e a falta de horizonte. Neste romance estamos no início do século XX, mas podia ser agora. Já não com carroças, mas a essência é a mesma. Mesmo uma boa pessoa pode algumas vezes sentir-se atraída pelo mal. É apenas o mundo, tanto quanto posso ver”, continua, aconchegando a chávena, o olhar hesitante entre quem tem à frente e o café.
É um universo pícaro e trágico, marcado por clivagens sociais, parábolas fundadoras, personagens fantásticas, algumas grotescas. Há um “inspector sanitário” com uma fixação em saber, através das latrinas, a vida privada dos habitantes da pequena cidade onde nasceu e vive, marcado por uma mãe beata que não se conforma com o tamanho do órgão sexual do filho; um tenente do exército que descobre que é homossexual, um terreno habitado por fantasmas mulatos assassinados pelo proprietário rural, um proxeneta que percorre as terras com as “meninas” decadentes, uma dupla de músicos sem tecto, um bar quase sem clientes, um professor que se isolou do mundo ao ver frustradas as suas tentativas de se tornar um dramaturgo de sucesso. Tudo parece bizarria num romance de estrutura clássica, sem inovações formais, com um narrador que sabe quase tudo das personagens e vai deixando sair o que sabe de modo a manter suspense, encantando o leitor com o ritmo da narrativa, com uma linguagem cuidada, com os contrastes e recursos linguísticos das personagens, irónico, impiedoso, sem complacência — como o autor — com exibicionismos literários. “O tipo de humor que uso é dos operários, dos tipos que trabalham numa fábrica de papel”, conta Donald Ray Pollock, admitindo que receou não ser compreendido. “Aquilo era divertido para mim e talvez para aquelas pessoas, mas e o resto, como iriam reagir? Não perguntei ao meu agente se ele tinha achado graça, deixei ir, e ele não fez qualquer objecção. Acho que a maior parte das pessoas percebe, não todas.”
O desconcerto desse mundo passa pela aparente simplicidade com que ele é dado. As aberrações, as maldições, os medos transmitem sempre alguma coisa de familiar. E a relação com a fé, assunto que Pollock nunca abandona. “É um grande tema nos Estados Unidos. Depois da II Guerra Mundial e depois nos anos 50 e grande parte dos anos 60, houve um grande crescimento de fiéis em várias igrejas, como a episcopal, a presbiteriana, a católica, havia muito dinheiro a entrar e construíam-se igrejas grandes. Nos últimos 30 anos essas igrejas perderam a força para outras mais fundamentalistas. Por exemplo, a igreja onde a Patsy vai é muito bonita, uma igreja episcopal, e a cada domingo há lá trinta pessoas, não mais; se continuarmos na mesma estrada chegamos a uma igreja que mais parece um armazém, e à mesma hora há lá algumas centenas de pessoas, anti-aborto, apoiantes de Trump, muito, muito conservadoras.”
O discurso de Pollock flui quando sai dos livros. Fala da sua própria fé, inexistente. Não se orgulha. “Tenho uma espécie de admiração por pessoas que têm essa fé e começo a ler coisas sobre santidade, pessoas que desistem de tudo em nome de Deus; acho tudo isso fascinante e tendo a levar isso para os livros.” Sem muitos planos, acrescenta, ou preparado para que todos os planos se alteram à medida que escreve, com o sagrado e o profano a contaminarem-se, porque, diz, é assim mesmo por lá, onde vive.
“Há pessoas muito supersticiosas. Tenho uma irmã que acredita em fantasmas e nesse tipo de coisas. A minha outra irmã e o meu irmão não são de todo supersticiosos. Podemos questionar o sistema educativo, o modo como nos forma e nos afecta. A minha irmã andou na escola, mas continua a acreditar em coisas muito estranhas. Não discuto com ela sobre isso; são as crenças dela. Quando era pequeno lembro-me do meu bisavô contar histórias de fantasmas e a minha bisavó acreditava em tudo o que ele dizia. Ele estava apenas a inventar histórias, era um grande contador de histórias.”
Ri como se detectasse ali a origem da sua escrita. Tudo é verosímil, o mais absurdo é possível, e garante que não há influências do realismo mágico. Não é preciso quando se vive no interior do Ohio ou de qualquer estado do sul do Estados Unidos.
“Li muito pouco desse género, Cem Anos de Solidão, por exemplo. Mas quando escrevi o livro não estava a pensar nisso. Não sei bem em que estava a pensar.” Prefere dizer que é imaginação. “Quando entrei realmente neste romance, trabalhava nele oito horas por dia, quase sempre à noite, e quando se trabalha assim todos os dias, sem distracções — onde trabalho não há telefone, não há internet, só eu e o livro — o nível de concentração é muito grande. Os melhores dias são aqueles em que a escrita se assemelha a um transe. Lembro-me de uma manhã, levantei os olhos depois de cinco ou seis horas [a escrever], tinha uma janela mesmo ao lado, e estava a nevar tanto, havia tanta neve no chão e eu não tinha notado nada. Foi um dia bom. Esqueci tudo. Esses dias não acontecem muitas vezes, estar numa espécie de tempo suspenso sem pensar no mundo lá fora.”




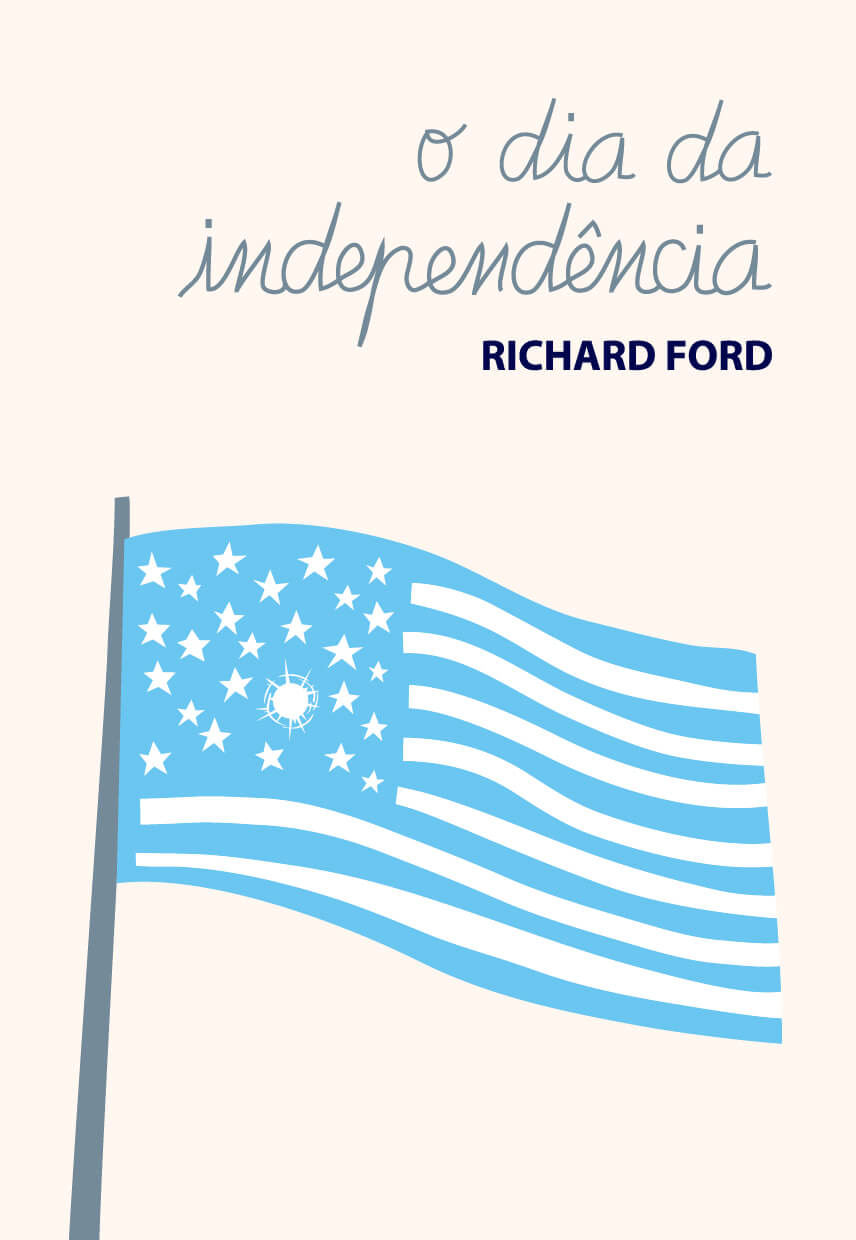

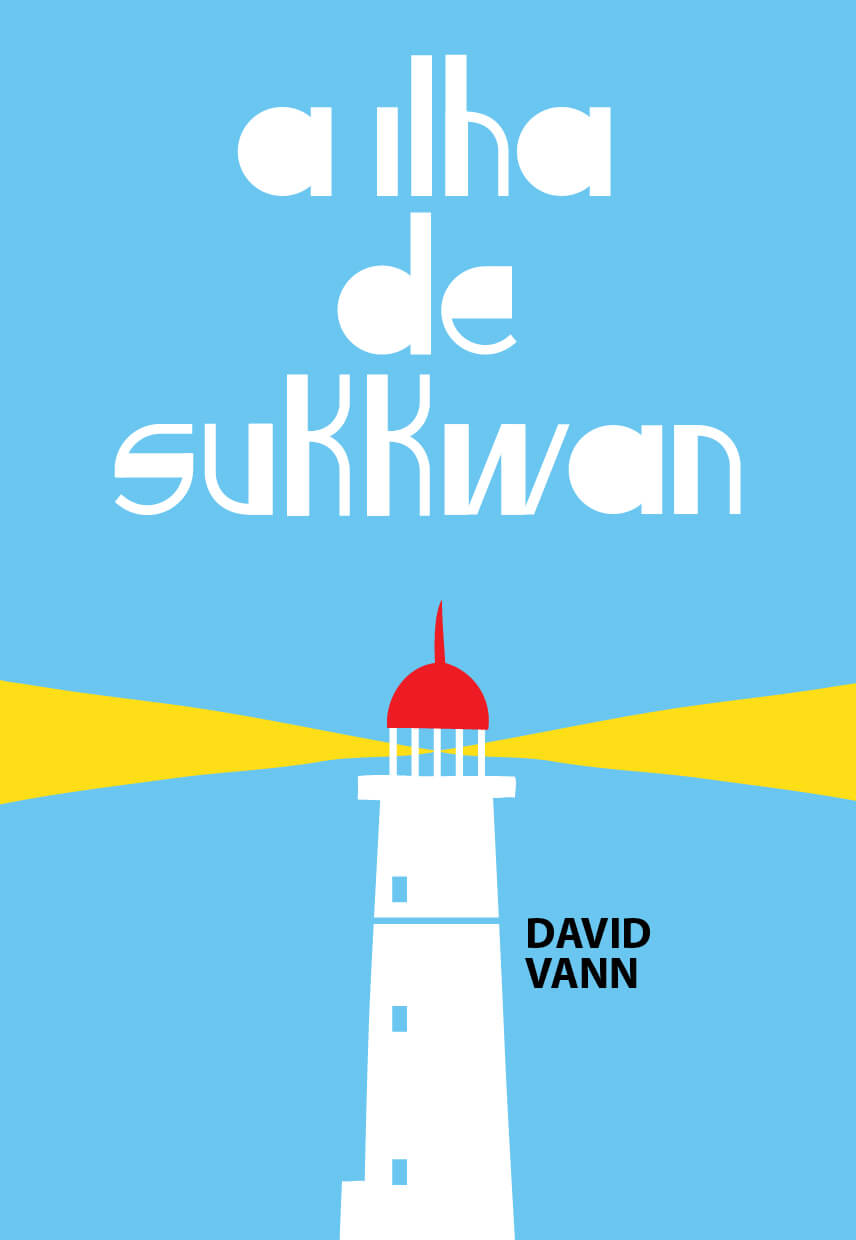
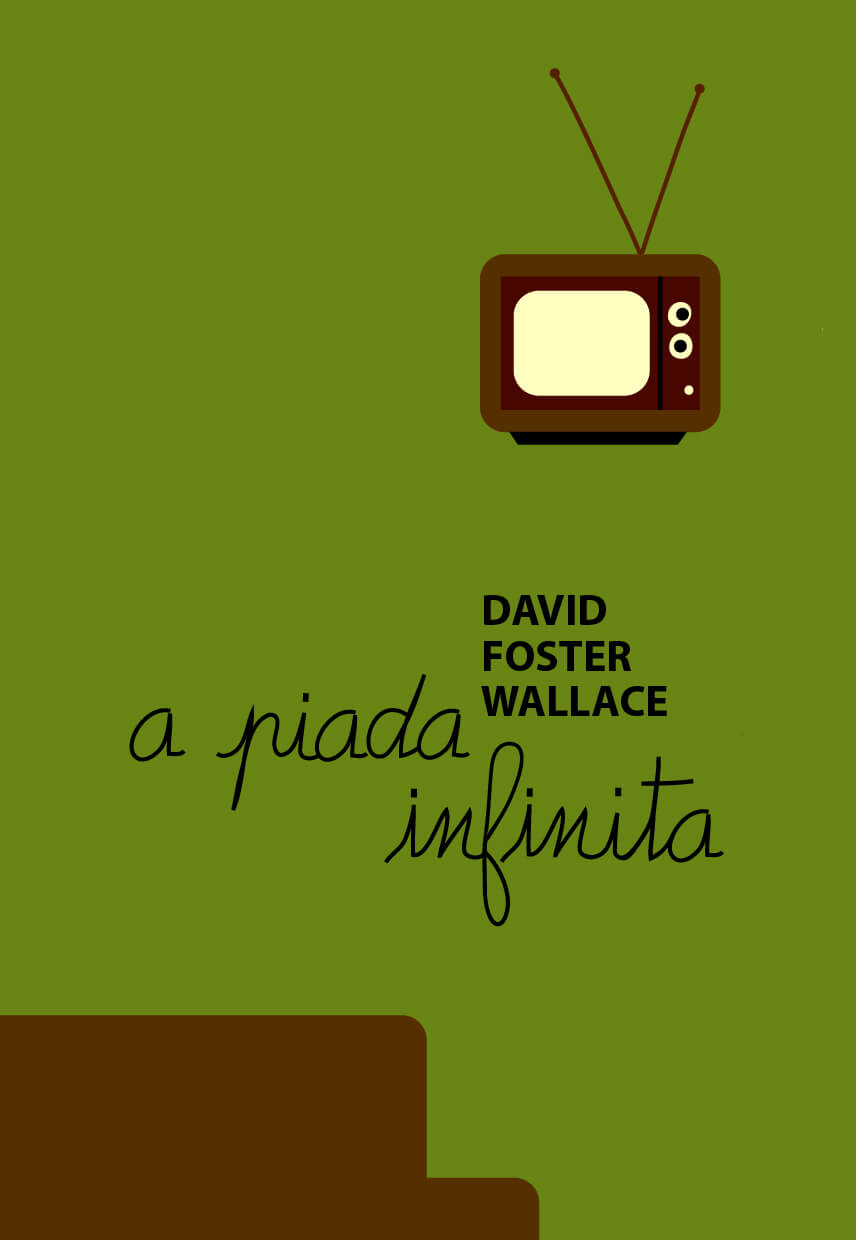


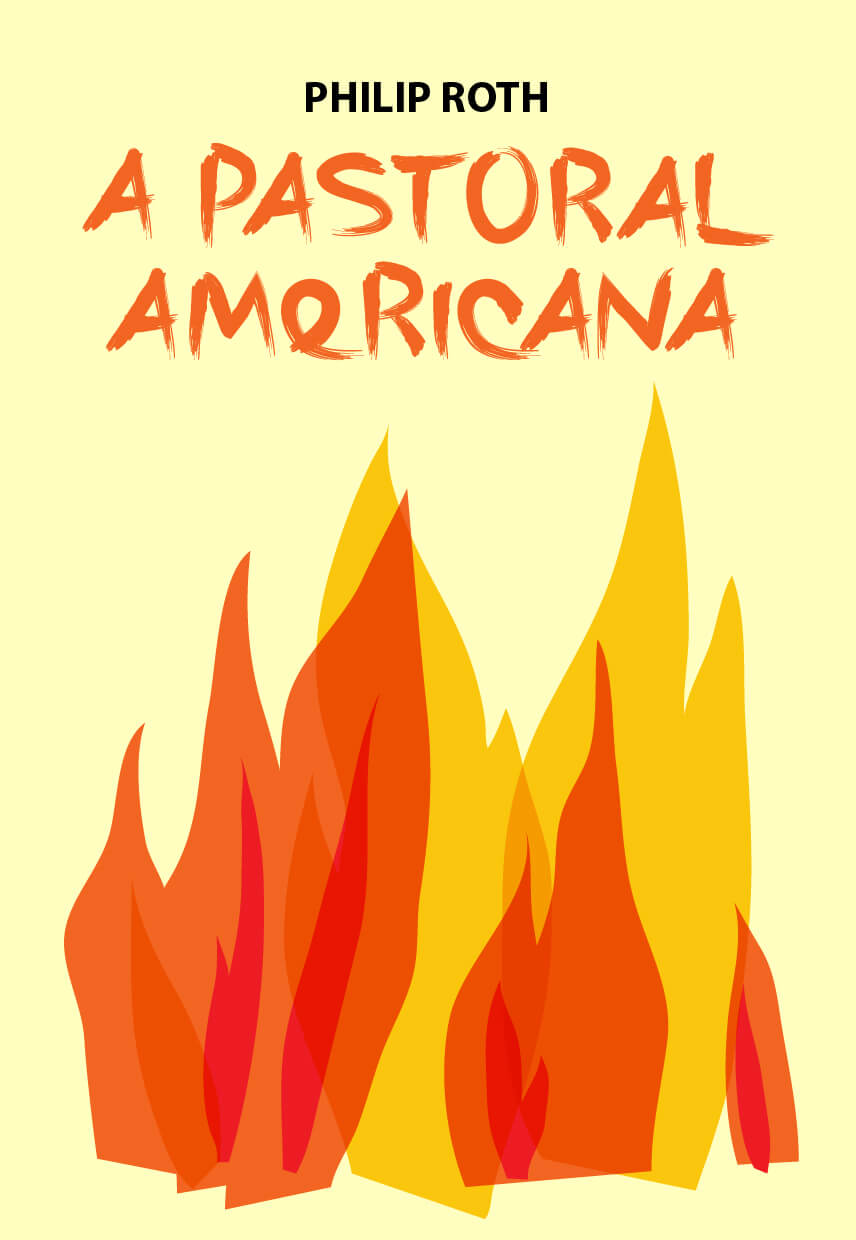
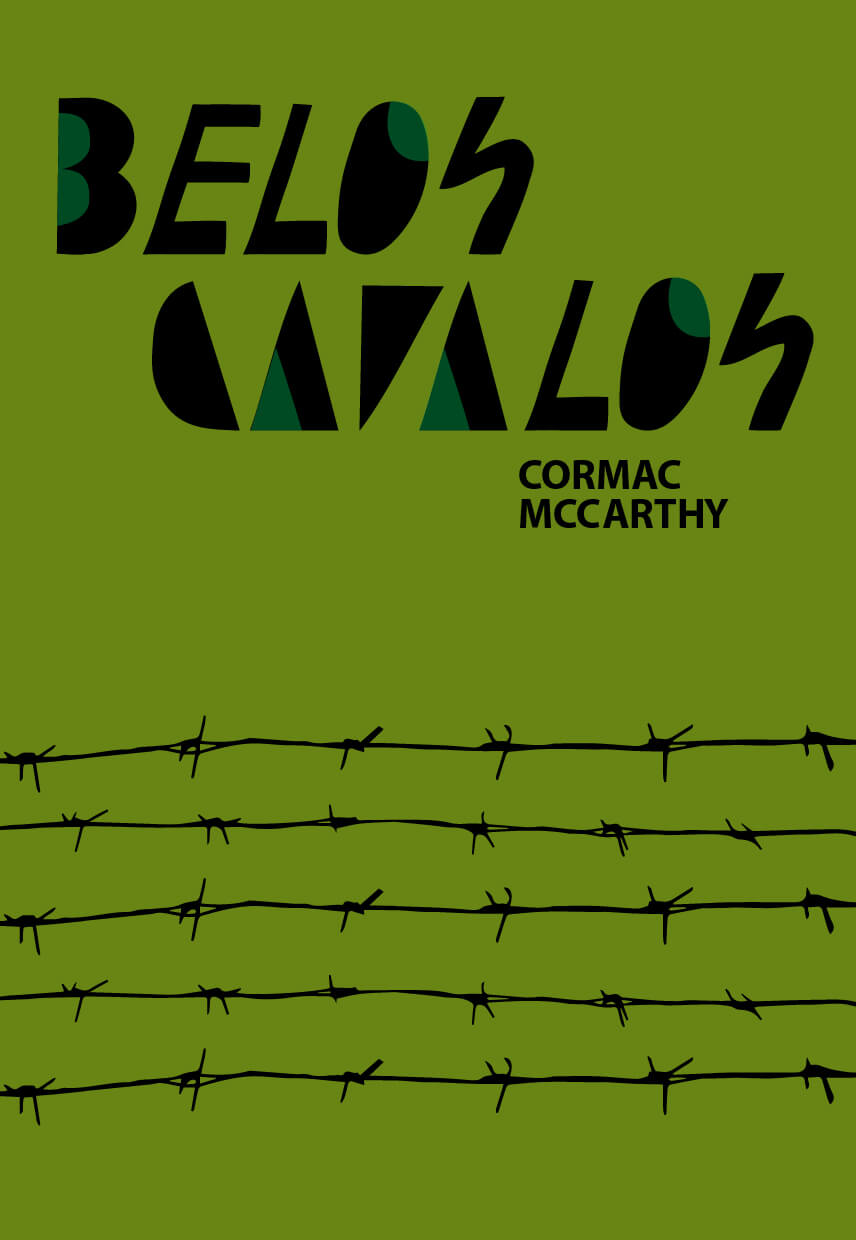
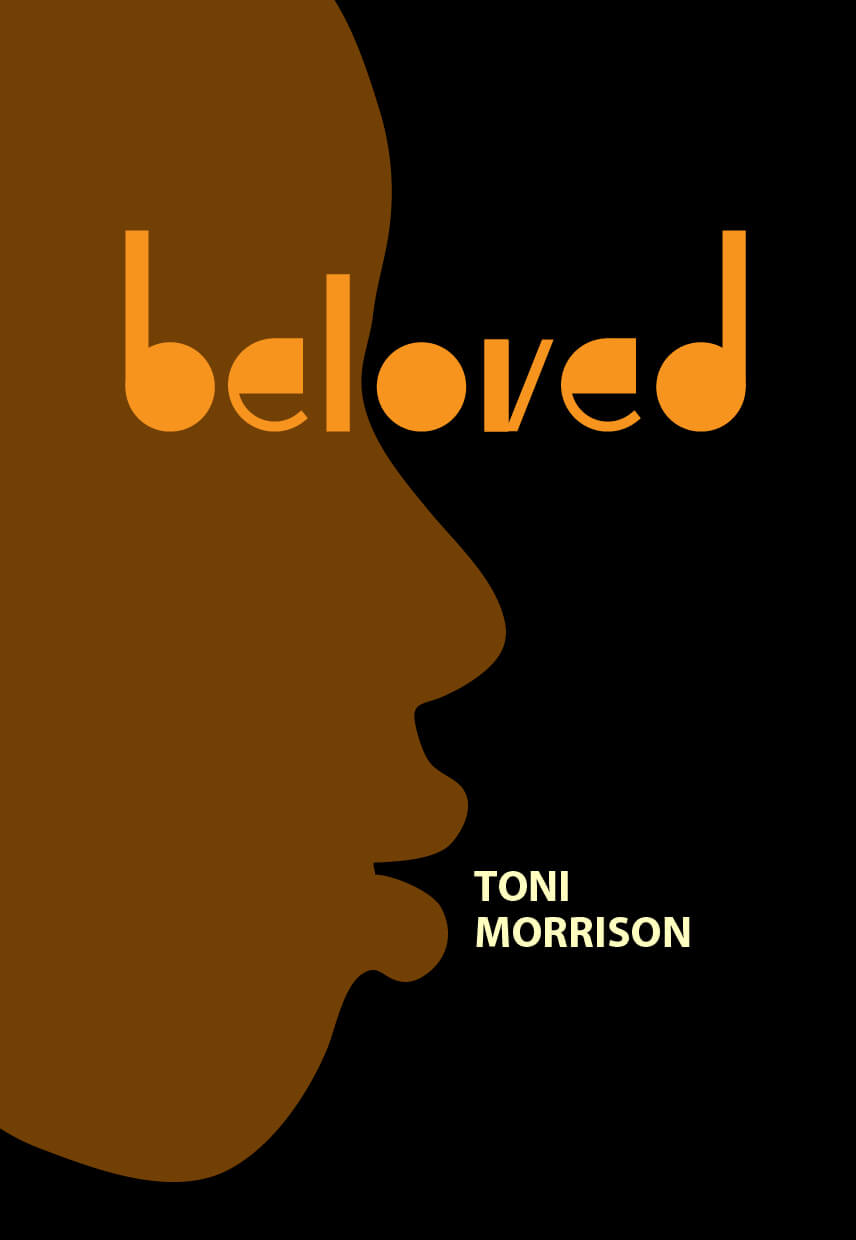
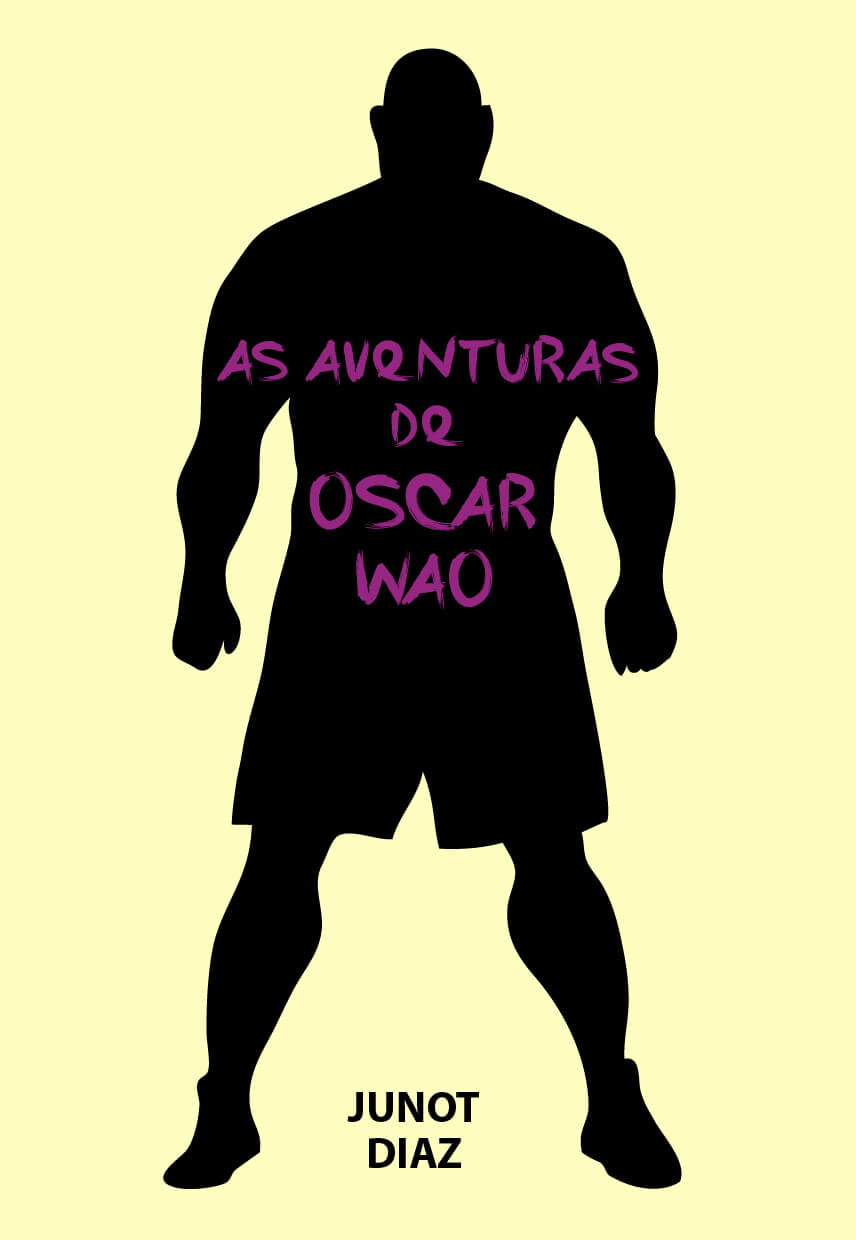



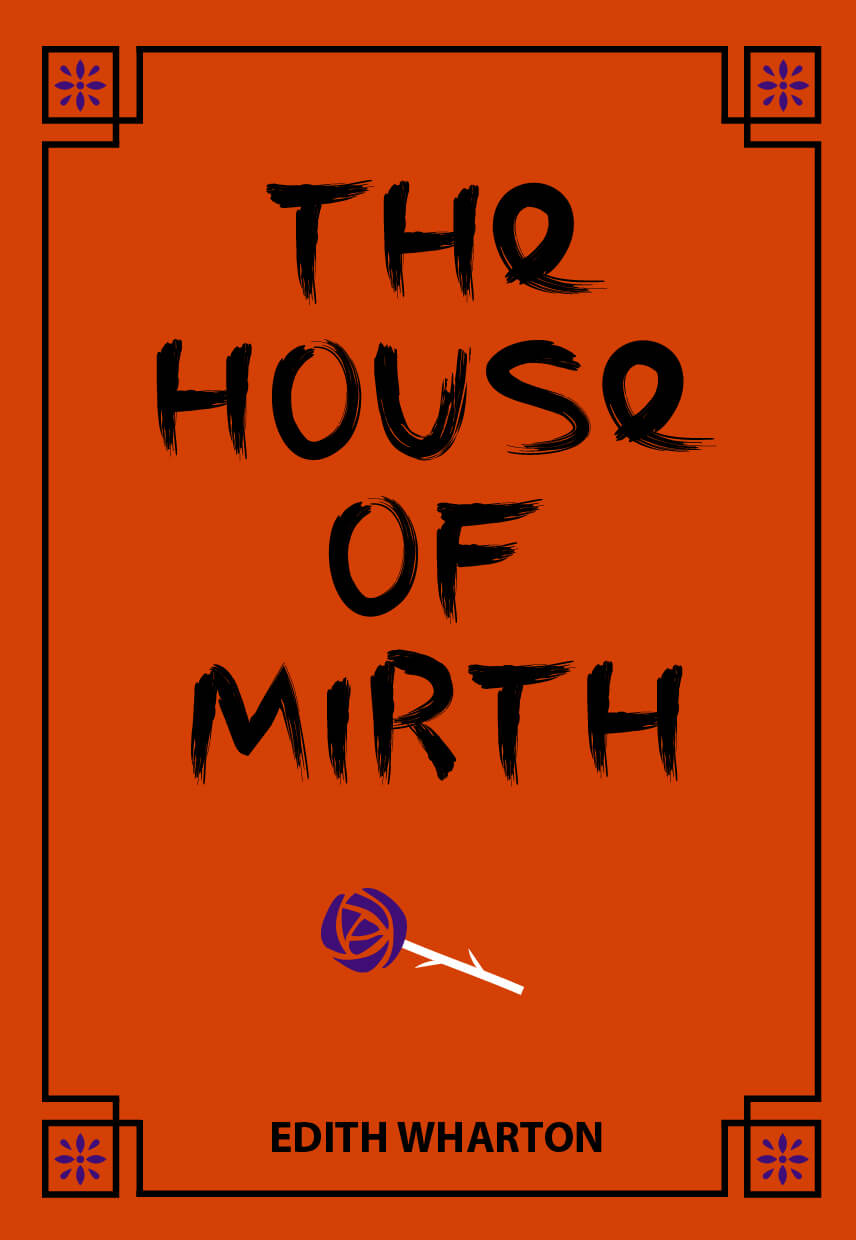



Comentários