Se o deixassem, Emmett Kelly corria porta fora em direcção ao cemitério em frente a casa, mas não iria sozinho. Está habituado a andar junto às campas com companhia, atrás de pássaros em que finge estar interessado com a desculpa de se afastar, mas só até a uma distância segura: não perder de vista o dono. É Abril, cai uma neve sem ritmo certo sobre as flores das árvores de Chillicothe, pequena e única cidade do condado de Ross, nas margens do rio Scioto, sul do Ohio, e o chão tinge-se de branco apenas por alguns minutos, só o tempo de o sol derreter o manto. Com o focinho no ar, Emmett Kelly parece cheirar para entender. Esta será a sua primeira Primavera naquela cidade. O anterior dono era um velho palhaço de circo que lhe deu o nome de outro palhaço, um dos mais famosos da América, criador da figura de Weary Wilie, caricatura triste dos sem-abrigo e vagabundos que andavam pelas ruas das cidades americanas, vítimas do desemprego e da miséria causados pela Grande Depressão. Quando o velho palhaço morreu, o cão ficou ao cuidado de amigos até ser adoptado por Donald Ray Pollock e pela sua mulher, Patsy. Ainda tentaram simplificar-lhe o nome, mas em vão. Responde apenas ao som de duas palavras ditas em conjunto muito rapidamente: emetquéli.
A banalidade na vida de Donald Ray Pollock é feita de histórias onde a mais simples será a do rafeiro arraçado de basset que lhe chegou a casa em Outubro do ano passado e para quem agora a porta se fecha. Na rua, cheira a terra molhada e a jasmim e, ao olhar em volta, a sensação é a de que tanto podíamos estar em 2016 como em 1954, o ano em que o escritor nasceu na aldeia de Knockemstiff, a escassos dez quilómetros de Chillicothe, filho de um operário de uma fábrica de papel, neto de outro operário da mesma fábrica e também ele operário durante 32 anos nessa fábrica até ao dia em que, aos 50 anos, se despediu, determinado a aprender a ser escritor. Publicou o primeiro livro aos 54 anos, um volume com vinte contos a que deu o nome da terra onde nasceu, Knockemstiff (de 2008 e sem edição portuguesa), e o segundo aos 57, o romance Sempre o Diabo, publicado em Portugal em 2014 pela Quetzal. Em apenas duas obras estava construído um universo único, cru, povoado por personagens no limite do mal, marcadas por um território abandonado, rural, de sobrevivência ao extremo.
Viver no Ohio é isto? “Não é só isto. Isto é o que me sai nos livros, suponho que as pessoas não sejam assim tão más, que o Ohio seja melhor, mas eu não consigo escrever sobre o que não sei. Sinto que escrevo sobre gente comum numa linguagem que eu e elas entendemos e, sim, numa geografia muito concreta”, responde, com a chaminé da fábrica onde trabalhou ao fundo, a fumegar. Se a realidade se define por camadas, à superfície tudo por ali está tranquilo e imutável. É preciso começar a aprofundar. Ray Pollock acende um cigarro. Atira uma baforada e segura-o depois entre o polegar e o dedo médio. “Acho que foi o Cormac McCarthy que disse que há duas coisas sobre as quais se pode escrever: amor e morte”, refere num sotaque do Midwest que come algumas vogais e dá um som gutural a quase todas as palavras. Tem os olhos no horizonte: a torre da igreja presbiteriana, o cemitério de Grandview que se estende pela colina, o serpentear de veredas, o largo com a casa mais antiga da cidade, construção sólida do século XVIII. E acrescenta: “Eu escolhi a morte.”
Isso é simplificar muito. Ele diz de outra forma: por exemplo, que aquele lugar tem tudo para que seja abandonado pelos que lá vivem, mas o que fazer quando se sente o lugar como uma coisa tão íntima? É um lugar extenso, o Sul do Ohio rural. Chame-se Chillicothe, Knockemstiff, Meade… “Quando era jovem, só pensava em ir embora, agora não me vejo fora daqui.” O Ohio onde nasceu, cresceu e sempre viveu tem um raio de pouco mais de 20 quilómetros. Como Vernon, o protagonista de Real Life, a história inaugural de Knockemstiff, sente-se um pouco “como um cogumelo preso a um tronco podre”. Tudo ali, diz, se aprendia demasiado cedo. E há coisas que continuam a acontecer cedo de mais. “Há muitas raparigas a serem mães aos 16, 17 anos, muita gente a casar antes dos 20, na adolescência morre-se de overdose e ainda se aprende a beber em criança.” Vernon é, na ficção de Pollock, exemplo disso: “O meu pai mostrou-me como magoar um homem numa noite de Agosto no drive in de Torch quando eu tinha sete anos.” É a primeira frase do conto, o drive in de Torch existia quando Ray Pollock também tinha sete anos e o seu pai o levou a ver Godzilla. “Foi um dos dias mais felizes quando eu era criança”, recorda o escritor. Como em todos os lugares do mundo, a vida no Sul do Ohio não se divide entre preto e branco, o bem não está separado do mal e amor e morte contaminam-se.
Para entrar no mundo de Donald Ray Pollock – o verdadeiro guia desta viagem – chega-se primeiro à capital do estado, Columbus, desde Washington DC, a capital do país, numa viagem de uma hora de avião. A alternativa seria o carro ou uma estirada de 11 a 12 horas de autocarro para percorrer 640 quilómetros de planície, terreno pantanoso, floresta. Entramos no Midwest, uma das quatro grandes regiões não oficiais dos Estados Unidos, situada no centro norte do território com uma população total de 65 milhões de pessoas divididas por 12 estados. O Ohio é um deles. Com 11 milhões e meio de habitantes (o sétimo mais populoso do país) e uma área do tamanho de Portugal, tem uma actividade económica diversificada, com a indústria pesada e a agricultura a disputarem protagonismo, e um rendimento familiar de 45 mil dólares/ano (aproximadamente 40 mil euros/ano, dados de 2014), o que o coloca em 35.º lugar na lista dos estados mais ricos dos EUA. O Maryland e o Alasca ocupam os primeiros lugares com 70 mil. Na primeira metade do século XIX, quando o francês Alexis de Tocqueville viajou pelo país para escrever Da Democracia na América (Relógio d’Água, 2008), o Ohio tinha um milhão de habitantes, parte deles com a ambição de seguir para Sul e Oeste, em direcção às savanas férteis do Illinois.
São números e uma história para enquadrar quando se voa sobre o Ohio e se vêem de cima os contrastes daquele estado que foi buscar o nome a uma palavra indígena que designa o maior rio que o atravessa e que significa rio bonito ou rio grande. Mais de 1500 quilómetros de comprimento desde Pittsburgh, na Pensilvânia, até Cairo, no Illinois, onde encontra o caudal do Mississípi. Vê-se do céu, como se vêem as manchas de três grandes núcleos urbanos num solo recortado por círculos gigantes, o rasto das ceifeiras industriais em vastos campos de soja, aveia, milho e uma intrincada rede de estradas. Estado considerado estratégico na ligação entre o Norte, o Oeste e o Sul do país, o Ohio tira vantagens económicas dessa posição. Com cinco aeroportos internacionais, tem a décima maior rede de estradas do território americano, e em 2014 foi considerado o segundo melhor estado para investir. A taxa de desemprego em 2015 rondou os 5%, o equivalente à media nacional, numa população que é em mais de 80% branca e que tem crescido ininterruptamente desde o início do século XIX e onde o maior empregador é o sector dos transportes, seguido da indústria e da saúde.
Visto do céu
Eileen fotografa do avião. É a primeira vez que voa para Columbus. Tem 25 anos, é enfermeira, vive em Baltimore, no Maryland, e diz que vai visitar o namorado, que está a fazer um estágio numa start-up na capital do Ohio. É também um dos poucos rostos negros entre os cerca de 80 passageiros do voo. “Estou muito curiosa. Ele descreve-me um sítio cosmopolita, com muitos jovens”, refere, sabendo que está no centro de um dos estados swing, normalmente decisivo e a servir de referência sobre tendências de voto sempre que há eleições. O Ohio ocupa 16 lugares dos 435 na Câmara dos Representantes – 12 são republicanos e 4 democratas –, e votou maioritariamente Obama nas eleições de 2012, com uma vantagem de 3% sobre Mitt Romney, o candidato republicano; quatro anos antes tinha vencido também, dessa vez com 7% sobre Jonh McCain. Em 2000, o ano da polémica contagem de votos que levou George W. Bush à Casa Branca, o democrata Al Gore ganhou no Ohio por uma margem de 0,5%.
“No Ohio somos metade-metade”, referira Donald Ray Pollock ao telefone, dois dias depois das primárias para as eleições deste ano, que aconteceram ali em Março. “O Sul e os meios mais pequenos são sobretudo republicanos, as cidades e o Norte, mais democratas, mas tudo pode sempre acontecer, sobretudo este ano.” Seria conversa para depois. Agora é a vez de Eileen, que afirma: “Não gosto de política”, a cara quase colada ao vidro da janela e o telemóvel na mão. Cala-se por momentos. “Mas estou orgulhosa de Obama, e não é tanto por ele ser negro. Fico feliz por isso, mas é sobretudo pelo seu carisma. Acho que vamos ter saudades dele.” Porquê? “Ohhh… nenhum dos que agora estão aí se compara.” Diz os nomes um a um, como se a cada um deles estivesse a fazer uma avaliação. Hillary, Trump, Cruz, Sanders, por esta ordem. Refere que vai votar democrata em Novembro. E esquece Marco Rubio, o senador republicano da Florida; e John Kasich, justamente o governador do Ohio, 64 anos, natural da Pensilvânia, que naquela altura, em Abril, ainda tinha esperança de poder ir a Cleveland disputar a candidatura à Casa Branca na Convenção do Partido Republicano, que decorrerá de 18 a 21 de Julho. Ganhou no seu estado, não desistiu como os outros em Maio, mas não chega para que Trump vá sozinho à segunda cidade do Ohio, dirigida por um mayor negro e democrata, conhecida como a capital do rock and roll, a primeira cidade americana a declarar falência desde a Grande Depressão, em 1978, com uma dívida que passava os 30 milhões de dólares. Cleveland só recuperou em 1987.
Não muito longe dali, 58 quilómetros a sudeste, outro lugar marcou a história das contestações políticas no século XX na América e gerou uma onda nacional. Kent. A 4 de Maio de 1970, era Richard Nixon Presidente, um grupo de estudantes universitários protestava na rua contra a guerra do Vietname, quando a polícia do Ohio disparou, matando quatro deles e ferindo outros nove. Seguiram-se manifestações em massa em muitas universidades dos Estados Unidos condenando o tiroteio de Kent, o que potenciou a contestação ao conflito no Vietname. Nixon tinha ganho no Ohio em 1968, mas o Ohio seria um hino contra a sua administração. Na Califórnia, Neil Young viu as imagens de Kent e escreveu uma canção.
Tin soldiers and Nixon coming,
We’re finally on our own
This summer I hear the drumming,
Four dead in Ohio.
Gotta get down to it
Soldiers are cutting us down
Should have been done long ago.
What if you knew her
And found her head on the ground
How can you run when you know?
A canção chama-se Ohio e já pouca gente sabe ou se lembra porque ela existe. O tempo de pensar tudo isto é o que demora a viagem. Eileen põe a mochila às costas e despede-se com um aceno de cabeça e um “boa viagem”. É sábado de manhã cedo em Columbus. Com cerca de 850 mil habitantes, Columbus é a 15.ª maior cidade dos Estados Unidos e a primeira do Ohio, à frente de Cleveland, a norte, e Cincinnatti, a sul. O nome é em honra do descobridor da América. Sede da Universidade do Ohio, é considerada pela revista Forbes uma das mais “interessantes” para iniciar negócio. A cidade atrai investidores de todo o mundo, com um ecossistema de start-ups que compete com São Francisco, Austin, Nova Iorque ou Miami. Numa reportagem publicada em Março na revista Atlantic, lê-se que Columbus apresentou o maior crescimento em start-ups dos últimos dois anos, e uma das razões é o preço competitivo do aluguer de espaços e, claro, a acessibilidade. O aeroporto, o Port Columbus International Airport, é um sinal desse dinamismo recente, com um espaço renovado onde em 2014 passaram 6,5 milhões de passageiros, número que fica, no entanto, abaixo de Cincinnatti, com mais de 16 milhões.
Como enquadrar o universo de Donald Ray Pollock neste retrato abrangente? Ele está sentado na primeira fila das chegadas do aeroporto Port Columbus exibindo no ar uma folha branca com um nome, como quem diz: “Sou eu quem espera por si.” Esquece que o seu rosto anda pelas melhores publicações literárias do mundo como o autor de uma das prosas mais inclementes sobre a existência humana num pedaço de terra para onde segue esta viagem. É através dos seus olhos, da sua vida e da sua ficção que o Ohio se irá contar aqui. A relação de um escritor com a paisagem que o envolve. No caso, rural. E que entra numa tradição de escrita da América com nomes como Flannery O’Connor, Annie Proulx ou Cormac McCarthy. Em todos, a paisagem importa; é, aliás, determinante.
A viagem começa com um céu negro que “pode ficar assim durante dias, semanas”, diz Donald Ray Pollock, e “no Inverno é ainda mais negro”, adianta. “Suporto bem o frio, a neve, mas dias seguidos desse céu escuro deixam-me louco.” Está ao volante num percurso que sabe de cor, marcado pelo tal contraste entre ser-se cosmopolita no Ohio e ser-se do campo também no Ohio, um estado que começou por ser povoado por nómadas. “Isso pode explicar alguma coisa sobre este lugar”, sorri. “Eu sou do campo. Não me vejo a viver numa cidade grande, seria incapaz”, confessa. Nada na expressão, no tom de voz, nos olhos vivos e infantis sob os óculos de aro fino revela qualquer traço do “tsunami literário do mal mais puro”, como lhe chamou o escritor Robert Goolrick no Washington Post quando publicou Sempre o Diabo, o romance que confirmou a mestria narrativa dos contos de Knockemstiff.
“Foi numa quarta-feira à tarde no Outono de 1945, não muito tempo depois do fim da guerra. O autocarro da Geyhound fez a paragem habitual em Meade, no Ohio, uma cidadezinha onde havia uma fábrica de papel, que ficava a uma hora de Columbus para sul, e onde havia um cheiro permanente a ovos podres. As pessoas de fora queixavam-se do cheiro, mas as da terra gostavam de se gabar, dizendo que cheirava era a dinheiro.” O primeiro capítulo do romance aponta para essa geografia precisa que já estivera nos contos. Há um pai, Willard, um filho, Arvin, e uma mãe doente, Charlotte. Willard é um religioso fanático que entra numa espiral obsessiva de sacrifício pela saúde da mulher. Há um casal de criminosos, polícias corruptos, vários crimes, dois fugitivos no centro de uma complexa teia narrativa habilmente tecida por Pollock para testar os nervos do leitor. E tudo parte mais uma vez de Knockemstiff. Se houvesse dúvidas, os nomes das terras existem mesmo, os sinais que as identificam também. Na estrada há uma placa a indicar Meade, Chillicothe tem uma longa história e Knockemstiff é uma aldeia perdida “num vale rochoso”, mas ainda mais esquecida do que a que serve de cenário ao livro com que Ray Pollock se estreou na literatura. Ele é dali, na realidade e na ficção.
Deixamos o romance e vamos aos contos. “Porque raio é que lhe chamaram Knockemstiff?”, pergunta alguém vindo da Califórnia ao protagonista e narrador do conto com o mesmo título, um rapaz sem grandes aspirações que trabalha na loja da Maude, um dos núcleos da aldeia, em troca de 30 dólares por semana, um maço de tabaco por dia e alguma comida. O californiano faz a pergunta e acrescenta o comentário: “Parece um nome demasiado duro para um lugar tão sossegado.” É o início de uma conversa sobre identidade: “Eu suspiro e procuro um cigarro no bolso, mas deixei o maço dentro da loja. Já me devem ter feito aquela pergunta umas 30 ou 40 vezes desde que comecei a trabalhar para a Maude, mas não sou um contador de histórias. E a lenda sobre de como Knockemstiff teve aquele nome parece estúpida, mesmo quando os velhos ficam bêbados e começam a contá-la. Mas esta gente veio directa da Califórnia e o homem está à espera de algum tipo de resposta. ‘Não é uma grande história’, digo. ‘Supostamente duas mulheres começaram a lutar por causa de um homem à frente da igreja. Uma era a mulher e a outra a amante. O padre ouviu uma delas jurar que ia esmurrá-la [to knock] até fazer ela ficar tesa [stiff].’ Encolhi os ombros e olhei para o homem. ‘Acho que este lugar ainda não tinha nome. Isso aconteceu antes de eu ter nascido.’”
A pergunta repete-se, agora dirigida a Ray Pollock, o autor, e ele responde com outra história a ajudar a manter viva a lenda. “Conta-se que é o calão para designar um sítio onde havia muitos contrabandistas. Não sei”, sorri. Também sabe apenas vagamente de onde vem o seu nome, Pollock como o famoso pintor. “Acho que vem de Inglaterra, mas não sei muito sobre os meus ancestrais.” Sempre os conheceu ali. Avós, bisavós, todos do campo há muitas gerações, parte dos 9% da população do Ohio com origem em Inglaterra.
Para Pollock, ser do campo é uma condição, “requer uma linguagem própria, um código que só quem partilha dessa experiência reconhece”, tenta definir, e que “não é nem melhor nem pior do que o da cidade”, continua, referindo os silêncios, os olhares de soslaio, uma capacidade de perdição que tem mais que ver com o tempo do que com a geografia. “É uma demora sem que isso nunca se sinta enquanto tal”, exemplifica. E é o ouvido, coscuvilheiro ou detector de sinais – como os passos na gravilha da estrada em frente, um grito ao longe, um ladrar fora de horas. E ainda encontrar conforto na solidão. “Acho, sobretudo, que é sentir que se pertence a um sítio e sem ele sermos incapazes de nos reconhecermos”, concretiza, afirmando que longe de casa não consegue escrever. A comédia humana – vista pelo seu lado mais trágico – da escrita de Pollock é tudo o que a sua geografia contém e apenas consegue viver nesse território. Fora dele, confirma a sua dimensão literária.
“A comédia humana é sempre trágica, mas uma vez que os seus ingredientes são sempre os mesmos (…) a sua repetição através dos tempos torna-a comédia”, escreveu Dwan Powell (1896-1965) num dos seus diários, reunidos no volume The Diaries of Dwan Powell:1931-1955. A escritora, natural de Mount Gilead, uma pequena cidade a norte de Columbus, teve uma infância e juventude errante a viver em cidades secundárias do Ohio até se mudar para Manhattan, onde escreveu peças de teatro, crítica de livros, contos e 15 romances centrados quase sempre no quotidiano dessas pequenas comunidades do Midwest. “Sátira – definiu Powell na sua escrita cheia de aforismos – não é mais do que as pessoas como elas são. Romantismo, pessoas como elas gostavam de ser; realismo, pessoas como elas parecem ser com o seu íntimo excluído.” Ela preferia a sátira em toda a sua tragédia. Fosse sobre a aspereza do Ohio rural ou a sofisticação cruel de Nova Iorque, que, dizia, era um lugar que não se incomodava nada em mandar os inadaptados para o sítio de origem. Quanto ao Ohio, não havia como lhe escapar. No seu romance autobiográfico My Home is Far Away (1944), ela narra a luta pela sobrevivência individual na primeira metade do século XX, num espaço onde a liberdade de afirmação parecia condenada ao fracasso. Ainda mais sendo mulher. “Todos os americanos vieram originalmente do Ohio, ainda que muito brevemente”, disse, numa frase que Ray Pollock escolheu para epígrafe de Knockemstiff. “Quando li essas memórias, fiquei deslumbrado”, confessa.
Dawn Powell morreu tinha Donald Ray Pollock 21 anos. Desde os 18 que ele trabalhava na fábrica de papel de Chillicothe. “Estavam a contratar, o meu pai deu o meu nome, fui a uma entrevista e fiquei.” Na altura, não queria viver ali, mas aceitou o trabalho. “O salário era bom e havia regalias associadas a ser sindicalizado. Achei que ficaria uns dois anos e iria para outro lado. O primeiro erro que fiz foi casar logo a seguir, ainda com 18 anos. Comecei a coleccionar contas, a comprar coisas e a vida é a que tem vindo nas fotografias”, ironiza, referindo as entrevistas que deu – uma ao PÚBLICO/Ípsilon em 2014 – onde sintetiza um processo de autodestruição que começou cedo.
Com 18 anos, já tinha começado a beber fazia tempo. “Comecei com 11 ou 12 anos, a mesma idade com que comecei a fumar”, diz, sem tirar os olhos da estrada. Ray Pollock conduz rumo ao Sul, vindo da capital. É uma longa linha recta. A US 23 vai de Mackinow City, no Michigan, e termina em Jacksonville, Florida. São 2472 quilómetros que atravessam os estados do Ohio, Kentucky, Virginia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia, uma recta a perder de vista no ponto em que Columbus ficou para trás. Desde ali, será uma hora a conduzir até Chillicothe. Com hoje pouco mais de 20 mil habitantes, foi a primeira capital do Ohio. Além da fábrica de papel que já foi grande – “tinha seis mil operários na década de 1970. Deve ter agora mil”, nota Ray Pollock – há um hospital de veteranos de guerra, “o principal empregador da cidade” e duas prisões. É também a terra onde Pollock vive desde que deixou Knockemstiff.
É lá a próxima paragem, em casa, para ver se tudo está bem com Emmett Kelly. “Ele não está ainda muito habituado a ficar sozinho com a Patsy, mas os dois terão de se habituar”, refere o escritor, que irá sair daí a dois dias para uma série de leituras em universidades do Alabama, e pouco depois para França, para participar num festival literário. Patsy, a quem dedicou os dois livros, é Patricia, a sua terceira mulher, uma professora de Inglês do ensino secundário, reformada, que faz trabalho voluntário na prisão de mulheres em Chillicothe. “Conhecemo-nos em 1988, numa estação de lavagem de carros”, conta. Ela era de Chicago, vivia ali há muitos anos e tinha-se divorciado recentemente. Ele tinha 34 anos, continuava a trabalhar na fábrica e estava na universidade à noite, uma decisão depois de sair limpo da quarta desintoxicação de álcool. Nunca mais se separaram.
No mapa
Entra-se em Knockemstiff sem se saber. As placas desapareceram misteriosamente uma semana após os contos terem sido publicados e ninguém as substituiu passados oito anos. O lugar é cada vez mais literário. A única placa que subsiste é a que vem reproduzida na da capa da edição e a sensação de estarmos em território eventualmente imaginário. “Uma estava ali, junto àquela caixa do correio”, aponta Pollock para um local à beira da estrada esburacada, mesmo antes de uma curva, junto a um poste de electricidade. Olha-se o mapa desenhado no início do livro, o tal território recorrente, com personagens recorrentes, nas histórias, no romance. Inventou-os, andam por ali. Procuram-se referências. O lugar da ficção está muito mais povoado. Ali falta vida para ser uma aldeia. São casas num alinhamento desordenado e ninguém na rua. Há uma escola, mas já não há o bar do Hap, nem a mercearia da Maude, sítios onde ouviu as primeiras histórias, viu os primeiros bêbados, onde ganhou uma identidade formada em modelos muito antigos. Os homens casam, têm filhos, bebem, trabalham, vão à igreja, às vezes falam, uns desaparecem, um dia morrem e são enterrados com uma cruz por cima. O que fazem além disso pode ser de arrepiar.
“Não sou assim tão negro. Ou melhor, quando bebia era. Mas foi há muito tempo. É verdade, comecei a beber com outros miúdos. A maior parte dos nossos pais bebia e nós viamo-los. Era muito fácil arranjar bebida.” Donald Ray Pollock fala com frases curtas, faz perguntas entre cada resposta, conversa a querer saber do interlocutor, mas neste ponto alonga-se. “A primeira vez que bebi até cair tinha uns 13 anos. Pensei: é isto, aqui está a resposta; é isto mesmo que eu quero. Adorei a sensação e quis repetir. Bêbado já não era tímido, já não tinha sentimentos negativos sobre mim, achava que podia fazer qualquer coisa. O meu mundo ganhava vida e persegui essa sensação até ter 32 anos. Já tinha passado por três recuperações. E só ficava sóbrio para não perder o meu emprego. Era a única coisa que tinha. Na altura já me tinha casado e divorciado duas vezes. Entrei na última recuperação já estava a trabalhar na fábrica há 14 anos, mas tudo o que eu tinha eram umas roupas e um velho Chevy de 76 todo batido e uma televisão a preto e branco que a minha irmã me deu.” Interrompe e abranda a marcha. Aponta para a direita, na estrada onde se vê a ruína de uma casa de madeira. “Neste sítio, se tivéssemos 15 anos, podíamos comprar cerveja.” Continua: “Na fábrica insistiam para que eu fizesse mais uma recuperação. Era isso ou ia embora. Acordei numa manhã, já não ia trabalhar há três ou quatro dias, não sabia exactamente há quanto tempo. Sei que tive um blackout, nem me lembro se liguei a avisar que não iria trabalhar. No sindicato há uma espécie de regra segundo a qual não me podiam despedir se eu já estivesse num tratamento. Foi o que fiz. Não sei o que aconteceu, mas por alguma razão resultou. Não bebo álcool desde então, vai fazer 30 anos em Setembro, e a coisa mais forte que tomo é uma aspirina.”
Foi quando deixou de beber que começou a ler regularmente. “Quando era criança os meus pais não tinham livros, nem a Bíblia. Mas tínhamos o jornal do dia e revistas de treta. Foram as minhas primeiras leituras”, conta. Os poucos livros que leu em criança estavam na biblioteca da escola. “Não sabia o que lia; lia e pronto.” Conta também que o primeiro livro que leu e pensou “uau, não acredito que alguém tenha feito isto” descobriu-o em casa de uns primos. "É de um escritor que morreu há anos e de que ninguém fala, Earl Thomson (1931-1978), chama-se A Garden of Sand [1970]. Eu devia ter uns 15 anos. Nunca tinha lido um livro sobre pessoas como eu, não sabia que a literatura podia ser uma coisa a falar de gente comum, pessoas como aquelas com quem cresci, pobres, bêbados. Reconheci o ambiente. Continuo a gostar muito do livro. Achei que devia haver mais livros como aquele.”
Trabalhava na fábrica de papel e lia quando podia. “Pouco tempo depois de estar sóbrio, comecei a ir à faculdade e a aprender a separar livros: os que devia ler, e outros que eram uma perda de tempo.” Formou-se em Inglês, especializou-se em William Shakespeare e um dia, tinha 50 anos, viu o pai sentado no sofá em frente à televisão e deu-se um clique. Não queria pensar em si daquela maneira, com aquela idade, sem outra coisa que não um passado de vida na fábrica. “Não sabia fazer mais nada. Lia e era operário.” Quis ler melhor e chegar a uma técnica. “Talvez conseguisse escrever”, ri. Desistiu do emprego, avisou a família que ia tentar ser escritor, chamaram-lhe louco. Concorreu a uma bolsa de escrita na Universidade do Ohio com um conto original e ganhou.
As versões da sua história pessoal vão construindo uma espécie de mitologia à volta de Ray Pollock, o escritor com uma vida tão insólita como as que leva para as histórias que narra e que alimenta, mas menos sórdida. “Eu não sabia como começar. Comecei a copiar histórias de outras pessoas e a tentar aprender alguma coisa com isso. Primeiro quis aprender a escrever contos e copiava o conto inteiro. Primeiro à máquina, depois usando o computador.” Raramente escreve à mão. “Não consigo suportar a imagem da minha mão a escrever. Pode parecer maluco, mas incomoda-me. Escolhia alguma coisa que não fosse muito longa, que pudesse copiar numa semana, enquanto trabalhava.” Copiou todos os contos de Jesus' Son, de Denis Johnson, copiou Richard Yeats, John Cheever… cópias para tentar perceber a técnica, apanhar ritmos, entender como se construíam personagens, enredos, como se ganhava uma identidade. E fez isso com os que mais admirava. “Talvez por causa do romance as pessoas me conotem com o policial, o crime, talvez eu seja um desses escritores de crime, mas eu não leio esse tipo de ficção.” Lê Cormac McCarthy, Richard Russo, Jim Harrison, Michel Houellebecq, Martin Amis, Eudora Welty, Richard Ford, conhece o que se publica dentro e fora dos Estados Unidos; gosta dos ensaios de Joseph Epstein, Shakespeare está sempre por perto e William Faulkner.
Arriscou escrever, publicou em revistas e foi contactado por uma editora. Quando saiu o volume de contos Knockemstiff, a sua vida mudou. “Mesmo. Os meus pais ficaram muito aflitos quando lhes contei que ia deixar a fábrica, agora acho que estão orgulhosos, não sei.” O pai tem 86 anos e a mãe 84. Não leram o que escreveu. “Acho que têm medo, não sei.” A filha, uma assistente social de 35 anos, leu. “Ela diz que gostou”, ri outra vez, antes de dizer que terminou outro romance. Será o seu terceiro livro. “Chama-se The Evenly Table. O título pode sugerir um livro de cozinha, mas está muito longe disso. Grande parte passa-se no Ohio, mas começa algures na fronteira entre o Mississípi e o Alabama e depois volta para aqui, para uma quinta no Ohio.”
Levou-lhe cinco anos a escrever, entre viagens e a tal vida nova a que não se habitua. “Quando vou fazer uma viagem, uma semana antes já estou a pensar nisso, e depois de voltar demoro mais duas a retomar a rotina.” É um quotidiano de caminhadas diárias com o cão no cemitério em frente a casa, horas passadas na cabana de madeira que tem no jardim, entre duas macieiras, com duas janelas para a rua. Lá dentro, apenas uma mesa branca, simples, uma cadeira de madeira e umas prateleiras com livros. “A minha mulher não me deixa fumar em casa e eu não consigo escrever sem fumar”, diz, a neve a cair, o cigarro novamente aceso. Há os jantares com amigos, as leituras, os passeios de carro como os que fazia com o pai pela América, quando ir com o pai aos 12, 13 anos era uma espécie de castigo para o miúdo rebelde.
O romance sai a 12 de Julho nos Estados Unidos e Pollock já começou o que se há-de seguir. “Estava a conduzir para oeste saindo de Knockemstiff e a umas 35 milhas [56 quilómetros] há um lugar chamado Rainsboro; decidi que seria o título do meu próximo livro”, revela. Outra vez a determinação da geografia. “Comecei então a pensar em Rainsboro nos anos 50 e estou a partir daí.” Antes de apagar o cigarro e seguir viagem, comenta como hoje é tão mais fácil conseguir arranjar os livros que quer ler. “São as coisas boas de sair.” Em Chillicothe não há livrarias. “Desde Colombus até pelo menos sair de Kentucky, há apenas uma livraria e, se for para oeste, não se encontra nenhuma até Dayton, a cerca de uma hora de carro. Para leste, há duas em Athens, onde está também a Universidade do Ohio. Ficam a 93 quilómetros. Não há por aqui muitos amantes de livros.” Nem muita gente, entre os que cresceu, que saiba o que faz um escritor.
“Alguns dos que leram as minhas histórias dizem-me que conhecem esta e aquela personagem, que sabem de quem estou a falar, mas elas não existem, eu pelo menos não as conheço, e conto uma versão muito mais dura desta terra do que aquela que os factos contam. Há boa gente por aqui”, assegura, quase a passar pelo ponto que vem assinalado no mapa como Dynamite Hole, título do segundo conto de Knockemstiff. “Eu vinha a descer do alto dos Apartamentos Mitchell com três pontas de flecha no bolso e uma cobra morta à volta do pescoço como uma velha com um lenço quando apanhei um rapaz chamado Truman Mackey a f…. a sua irmã mais nova em Dynamite Hole.” Este arranque foi o que de mais próximo lhe aconteceu ao tal mistério, inspiração, epifania, o tal momento em que alguma coisa parece resolver-se miraculosamente e de que tantos escritores falam. “Andava às voltas com um início, escrevi várias versões e a partir daqui consegui avançar. Numa semana escrevi a história, nunca nada me aconteceu tão rápido.” Precisamos nesse rapaz e fala-se das crianças agora, ali. “Há uma escola nova, moderna. Existem crianças aqui, mas já não andam na rua. Estão em casa. Jogam nos computadores, nos tablet, acho que fazem o que quase todas as crianças do mundo fazem. E se querem uma educação melhor, mais tarde, têm de sair daqui.” Para onde? “Pode ser neste estado. A Universidade do Ohio é boa.” Há um pólo em Chillicothe. “É bom para quem quer formar-se em auxiliar de saúde ou ter noções de gestão, mas é só”, assegura.
Sai-se de Dynamite Hole com a imagem de várias hipóteses para um rapaz de sete anos no Ohio rural. A pior, diz Pollock irónico, talvez seja a da sua ficção. Sobre o mal, sempre presente no que escreve, refere que ele existe – “há perigo, pode-se ser assaltado, sobretudo sendo estranho e andando por aí; é bom não sair sem se saber pedir ajuda” – mas que aquele que imagina é uma espécie de desafio, esticar limites como quando era miúdo e o acusavam de rebeldia. “É ficção”, insiste, “e a minha surpresa é quando alguém me diz que sabe de uma história assim. Se imaginamos alguma coisa muito má, é porque ela pode existir. Falo disso num território que conheço, onde há mais vítimas do que malfeitores. É o efeito da pobreza, do abandono a que muita desta gente está sujeita. Eu era pequeno e observava-os. O meu pai tinha um bom emprego, tínhamos uma casa grande, carro, muito mais do que a maioria das pessoas. Eu podia ter estudado, desisti…”
Sobe-se uma colina. Árvores de um lado e do outro, casas velhas, tralha na rua. Uma casa nova, outra bem cuidada. “Antes era tudo floresta”, conta. A estrada chama-se Shady Glam – podíamos passar horas a falar dos nomes dos sítios por aqui – e era a principal rua em frente da casa dos pais, que ainda lá está. Continua a destacar-se, grande num campo verde. “No Verão, isto é húmido. Há anos em que é mesmo muito quente. Até 1999, havia um único agricultor com mil hectares que depois vendeu a uma empresa de construção.” O que pode vir a ser isto? Encolhe os ombros como o rapaz da história, o que trabalhava na loja da Maude perante as perguntas dos desconhecidos. Atravessam-se os pouco mais de dois quilómetros ao longo dos quais Knockemstiff se estende. Há uma casa branca rodeada de erva alta. Na janela, umas cortinas rotas. “Vive ali um ex-colega meu de escola. É um eremita. Chama-se Mark e esta era a casa dos pais. E aqui vive um velho obcecado por cavalos. Pobre como tudo, gasta cada tostão para os manter gordos”, e aponta para um casebre abandonado, cheio de acrescentos e que parece um estábulo. Não muito longe há um pântano, a casa que foi da avó ficava mesmo antes. Há também a dos primos recentemente abandonada, depois de um filho ter sido encontrado ali morto, com uma orverdose de heroína. “Há 30 anos nunca poderíamos pensar que a droga iria fazer vítimas por aqui”, diz.
As histórias sucedem-se, as prisões estão cheias de condenados por consumo e tráfico de droga e de toda a criminalidade a ela associada. Muitas das mulheres que Patsy visita no Chillicotte Correctional Centre são toxicodependentes. O centro tem capacidade para 1650 reclusas e está lotado. “A maior parte tem entre 20 e 30 anos, muitas têm filhos, alguns estão lá com elas. Mostram vontade de deixar a droga quando estão lá dentro, mas sem educação, indo para o mesmo ambiente, só uma ou duas em dez conseguem”, comenta Patsy quando a encontramos para o almoço, num dos restaurantes do centro de Chillicothe onde costumam ir. E acrescenta que, por ali, os jovens começam muito cedo a consumir drogas pesadas, antes de terem tempo de completar o liceu, com 15, 16 anos.
Fora do mapa
A estrada ilumina-se com um sol que sucede à neve. Agora segue para oeste e depois para norte. Volta à escrita. “Eu tiro coisas da realidade para fazer as histórias; coisas do meu passado, mas são pequenas coisas, um Dodge amarelo, como um que um amigo meu tinha. O resto é inventado.” Menos a geografia, a linguagem, o silêncio a que já se referira. “Muita desta gente não fala muito. Há muita gente assim, calada. A maioria das pessoas com quem cresci vinha de sítios um pouco a norte”, os chamados hillbillies, nome dado a quem vive isolado nos montes, em zonas interiores. Vivem da pesca, de pequenas porções de terra cultivada. “A maior parte deles são muito quietos, silenciosos, sobretudo entre estranhos.”
Estamos de volta a Chillicothe. Placas com anúncios à beira da estrada com as marcas de sempre que se repetem um pouco por todo o território americano. O regresso faz-se pela US 104, mais rural que a 23. Passa junto a outra prisão de Chillicotthe, a Chillicothe Correction Institution ou CCI. “Aqui esteve o Charles Manson antes de se tornar um famoso”, comenta. Filho de uma prostituta, Manson cresceu entre os arredores de Cincinnatti e Ashland, no Kentucky, cumprindo penas em várias prisões, entre elas a de Chillicothe, para onde foi transferido em 1952, com 18 anos, e de onde sairia dois anos depois em liberdade condicional por bom comportamento. Foi muito antes de ter assassinado a actriz Sharon Taton, num caso de múltiplos assassínios e de ter sido condenado em 1971. Cumpre prisão perpétua na Califórnia.
O CCI foi notícia mais recentemente. É lá que desde 2012 se situa o principal “corredor da morte” do Ohio. O estado é um entre os 36 na América com pena capital. Existem actualmente 26 presos condenados à injecção letal, mas este ano, como em 2015, nenhum deles será executado na prisão de segurança máxima de Lucasville, a 45 minutos de carro de Chillicothe, Sul do Ohio. Os laboratórios não querem estar associados a este tipo de procedimento. Além disso, a última execução esteve rodeada de polémica: em 2014, Dennis McGuiere, condenado por assassínio e violação, demorou 25 minutos a morrer e os manifestantes contra a pena capital no Ohio contam com estes argumentos para marcar a sua posição.
A rua onde está esta prisão e as pessoas que nela habitam não constam do mapa de Ray Pollock. Ele insiste que o que faz é ficção. “Não temos histórias de pessoas mesmo más.” Faz uma pausa. “Há um caso de mulheres desaparecidas a decorrer neste momento em Chillicothe. Há um ano e meio, dois anos, começaram a desaparecer mulheres. Eram prostitutas ou toxicodependentes. Dessas, duas foram encontradas mortas e há seis sem paradeiro. Há um ano desapareceu outra. Senti-me tentado a escrever uma história sobre isso, mas quanto mais pensava nisso menos gostava da ideia. Estava demasiado próximo de casa, iria ter tanta gente a chatear-me. Talvez daqui a dez anos… Há muita gente louca por aqui.”
A vida normal acontece. Ray Pollock estaciona o carro à porta de casa. Emmett Kelly vem recebê-lo aos saltos e Patsy serve-lhe um prato de comida e faz café para todos. O sino da igreja dá as seis da tarde em Chillicothe. Amanhã haverá missa e ela ajudará nas flores. “Patsy acredita em Deus, eu sou agnóstico, mas acompanho-a. Gosto dos rituais.” Em Sempre o Diabo, Carl, o criminoso, fazia panquecas ao pequeno-almoço, Willard rezava no seu altar de sacrifícios. Mas na realidade e na ficção há sempre a chaminé da fábrica de papel a deitar fumo. É na paisagem que o bem e o mal começam. “No Ohio como em qualquer lado”, repete Ray Pollock.




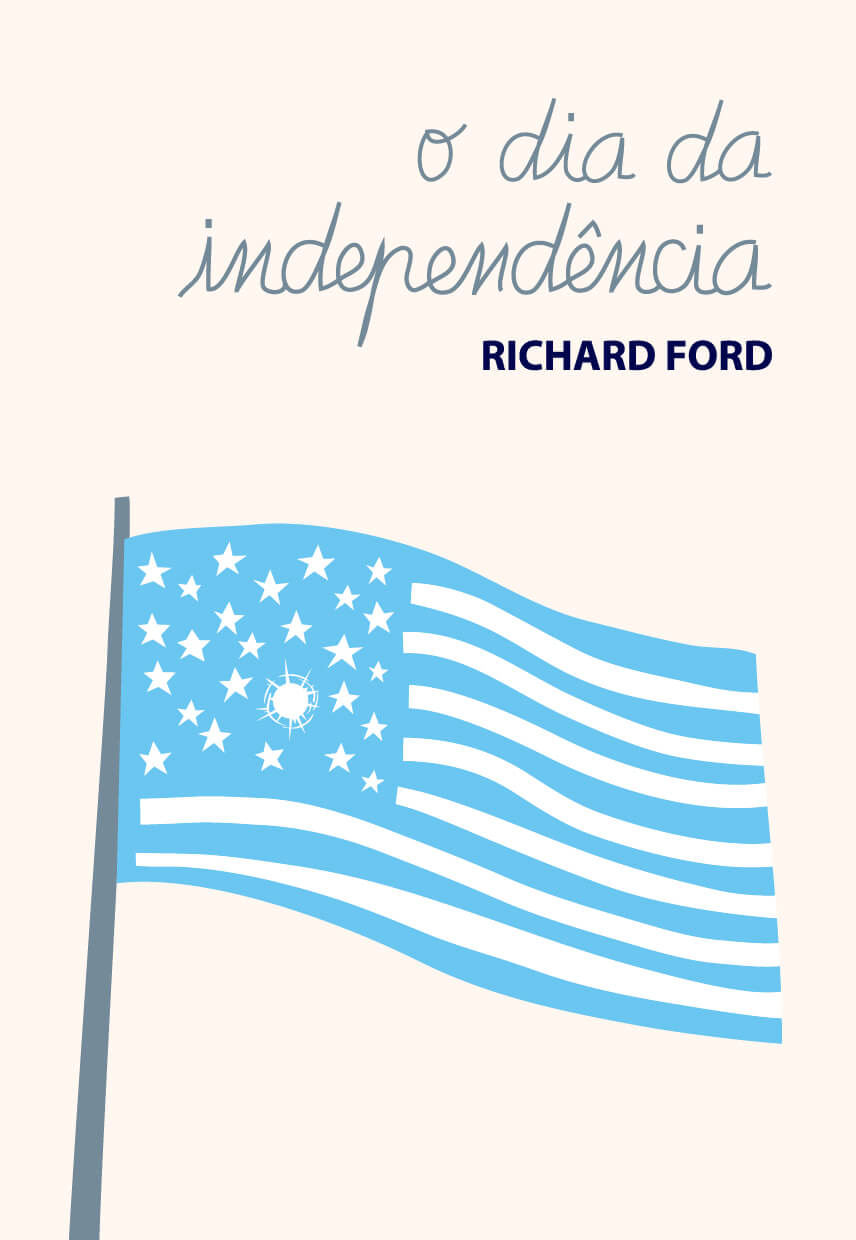

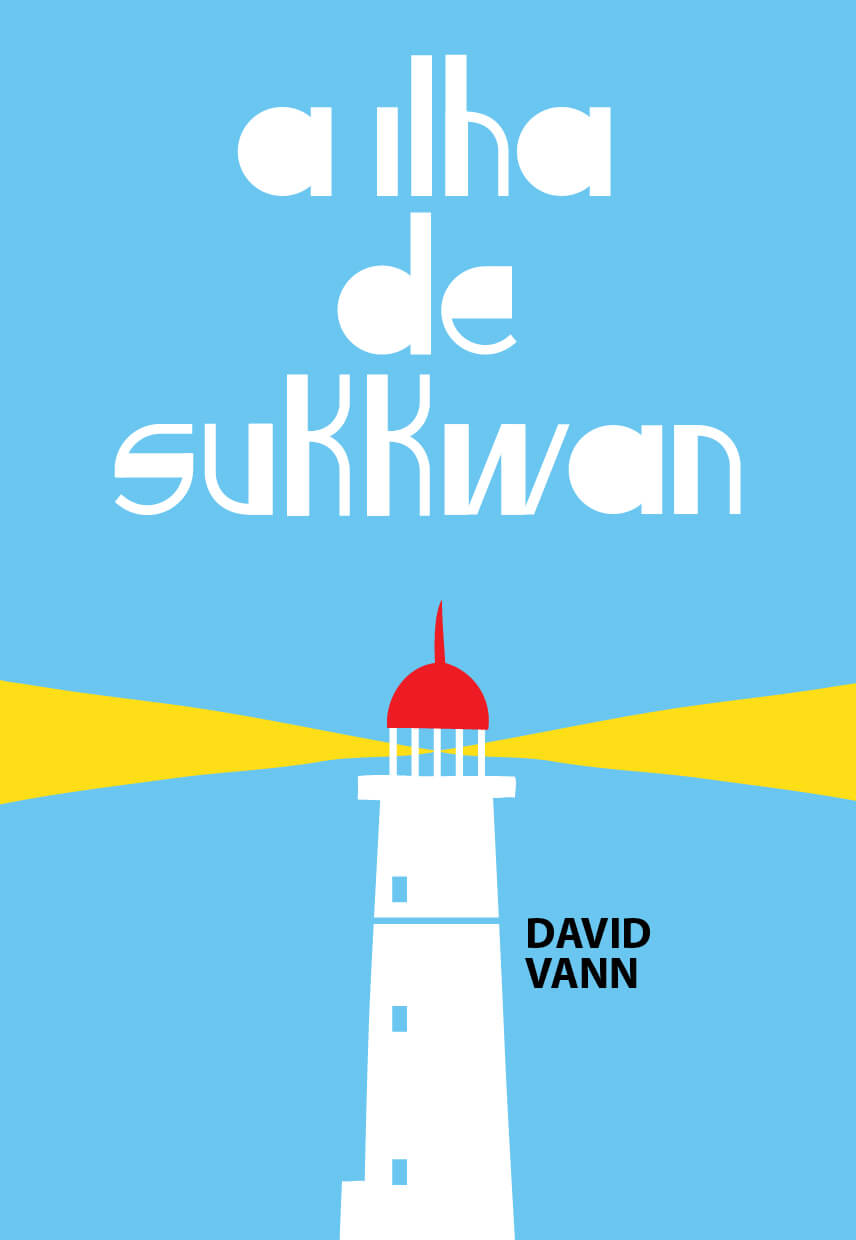
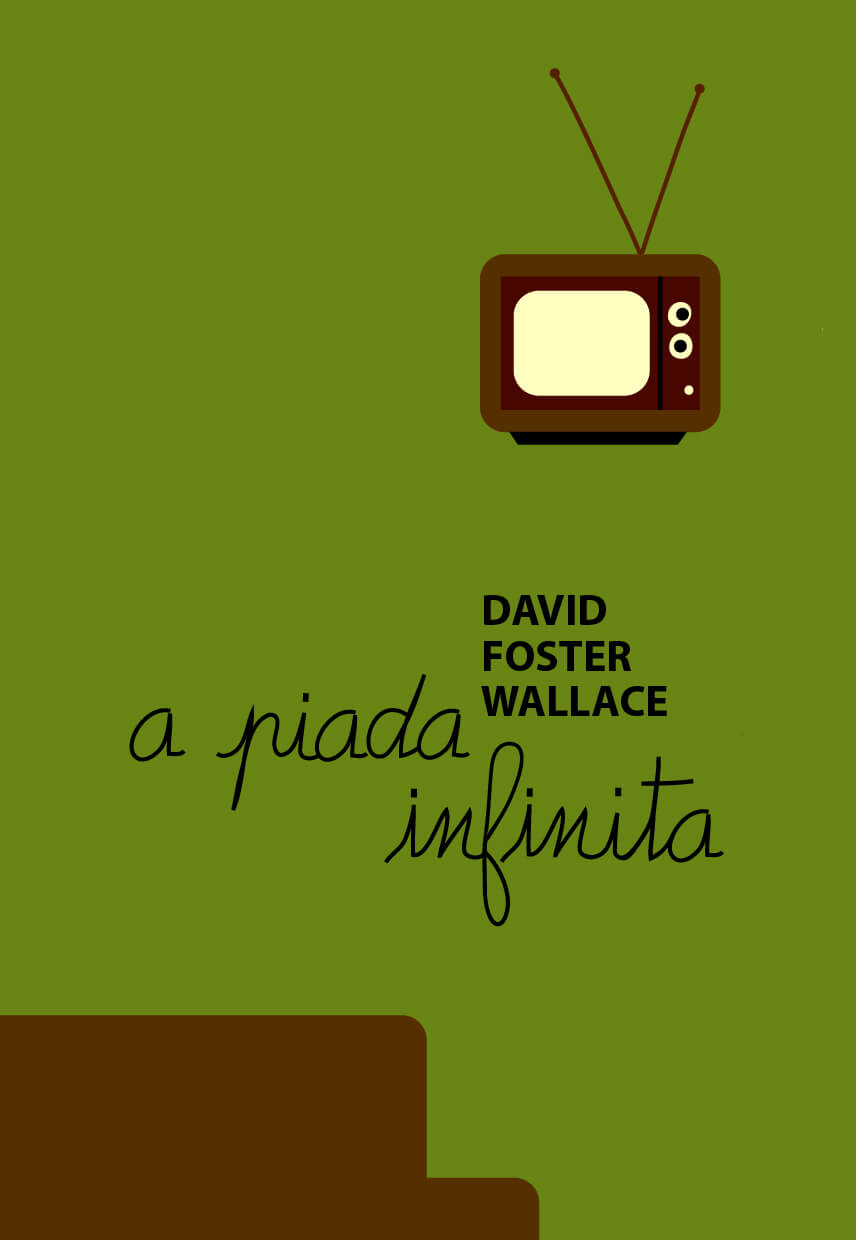


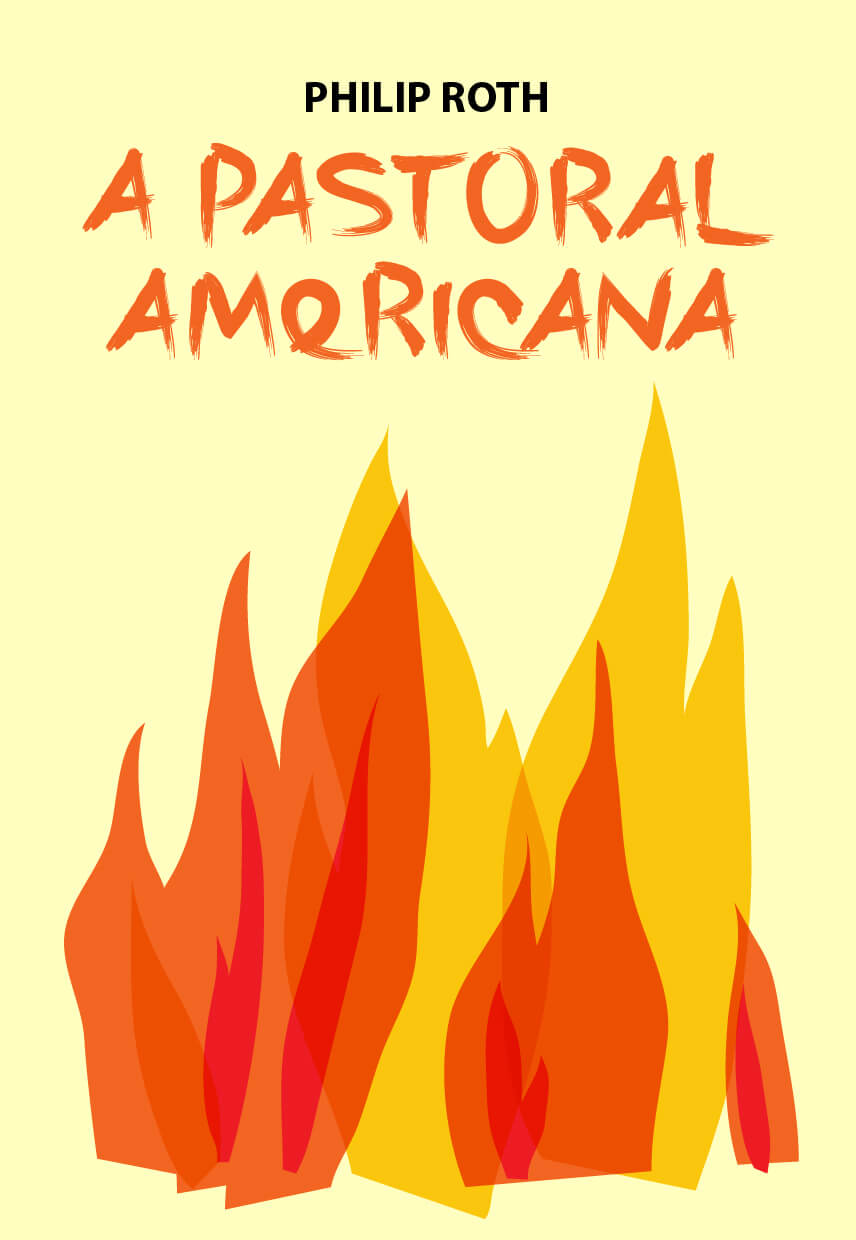
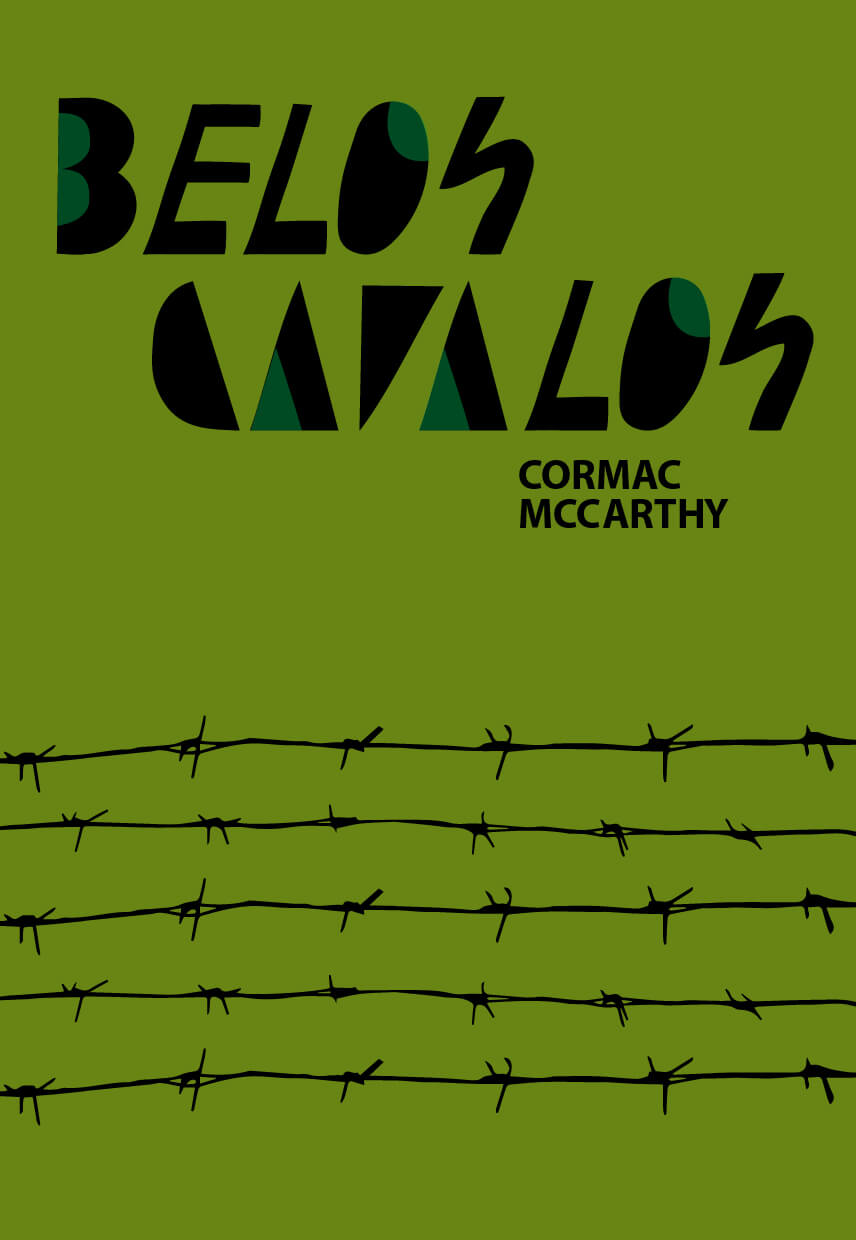
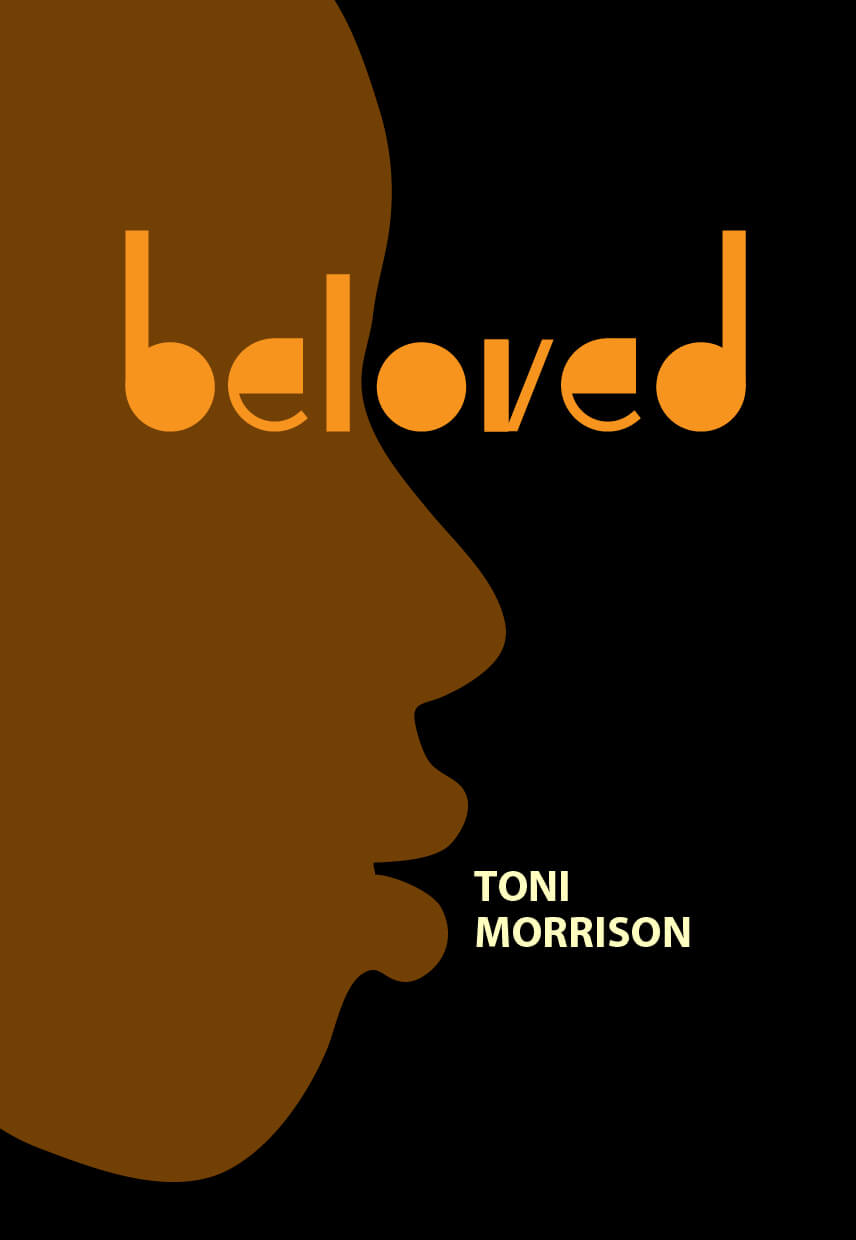
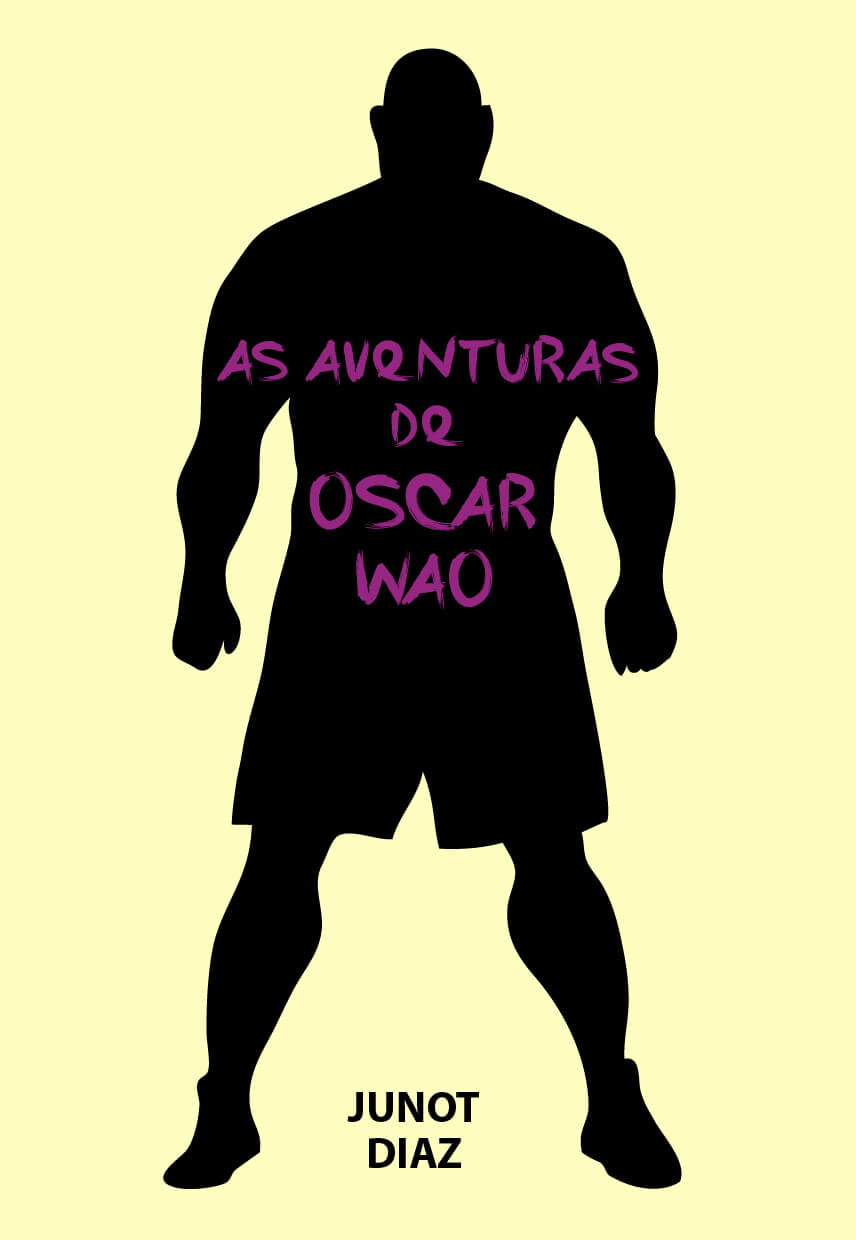



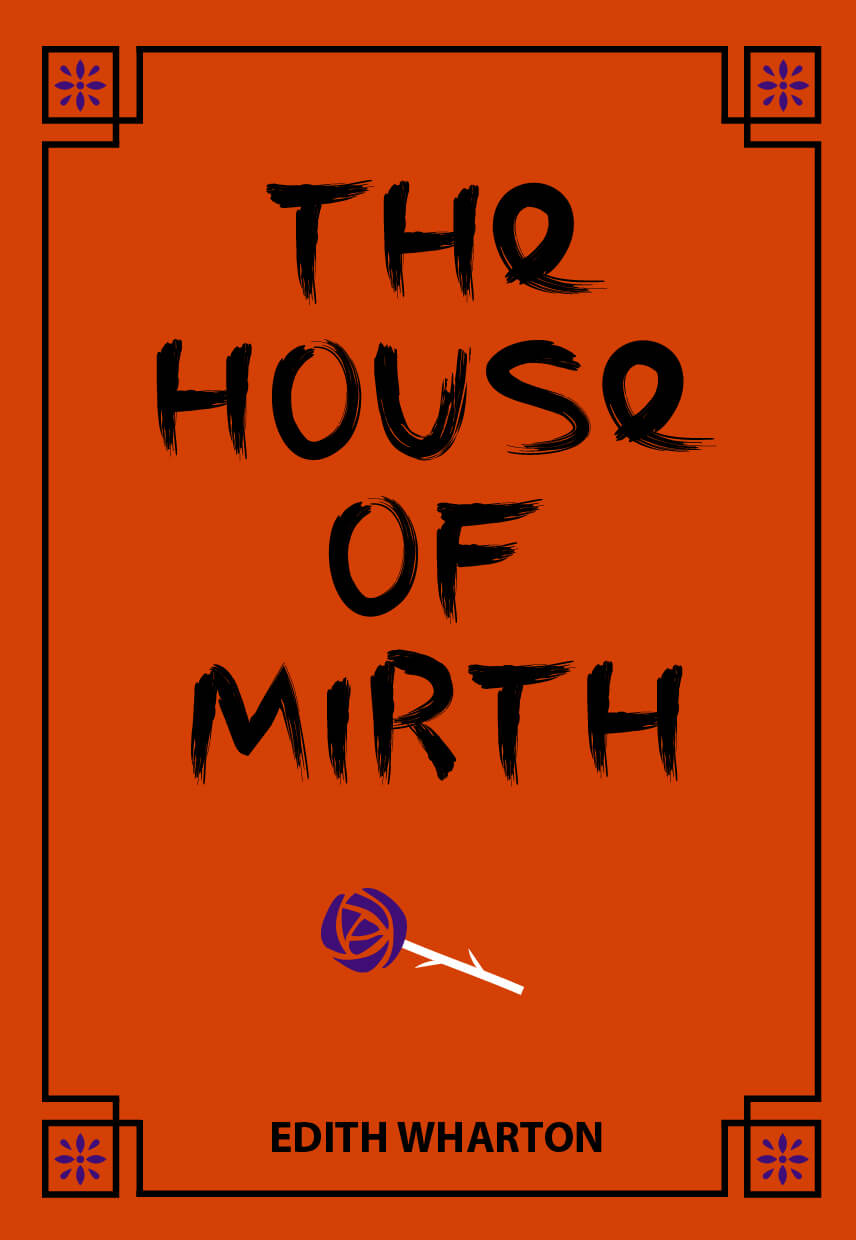



Comentários