Num bar em Talkeetna, no sopé do Monte Denali, a maior montanha da América do Norte, ninguém desviou o olhar para a televisão quando Ted Cruz fez o seu anúncio ao país: não iria à Convenção do Partido Republicano. Donald Trump, o milionário nova-iorquino independente, parecia cada vez mais sozinho na disputa pelo apoio dos republicanos e cada vez mais próximo de concretizar a sua ambição de chegar à Casa Branca. Quase colado ao tecto, muito acima das cabeças que se agrupavam nas mesas e ao balcão, o écran debitava, solitário, imagens e som.
Naquela pequena cidade do Alasca, a sete mil quilómetros da capital, a indiferença face ao que poderia ser o novo presidente dos Estados Unidos parecia absoluta. Uma caneca de cerveja e uma conversa de circunstância no final de uma tarde de Maio era tudo o que concentrava a atenção da meia dúzia de homens e mulheres naquele bar do Alasca.
Os quase 800 habitantes de Talkeetna sentem-se muito longe, e não são os únicos. A sensação de lonjura pode acontecer no estado mais remoto como numa vila da Pensilvânia ou nos subúrbios de Nova Iorque. É a distância em relação a um poder ou a um discurso que muitos acham que não os representa nem irá nunca representar. Seja pela geografia, segregação racial ou de classe, diferença de acesso à educação, expectativas de vida, a ideia de cada um para o que se convencionou chamar colectivamente de sonho americano e está previsto na Constituição. «O sonho é um direito», ouvi dizer a Mike Stewart, um homem do Idaho, a rir enquanto se aquecia com um café. Está onde a Constituição afirma que os homens são criados iguais, ideia teorizada pelo historiador James Truslow Adams em 1931, no livro The Epic of America.
É um sonho de prosperidade e de sucesso, que defende que a vida deve ser mais rica para todos, e que o tempo, através das artes, seja do cinema à literatura, tem interpretado de forma umas vezes esperançada, outras poética, sarcástica ou cínica. Nunca linear. «A sua suposição de que ‘toda a gente é como tu’. Que tu és é o mundo. A doença do capitalismo de consumo. O solipsismo complacente», definiu-o David Foster Wallace em O Rei Pálido. É o sonho enquanto conjugação de duas palavras — sucesso e dinheiro — e tendo como sinónimo apenas uma delas: dinheiro.
É um sonho que contém a sua antítese, como escreveu William S. Burroughs, um dos poetas da Geração Beat «A América não é tanto um pesadelo como um não-sonho. O não-sonho americano é mover-se para limpar precisamente o sonho da existência. O sonho é um acontecimento espontâneo e perigoso para controlar o sistema criado pelos não-sonhadores.» Harry, personagem de Deixa o Grande Mundo Girar, romance do irlandês Colum McCann, tornou-o quotidianamente acessível. «Harry tinha trabalhado à sua maneira para o sonho americano e chegou à conclusão de que era composto de um bom almoço e um intenso vinho tinto que poderia fazê-lo planar.» E Herman Melville elaborou-o, fez dele qualquer coisa mais ampla e íntima e chamou-lhe felicidade. «Não consigo identificar essa coisa que se chama felicidade, essa que tem como símbolo um riso, ou um sorriso, ou uma serenidade silenciosa no lábio. Posso ter sido feliz, mas agora não está na minha memória consciente. Nem sinto saudades dela uma vez que nunca a tive; o meu espírito procura um alimento diferente da felicidade, pois acho que tenho uma suspeita do que seja. Sofri de infelicidade, mas não pela ausência de felicidade, e sem rezar para a felicidade. Rezo pela paz — pela imobilidade — pelo sentimento de mim mesmo, como uma planta, absorvendo a vida sem a procurar, e existindo sem a sensação individual. Sinto que não pode haver paz perfeita no individualismo. Portanto (…) sinto que sou um exilado aqui. Eu ainda me vou desviar». Foi em Pierre or the Ambiguities.
O sonho americano assenta noutro dos mitos fundadores da América, o individualismo. Se o sonho falha, é porque o indivíduo falha. E todo o sistema político americano está assentado na glorificação do indivíduo que, no entanto, não o ensina a lidar com o erro. Quando Barack Obama, por exemplo, disse que a América é suficientemente grande para abarcar os sonhos de todos os americanos, estava a falar de um país grande e rico onde isso é possível. Mas onde isso não existe, de facto. Falava do sonho.
Na realidade, muitos sentem-se longe. A lonjura de que Talkeetna pode ser aqui metáfora.
Grande parte dos que se sentem excluídos ou não vota ou vota contra o sistema. Foi o argumento que mais ouvi entre apoiantes de Bernie Sanders, o independente que tentou derrotar Hillary Clinton na Convenção Democrata de Filadélfia, e os de Donald Trump, o também independente que acabou por ganhar a Convenção Republicana em Cleveland. No final, a luta seria entre Clinton e Trump. E qual deles estava mais afastado do tal sistema político? «Vou votar contra esta América em que uns trabalham e outros recebem», afirmava Bruce, um operário da construção civil a trabalhar nas estradas que se alargam entre Anchorage, a maior cidade do Alasca, e Talkeetna, e por onde passam muito poucos carros. Bruce não revelou nomes, nem mais razões. O seu silêncio era o de muitos.
Um dos meus companheiros de viagem — em e-book, para aliviar o peso — foi Walt Whitman and America. Os poemas do grande bardo sempre me ajudaram a situar-me naquele continente povoado de gente de todos os continentes, e a biografia assinada por David S. Reynolds dava-me outra ajuda: o homem no seu tempo e a sua tentativa de compreender aquela geografia física e humana. Em meados do século XIX, Whitman tinha ideias precisas acerca daquele que já se chamava o «problema da América». Escreve Reynolds, citando, pontualmente, o poeta: «Para Whitman, o problema americano era muito mais profundo do que a explosão migratória do poder escravo do sul. A corrupção na América não foi superficial nem facilmente removida. Está, escreveu ele, ‘no seu sangue’. O seu desgosto com o processo político era mais profundo do que o de qualquer outro comentador dos anos cinquenta.»
O que encontrei nos discursos de quem acha que a classe média está estrangulada, que os ricos estão cada vez mais ricos, que nada explica o fosso entre quem vive muito bem e quem vive muito mal no país mais rico do mundo, ou seja, gente à esquerda e à direita, foi esse desgosto com os políticos. Isto quando há opinião política ou quando ela é manifestada.
A abstenção é grande e raramente medida. Mais de 40 por cento não vota. Pelo menos. Nem consome informação além da que é despejada em programas da manhã de escândalo local. Os maiores — e muitas vezes também os melhores — programas de informação são os de comediantes nos canais por cabo. John Stewart saiu mas deixou gente à altura. Trevor Noah, Stephen Colbert, John Oliver, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel traduzem um país. A quem lá vive e a quem vem de fora, como eu. Esse processo de tradução senti-o como permanente. Em viagem, eu estava sempre a traduzir não uma língua, mas a complexidade de um lugar em todas as suas nuances linguísticas e perceber que palavras como negro, bitch, rich, fuck ou fucked up carregam uma história que a tradução à letra ou a fala de rua ou a melhor literatura não é capaz de captar. Em viagem, eu era — assim me sentia — uma tradutora incompetente a ganhar cada vez mais competências e, com elas, a ficar consciente da sua estranheza. O espanto nunca me deixou, e ele faz parte da minha identidade enquanto pessoa que caminha pela América.
Espanto e tradução. Apetece-me sublinhar estas duas ideias como companheiras desta jornada. Nunca se sabe o que se vai encontrar na viagem, escreveu mais ou menos assim o americano James Baldwin. No final de Fevereiro de 2016, saí de Lisboa com a missão de percorrer os Estados Unidos a partir da sua literatura. Elegera 16 romances de partida para 12 reportagens. Uma por mês durante um ano, no jornal Público. Três delas tinham dois títulos como referência em vez de apenas um. A proposta era fixar-me nesse espaço entre ficção e realidade para falar de um país num momento de mudança. No resto, seria guiada pelo acaso. Andei a pé, de carro, avião, autocarro, comboio. Trabalhei a partir de todos esses lugares como se estivesse em minha casa em Lisboa. Viajava, mas havia uma rotina que era preciso cumprir a milhares de quilómetros de distância e que me lembrava que estar ali era quase como se nada fosse. A diferença era que vivia em vários fusos horários e os meus dias eram longos, muito longos, com diversas realidades a intrometerem-se. Estes textos e o olhar que eles revelam resultam dessa vivência. Perguntava-me tantas vezes: como será quando isto acabar? A viagem está feita, ainda não sei.
Lembro-me outra vez de Baldwin. Antes da viagem não sabemos o que vamos encontrar. E depois dela, como nos situamos? Antes de sair de Nova Iorque, no início de Março de 2016, a sensualidade subjacente à incerteza acompanhava-me, mas eu estava muito longe de saber onde ela me levaria, concretamente, um ano depois: a um país mais dividido do que nunca, comandado por um homem que poucos entre os líderes de opinião, os intelectuais, jornalistas, pensadores, as elites (por mais que este termo seja questionado) levavam a sério. O homem com menos experiência política na história da política americana é agora o presidente de um país que mostrava que muitas das feridas que o formaram continuam abertas e a causar dor. Whitman ecoa.
A primeira pergunta que muitas dessas pessoas — as ditas intérpretes da realidade, ou os comentadores, para usar a expressão do poeta — fizeram no dia 9 de Novembro, o dia seguinte às eleições, foi «Porquê?» A formulação contém, em si mesma, uma série de pressupostos. O mais óbvio é que o crescimento económico do país nos anos de Obama não foi suficiente para apagar medos. Do terrorismo, da imigração ilegal, dos refugiados que simbolizavam duas ameaças: desemprego e terror. Sobretudo, terror. A América olhava com medo o que acontecia na Europa, associando a onda de refugiados à onda de terrorismo. Outra pergunta surgiu: foi este o legado de Obama?
De Norte a Sul, de Este a Oeste, conservadores ou liberais, quando sabiam que eu era europeia, perguntavam-me «e os refugiados?» Era uma inquietação generalizada. Continha, no entanto, diferentes perspectivas em relação ao drama. Uma das pessoas que me questionou lembrou-me do poema de W.H. Auden, Refugee Blues. «Once we had a country and we thought it fair, / Look in the atlas and you’ll find it there: / We cannot go there now, my dear, we cannot go there now.» Era uma mulher de uns sessenta anos. Estava numa livraria de S. Francisco a folhear um livro de José Saramago e a conversa começou por aí. «É portuguesa?» A curiosidade sobre os refugiados e o poema vieram depois, quando me quis sublinhar um tempo que ressurge.
Auden escreveu o poema em 1939. Quase oitenta anos depois, a História voltava a actualizá-lo, e a América — sintetizo o nome do país assim, perdoem-me os puristas — tem medo, e esse medo parece capaz de apagar dados objectivos. Os das estatísticas que um dia, mais tarde, a história poderá contextualizar, mas que agora parecem mais positivos do que negativos; ainda que carregados das contradições reveladoras da tal ferida base. Nos oitos anos entre a entrada de Barack Obama na Casa Branca e o início da Administração Trump, a taxa de desemprego desceu de 7,8 para 4,7 por cento; o PIB cresceu de números negativos em 2009 para 1,7; o rendimento médio das famílias aumentou, mas a pobreza passou a afectar 13,5 por cento da população em vez dos 13,2 por cento de 2009. O nível salarial das mulheres aproximou-se do dos homens, mas a desigualdade económica cresceu. Ou seja, entre 2009 e 2015, aumentou o fosso entre ricos e pobres.
A força laboral diminuiu, com parte da geração dos babyboomers a reformar-se. O crime violento desceu, entraram mais refugiados — o número de deslocados de guerra de países de África e do Médio Oriente subiu —, mas diminuiu a imigração ilegal. Mais famílias tiveram acesso a seguro de saúde e o preço com a saúde pesou mais no PIB. Foram restabelecidas as relações diplomáticas com a China. As emissões de CO2 desceram, mas 2016 foi o ano mais quente nos Estados Unidos desde que há registo de temperaturas, isto é, desde 1880. O consumo de tabaco desceu, mas a obesidade aumentou e as mortes por overdose dispararam: de 36 455 em 2008 para 52 404 em 2015. Devido ao consumo de heroína, mas sobretudo de opiáceos. Chamam-lhe a crise do ópio da América. «O vício em opiáceos é a epidemia em 50 estados dos EUA. Ele percorre estradas interestaduais sob a forma de heroína de contrabando barata, e sai de clínicas de tratamento da dor de onde os comprimidos são distribuídos como doces. Tem devastado as cidades da Nova Inglaterra, onde pessoas entram em overdose nos corredores de lojas de dólar, e tem devastado o país de carvão, onde os viciados fazem marcações urgentes no único médico da cidade autorizado a prescrever medicamentos,» lia-se numa reportagem do New York Times de Janeiro de 2016.
Três meses depois, Prince morreria assim, mas também assim morrem os rapazes e raparigas de Knockemstiff, no interior do Ohio, ou os índios das reservas um pouco por todo o país. Basta andar pelas ruas de grandes cidades ou pequenas povoações rurais. A droga está à vista, sobretudo nos lugares pobres do interior, como nunca esteve antes. Sam, o dono de uma cervejaria em Columbus, disse-me que na terra dele, uma vila a uns 30 quilómetros, todas as semanas se ouviam notícias de mortes por overdose. Donald Ray Pollock, o escritor de Knockemstiff, contou-me que três primos dele morreram recentemente de overdose. Sam anseia por alguém que ponha ordem neste mundo, alguém como Donald Trump. Donald, o escritor, esperava que alguém tratasse seriamente o assunto, tratasse do desemprego, do esquecimento, da falta de formação e ambição que parece ter tomado conta de uma ou duas ou mais gerações do interior; que encarasse a droga e o álcool como flagelos sociais e casos de saúde. Não via que Trump pudesse fazer nada disso. Isto foi antes das eleições, em Abril de 2016.
Sam e Donald não estão muito longe um do outro e simbolicamente escolho-os. São mais ou menos do mesmo lugar, mais ou menos da mesma idade, mas a América que um deseja é o oposto da que o outro gostaria de ter. Dois sonhos opostos que não são passíveis de coexistir ao mesmo tempo na mesma geografia. Partilham, contudo, um ponto: gostavam de não ver «os miúdos» morrer a consumir droga.
Não contei estas histórias nos textos que estão neste livro. Há muitas coisas que não couberam aqui. Caras, gargalhadas, canções, o choro de alguém, discussões, gritaria, a dança dos rapazes na avenida mais larga de Nova Iorque.
Uma mulher que atravessa a rua de trotineta e tailleur; os três homens que todos os dias andam de comboio vestidos de mulheres como se saíssem de um filme dos anos cinquenta passado nos subúrbios bem comportados; os que empurram carros de supermercado cheios de tralha; os que se deixam cair abraçados, numa trip de qualquer coisa que só os faz rir e perder noção do corpo. Tantos potenciais romances sobre a América em cada um deles.
Os que estão aqui, nas próximas páginas, são uma escolha e exemplificativa, penso, da tal complexidade do país que, como me dizia outro escritor, nasceu e se moldou em dois grandes males: o massacre dos índios e a escravatura. Nos dois casos esteve presente a violência de que a América nunca se conseguiu livrar, como se fizesse parte do seu ADN.
A viagem foi longa e variada. Levou-me a uma América que se quer erguer e limpar estes males, e outra que quer manter-se fiel à sua génese onde entra, muito arreigada, a fé e não necessariamente num Deus. Há uma terceira que acha possível querer tudo isto. Há a fé em que um homem seja capaz de trazer uma prosperidade que foi verdade nos anos 50 mas não é mais possível porque o mundo é outro. Muitos dos que votaram Trump têm essa fé, como acreditam que o tabaco não mata, ou que o aquecimento global é uma invenção dos cientistas. Depois, entre eles, há os que acolhem refugiados, os que saem à rua em defesa de direitos básicos, os que têm uma energia como não se vê noutros lugares do mundo. A grandeza da América parece ser essa: uma tremenda capacidade de se reinventar, de dar a volta, de acolher a diferença em cidades como Nova Iorque, em todas as cidades-santuário ou mesmo em lugares perdidos do interior, que aparece como uma espécie de bode expiatório do todos os males da América. Nada é tão simples. Nada é só isso. Há realidades que vivem na mesma rua da mesma cidade e nunca se cruzam, porque uma e outra se recusam a olhar de frente. Vi esse olhar acontecer no dia seguinte à vitória de Donald Trump. À procura de culpados, de consolo, de explicação, de tudo o que o outro, na forma de diferença, podia ajudar a obter respostas.
Lembro uma fotografia muito recente de John Freeman, o conhecido ex-editor da Granta e actual director da Freeman’s. Mãos de todas as cores e idades a apoiarem-se no mesmo pilar de uma carruagem de metro em Nova Iorque.
Publicou-a nas redes sociais dizendo que era por isso que amava Nova Iorque, a cidade da multidão, como lhe chamou Walt Whitman, o lugar de todos os povos que chegavam à América atrás do sonho de uma vida melhor. É um sonho humano e global, disse-me outro escritor, Richard Ford. Um sonho americano e do mundo inteiro.
Foi a literatura que me fez começar esta viagem e a partir dela tentar perceber mais sobre um país com o qual cresci, porque era com ele que inevitavelmente se crescia no Ocidente nos anos oitenta ou noventa. A amar muitos dos seus escritores, da sua música, do seu cinema, da sua arte, dos seus ideais de liberdade, possibilidade, aceitação da diferença, irreverência, energia criativa. Nos livros e no cinema, parecia vir tudo. Isto e o seu contrário. O dinheiro, a ganância, a violência, o culto do sucesso e da excepcionalidade, um patriotismo exacerbado, a pobreza enquanto sinal de fracasso. A viagem levou-me a tudo isso e ao confronto com os meus próprios preconceitos: o primeiro, o de achar que conhecia o país e que, por exemplo, o racismo só tinha de estar ultrapassado. Que sabia eu das marcas que ficaram para sempre? Veja-se o documentário acerca de James Baldwin, I am Not Your Negro, da autoria de Raoul Peck. Ou atente-se mais uma vez às ruas, onde se assiste tanto à culpa branca como à noção de muitos negros de que nunca nada pode apagar — ou pagar — o pecado original que os levou à América. Toni Morrison, autora Nobel da Literatura, passou a vida a escrever sobre isso. Está tudo na literatura, daí esta viagem ser a partir de livros que levam a outros livros, porque não existem bons livros nem bons homens sem contágio.
Essa ideia de bem atingiu-me de forma comovente algumas vezes. Sozinhos, estamos inevitavelmente nas mãos no outro, do estranho. Pode correr mal. Pode correr mal, sim, mas se se sobreviver haverá sempre uma história. Pode correr bem, e então é outra coisa. À chegada a Columbus, capital do Ohio, o escritor com que iria passar aquele dia estava sentado na primeira fila da sala de espera e segurava em cada uma das mãos uma folha A4 branca com letras desenhadas a preto: ISABEL LUCAS. Quando me dirigi a ele, um sorriso que fez apagou o olhar melancólico. «Bem-vinda, fez boa viagem?». Não tardaria a perceber que Donald Ray Pollock achava mesmo que eu não o reconheceria. Volto a ele porque me fui lembrando muito dele. Entrevistara-o dois anos antes, tinha lido os seus livros, recomendei-o como escritor de excepção. Mas ele vê-se como um homem desconhecido do Midwest, da vila onde nasceu e onde sempre viveu. Ele tinha feito mais de uma hora de carro para me ir buscar e não admitia que eu pudesse voltar de outra forma. Enquanto eu ia falando com ele, ele fazia-me perguntas, muitas perguntas, curioso sobre mim e o mundo de onde eu viera. Portugal, a Europa, mas sobretudo os outros lugares dos Estados Unidos e as pessoas com quem eu falara.
Na sua timidez, foi o rosto mais caloroso desta viagem. Não esqueço como falou dos escritores que admira, confessando o pudor em chegar à fala com muitos deles quando os encontrava em festivais de literatura um pouco por todo o mundo. Comporta-se como o rapaz do interior do Ohio, de vida difícil, que começou a ler compulsivamente, ao mesmo tempo que tentava sair da dependência do álcool, decidindo pouco depois, aos 50 anos, que iria aprender a escrever e deixar o emprego de sempre numa fábrica de papel. Pela primeira vez, nessa viagem de carro, na conversa pelo caminho, tive a sensação de estar no interior da América e no que isso representa de visão do mundo. Foi em Abril de 2016.
Nevava. A mulher de Donald, Patsy, tinha feito café. Da janela víamos o cemitério em frente de casa ficar branco e as pedras das sepulturas, num alinhamento irregular delimitadas por caminhos como um jardim, cada vez menos distintas através do filtro que vinha do céu. «Todos os dias costumo passear ali o meu cão», dizia-me. Ao lado fica a igreja Baptista onde Patsy vai aos domingos e, logo ali, o centro comunitário onde uma vez por semana se reúne num clube de leitura. Às sextas-feiras à noite costumam ir jantar fora com amigos, na baixa da vila. No resto do tempo, Donald lê, escreve e cuida do jardim.
O lado negro da sua vida vem na literatura que faz, onde narra um Ohio absolutamente sem Deus. Ele é central num destes textos. Também por causa dos homens abandonados a uma natureza que parece apenas suportá-los. «Os meus editores não me levam muito a Nova Iorque. Dizem-me que por lá não entendem o que escrevo. Não vive lá o meu público natural, seja lá isso o que for.» Sair de Nova Iorque e entrar em Knockemstiff no mesmo dia é passar do extremo do mundo cosmopolita ao extremo do universo rural. Quem vive num sítio e quem nunca saiu do outro são estranhos no mesmo país.
Há uma frase que pode sintetizar o maior fosso entre o rural e o cosmopolita e que pressupõe a admiração do primeiro em relação ao segundo. O americano foi cumprindo o seu sonho de conquista a Oeste, mas é como se isso lhe tivesse trazido o isolamento. O eremita fica grato, o que não gosta do confronto com a diferença sossega, mas o que deseja ver o novo, saber do que é novo, mergulhar na multidão e perder-se nela, nem que seja por pouco tempo, tem de regressar a Leste. É a Leste que está a cidade símbolo dessa diversidade, a grande metrópole. A frase está estampada em T-shirts, é capa de agendas: «tu amas Nova Iorque, mas já te perguntaste se Nova Iorque te ama a ti?» É uma frase de americanos para americanos. Há nela muitos mundos, que estão no mesmo território mas parecem irreconciliáveis. A cidade que atrai e expulsa. Os que a olham como se fosse sua e os que nunca lá foram nem querem ir. Pela estranheza.
Um país estranha-se a si mesmo e isso sempre foi assim. Há sempre gente nova a chegar, a identidade vai-se ajustando. Está na literatura, está também entre duas pessoas que partilham o mesmo banco no metro, num comboio, num avião. Várias Américas coexistem sem se tocarem. E nem é preciso saber do Alasca, ser do Alasca, o estado que não tem fronteira contígua com o restante território, o menos habitado, o mais inóspito. Ir ao Alasca foi sentir que no Alasca não se é nem mais nem menos americano, nem mais nem menos estranho.
Está-se mais longe do tal centro, ou da grande cidade que muitos desejam, como um sonho, como fazendo parte do sonho. Foi a experiência mais evidente da vastidão do país e de como ele lida com o estranho, o diferente. A palavra não sai de um bloco de notas imaginário. Estranheza. Estranha evidência, talvez a mais óbvia, de um ano em viagem pelos Estados Unidos. Justamente o ano em que essa diferença se materializou num presidente que representa a divisão. Quando na manhã do dia seguinte à eleição de Trump muitos nova-iorquinos, quase envergonhados, olhavam uns para os outros, havia no seu olhar a tentativa de consolo, mas também a interrogação acerca do outro que não se conhece. «Foste tu?» Não sei como se olharam em Knockemstiff ou em Talkeetna. Sei que Donald Ray Pollock, o escritor que ainda antes das Primárias disse que votaria Sanders, embora não acreditasse que ele fosse o candidato escolhido pelos democratas, não estranhou. Isso não o impediu de ficar «muito triste», como me confessaria mais tarde. Passou um ano desde essa primeira conversa; escrevo este texto quando Donald Trump tem 100 dias de presidente e já se apresentaram todos os argumentos para explicar esse facto. Trump é presidente dos Estados Unidos da América. Em 2008, Simon Schama, escritor, professor de História e de História de Arte na Universidade de Columbia, dizia em O Futuro da América 1: «… era certo e sabido que as eleições de 2008 iriam ser fatídicas para o rumo político dos Estados Unidos da América e, portanto, de grande parte do resto do mundo.»
A guerra, o buraco fiscal, o consumo de droga do Midwest que se tornou um drama social, os efeitos do furacão Katrina que deram ao país a imagem de uma realidade de Terceiro Mundo, desgastaram os Republicanos, que conseguiram apesar de tudo reforçar-se no Congresso nas eleições intercalares. Obama ia ganhar. Ganhou, apesar de pela primeira vez a oposição acenar com um argumento que veio a ser decisivo oito anos depois: os efeitos da imigração ilegal.
Escrevo isto e penso que tudo já foi dito. São impressões. Cada livro, cada rosto, cada conversa ou frase ou emoção leva-me a uma imagem. Na minha cabeça é como se houvesse um longo documentário, a começar com o ruído de um comboio na noite e a sua silhueta veloz a passar pelas traseiras de uma cidade. Talvez chovesse; havia no mínimo uma abruma, ou pó. Nessa passagem do comboio há qualquer coisa de intangível. Uma essência que parece estar mesmo ali, perto da mão, e se revela incorpórea, fugaz. Não a agarrei, mas persegui-la era irresistível.
O que é a América para mim depois de percorridos 97 mil quilómetros do seu território num só ano? A confirmação de que qualquer resposta será incompleta e que a literatura — ou o romance — em toda a sua diversidade, ambiguidade e singularidade, é talvez o melhor meio para chegar perto, o mais perto que se consegue desse som que só se escuta ao longe, à noite, o comboio a atravessar uma planície ou as traseiras das ruas que ninguém vê.
A série de reportagens a América pelos livros pode ser lida aqui




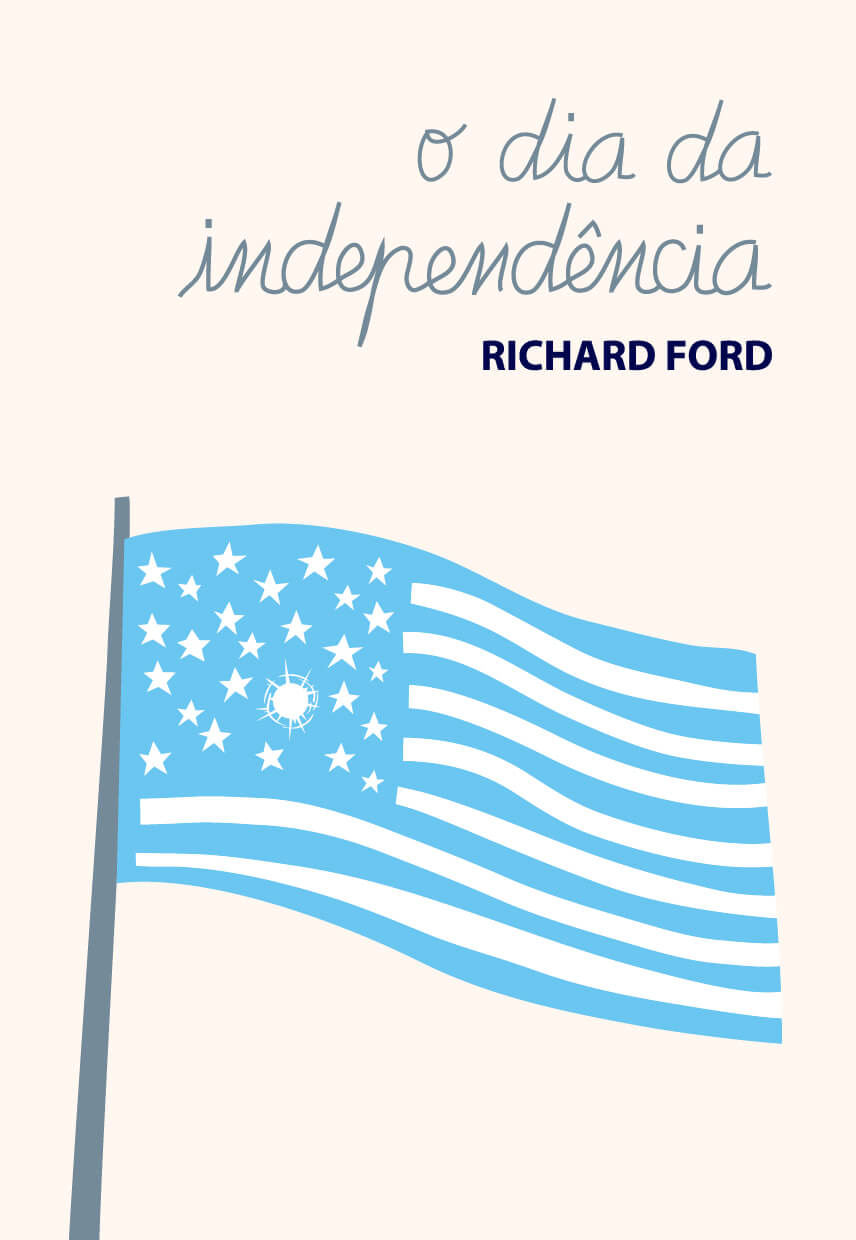

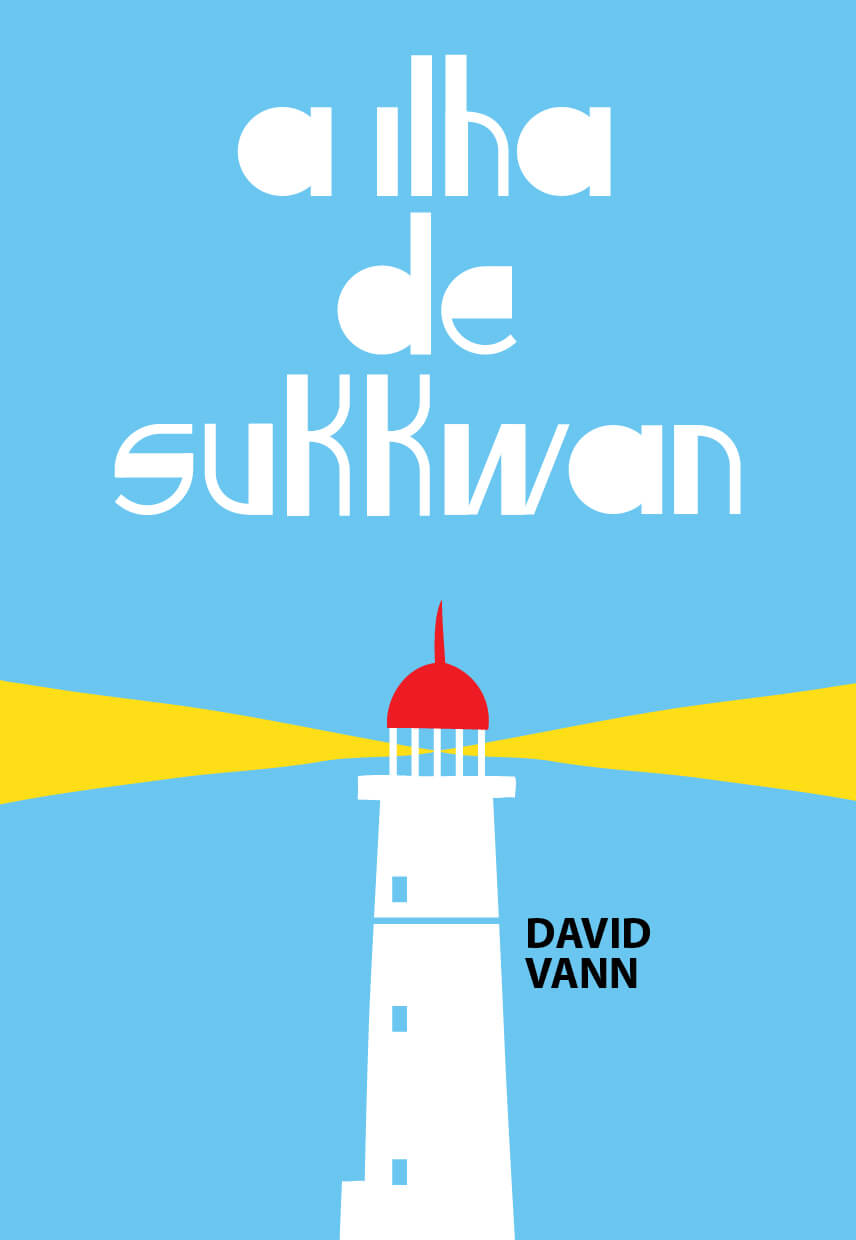
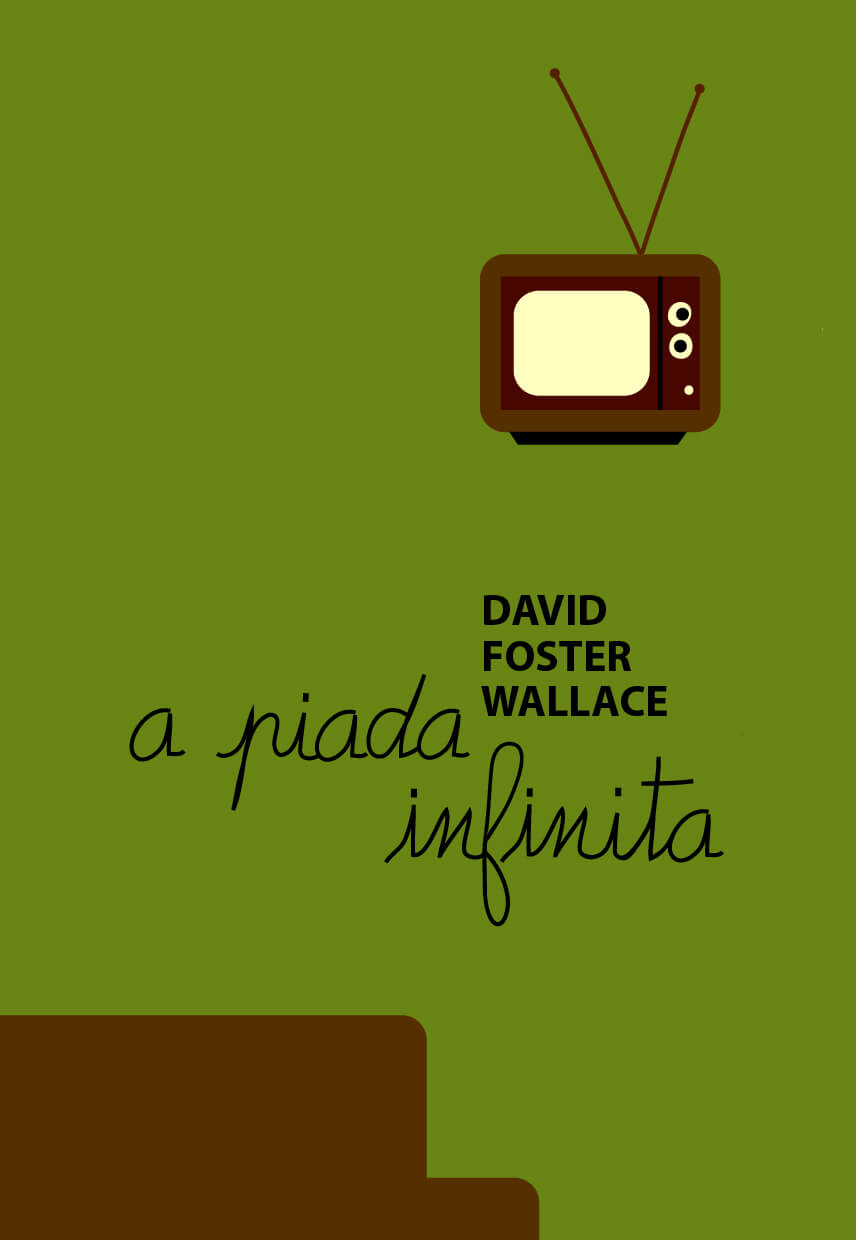


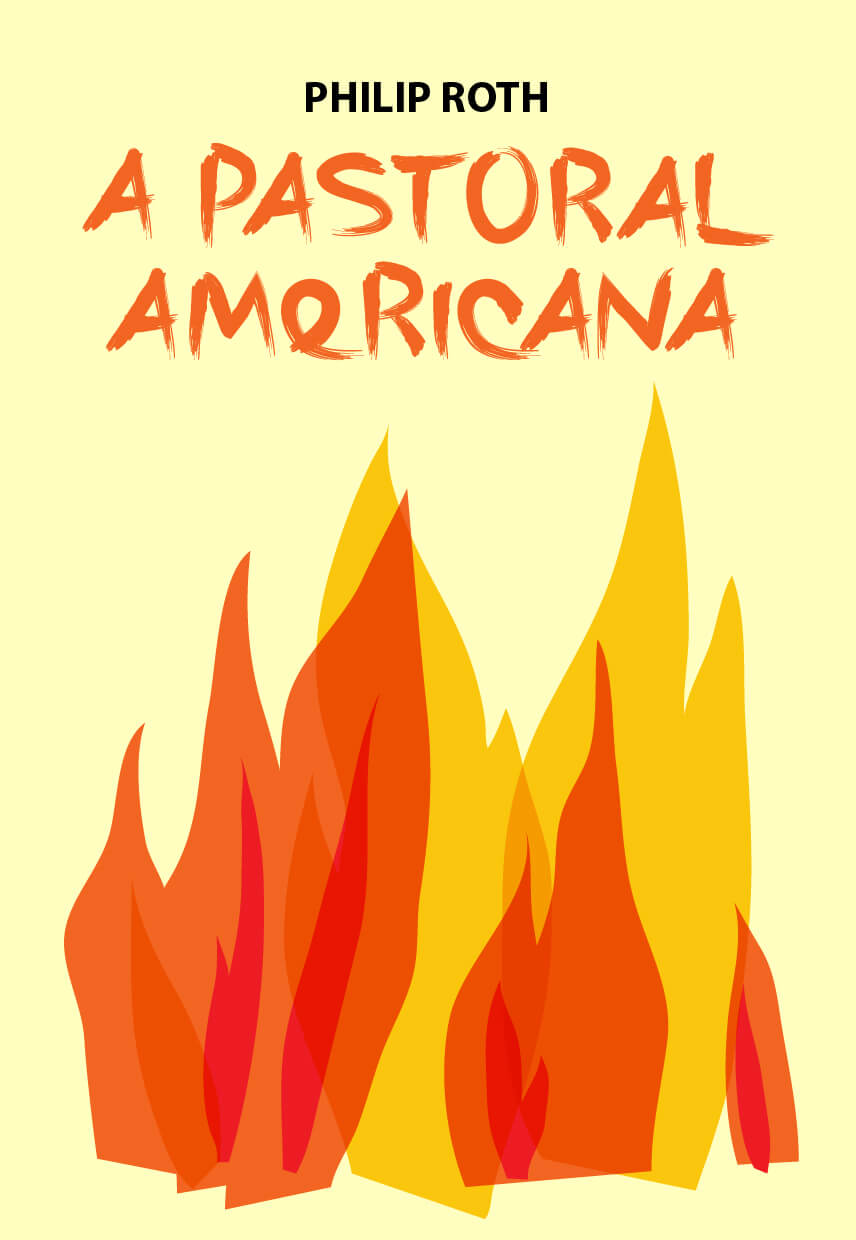
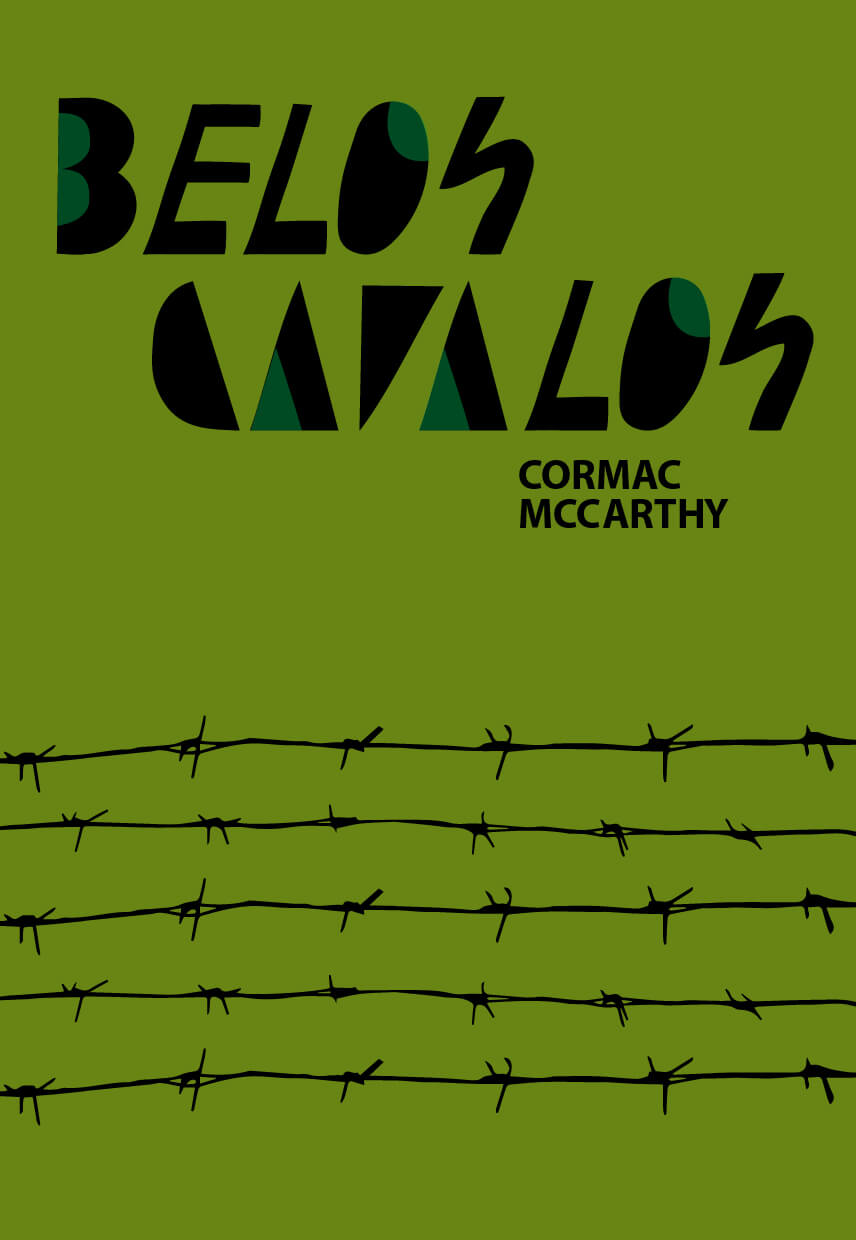
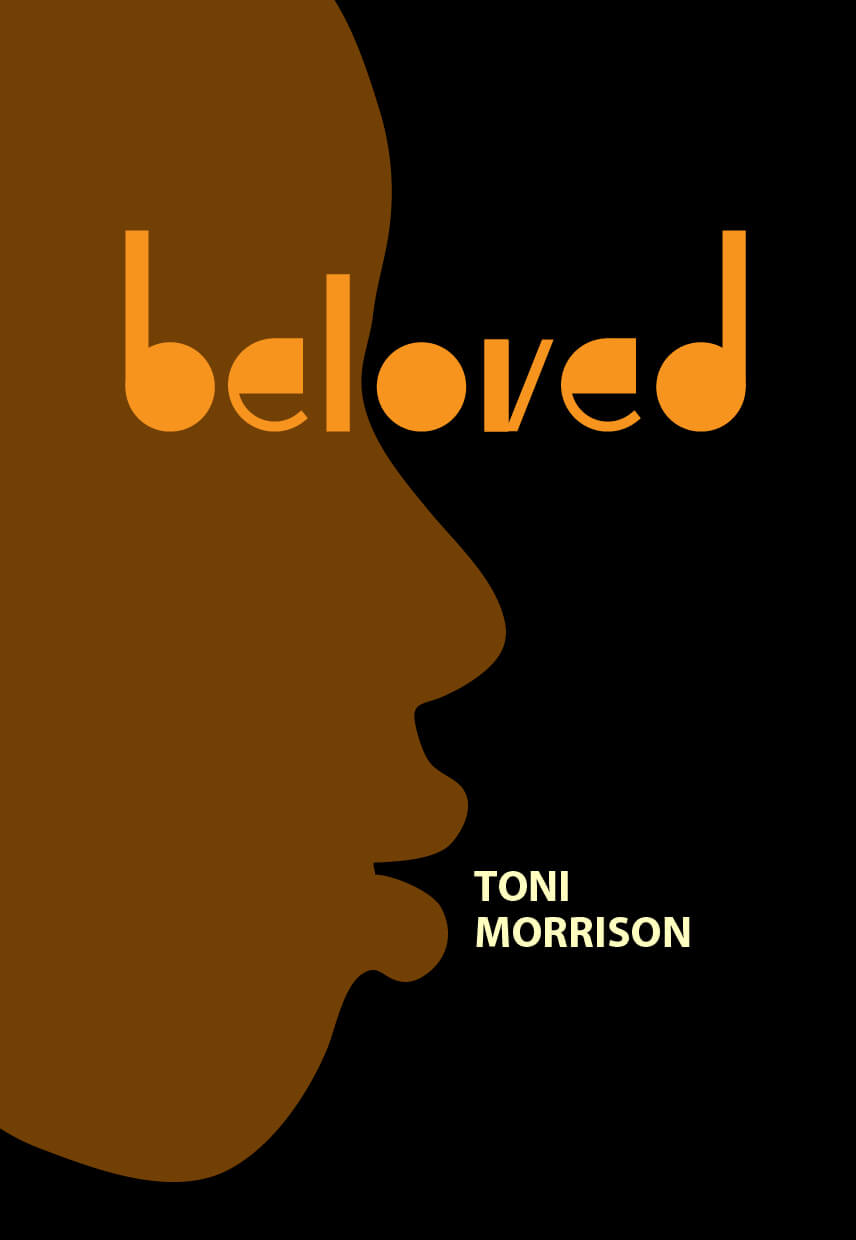
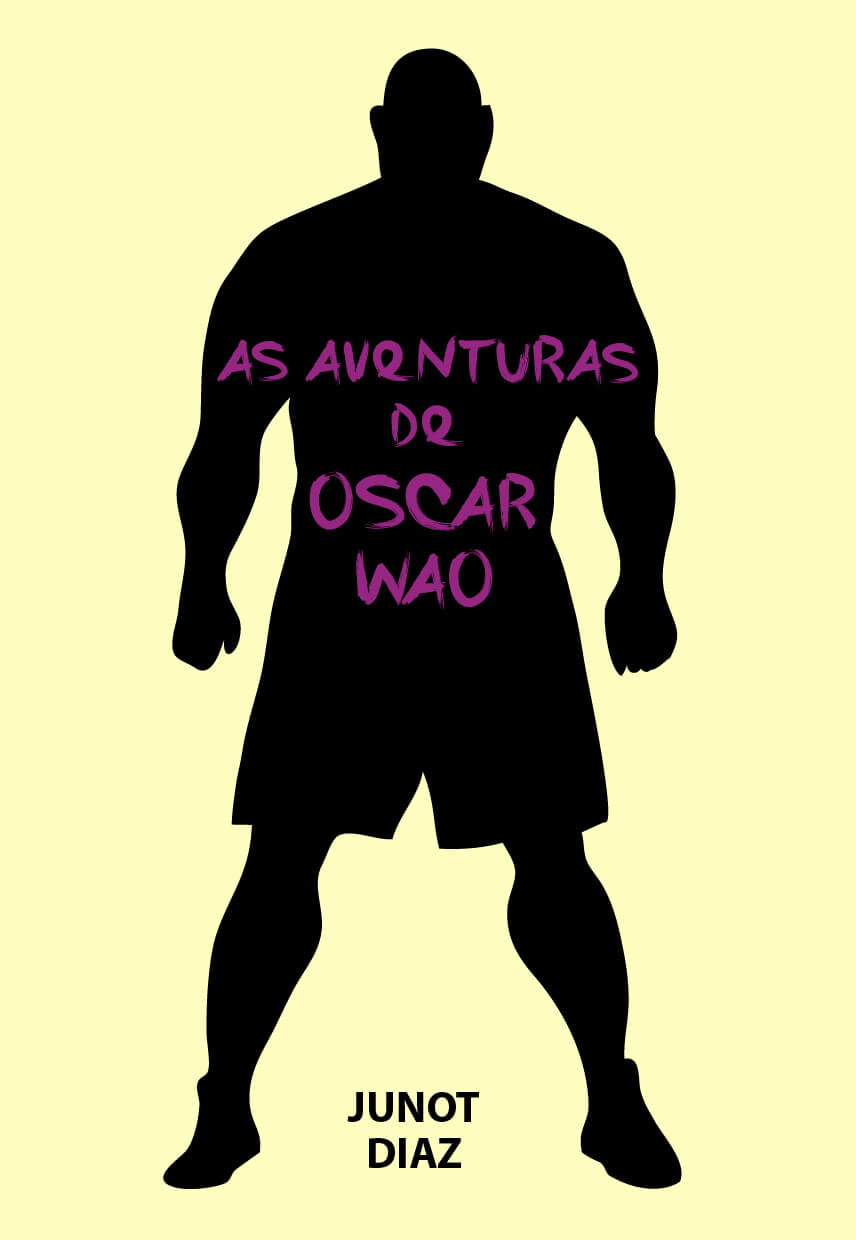



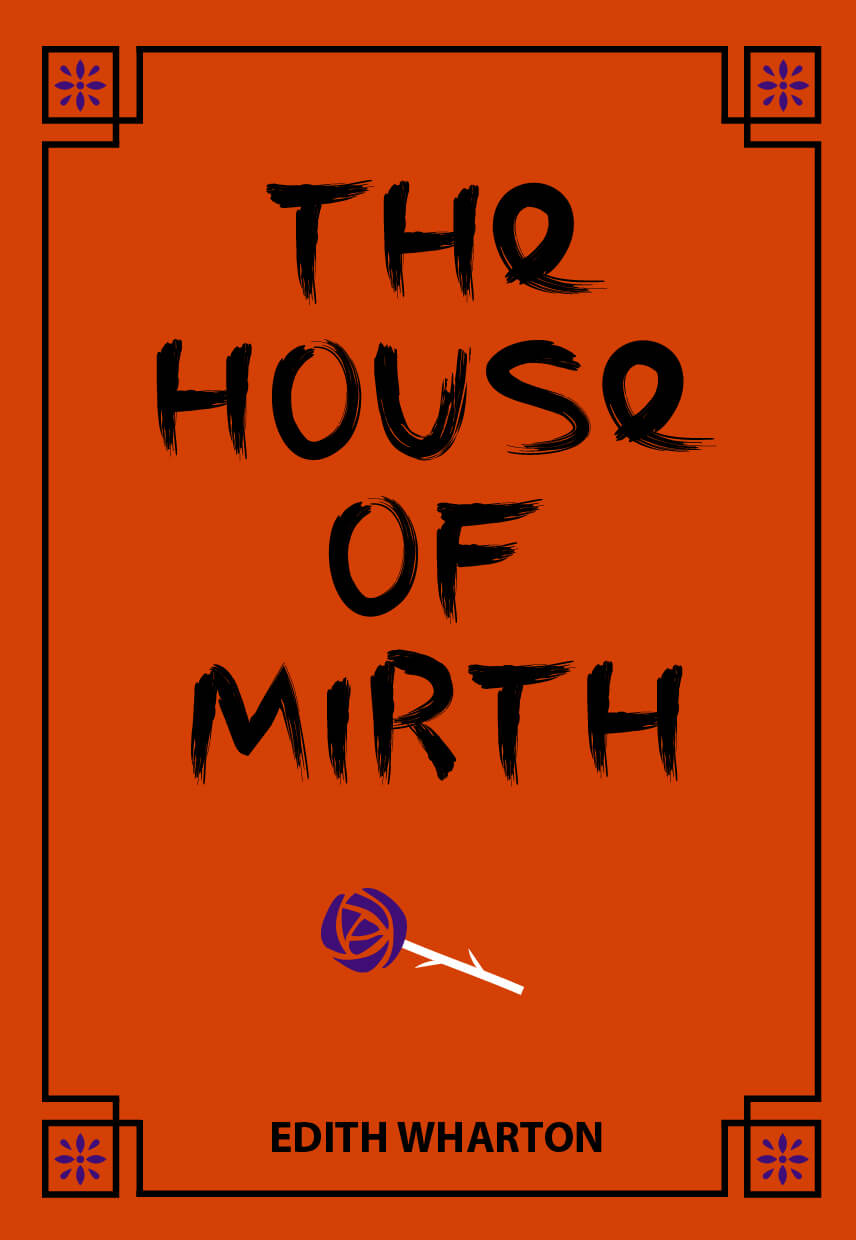



Comentários