Talvez seja preciso chegar com frio a New Bedford para perceber a urgência de Ismael em encontrar abrigo quando descobriu que tinha perdido o barco para a ilha de Nantucket, de onde queria sair para caçar baleias. “Chamem-me Ismael. Há alguns anos — não interessa quando — achando-me com pouco dinheiro na carteira, e sem qualquer interesse particular que me prendesse à terra firme, apeteceu-me voltar a navegar e tornar a ver o mundo das águas. É uma maneira que eu tenho de afugentar o tédio e de normalizar a circulação.” Era Dezembro de um ano impreciso nesse início de Moby Dick, o romance que imortalizou Herman Melville, mas que quando foi publicado, em 1851, teve a rejeição da crítica, em parte por desafiar as convenções da época sobre o que era um romance, e por ficção e real se relacionarem nele sem fronteiras bem definidas.
Agora é dia 1 de Abril de 2016, chove uma chuva tão miúda que pode ser confundida com uma forte neblina. Com o vento, ela gela os ossos. Ao contrário do que acontece em muitas cidades norte-americanas não se vêem por ali cartazes dos candidatos republicanos e democratas apesar de o ano anunciar, independentemente do resultado, mudanças históricas na política do país. Junto à estação de autocarros, homens de rosto marcado fumam cigarros, há quem peça trocos, alguns estão simplesmente encostados às paredes, mãos nos bolsos, olhar sem curiosidade. Um deles canta muito baixinho, simulando ter um rádio colado ao ouvido. Para quem chega de Nova Iorque, a sensação é a de uma travagem brusca.
De Manhattan a New Bedford — o percurso feito por Ismael no início do livro de Melville — são 335 quilómetros. De carro, sem trânsito, percorrem-se em menos de quatro horas, seguindo pela I-95, estrada sempre junto à costa, que ganha um encanto especial no Outono, com a exuberante paleta de cores das copas das árvores, entre o vermelho e o castanho, num contraste com o azul do oceano, das baías e dos lagos e lagoas por onde passa, cruzando os estados de Nova Iorque, Connecticut e Rhode Island até chegar ao Massachusetts. De transportes — comboio e autocarro — pode demorar o dobro do tempo, dependendo das ligações via Providence ou Boston. É um território conhecido como Nova Inglaterra, designação não oficial, para se referir ao nordeste dos Estados Unidos e que inclui, além dos estados já referidos, New Hampshire, Maine e Vermont.
Boston é o centro económico e cultural desta região com quase 15 milhões de habitantes. A cidade, hoje com menos de cem mil habitantes (Census de 2010) parece ficar no fim de todas as estradas, quando se chega ao oceano. E depois há uma ilha, Nantucket, o lugar onde Ismael entrou no Pequod em direcção ao cabo Horn, na ponta mais a sul do continente americano, junto à Antárctida, e conheceu o capitão Ahab. “Nantucket! Observem-na no mapa. Vejam o lugar que ela ocupa no mundo; como se encontra ali, afastada do continente e mais isolada que o farol de Eddystone [junto da Cornualha, Inglaterra]. Reparem — não passa de uma colinazinha e de um cotovelo de areia; tudo praia, sem terras interiores”, lê-se no 14.º capítulo de Moby Dick. E é natural que se procure a ilha numa primeira chegada a New Bedford. Não está à vista. A cidade não está voltada para o mar, mas para o rio do qual se vê outra cidade, Fairhaven. Para isso, no entanto, é preciso chegar ao porto, atravessar uma via rápida e um caminho-de-ferro por onde não parecem andar comboios há muito tempo. O último comboio de passageiros passou em 1959. Desde então a linha é exclusiva para carga, e o projecto, no valor de 800 mil dólares, para reactivar o tráfego doméstico está parado à espera de investimento. À primeira impressão, com o perigo que ela implica, esta parece ser, aliás, uma cidade à espera.
Passaram dez, vinte minutos a pé desde a estação de autocarros. No percurso, é raro ver alguém. Um grupo de rapazes com os capuzes das camisolas na cabeça, um velho solitário a atravessar uma passadeira de bengala, duas raparigas a caminho do liceu, alguém que conta moedas para o parquímetro, o sino de uma das igrejas a assinalar meio dia. Pleasant Street, Chestnut, Purchase, nomes de ruas replicados em cada cidade e vila dos Estados Unidos. Passa um homem de cabelo laranja comprido, meio frisado, com um fato lilás muitos números acima do seu. Vai curvado, sem pressa, a empurrar um carro de compras no pavimento de lajes vermelhas, mais brilhante com a chuva. Podia ser uma miragem. É pelo menos um contraste na paisagem cinzenta de uma rua central com leve cheiro a maresia e gritos de gaivotas. Ocorre uma passagem de Moby Dick sobre New Bedford: “Em todos os portos de mar importantes, as ruas que se dirigem para as docas oferecem à vista estranhos exemplares de criaturas provenientes de mundos remotos. (…) Mas New Bedford bate todos os recordes, incluindo os de Wall Street e de Wapping. Nestes últimos dois lugares, o que se vê são marinheiros; mas em New Bedford encontram-se canibais autênticos, a conversar nas esquinas das ruas; selvagens sem tirar nem pôr, muitos dos quais carregam ainda sobre os ossos uma camada de carne pagã. O aspecto da cidade é dos mais extraordinários!” Em contrate com os homens do mar, havia os da terra. “Desaguam semanalmente na cidade grupos de campónios de Vermont e de New Hampshire, sedentos dos ganhos e das glórias das pescarias. Em geral são jovens e bem constituídos; tipos que depois de abaterem florestas inteiras pretendem trocar o machado pelo arpão.” Pouco depois, como que conclui: “Se não fôssemos nós, os baleeiros, este pedaço de terra teria permanecido tão desolado como o litoral do Labrador.”
Estamos junto ao estuário do rio Acushnet. Há muitas décadas era ali que chegavam e de onde partiam os baleeiros que fizeram daquele porto um dos mais ricos e movimentados do país. Com Boston, a costa sul da Califórnia, e Provincetown, ali perto, em Cape Code, era um dos grandes centros da pescada baleia. Está agora silencioso, com os barcos de pesca parados àquela hora do dia. Visto a uma pequena distância, parece uma pintura do pintor romântico inglês William Turner, mas com menos horizonte. O que nos levou ali? Moby Dick, um livro a partir do qual qualquer história pode começar a ser contada.
A história
A que o livro conta já foi inúmeras vezes resumida, adaptada, sempre simplificada face ao original. O capitão Ahab, “um pagão com qualquer coisa de divino”, como explica o comandante Peleg a Ismael, “homem acima da média”, dono da “mais certa e afiada e todas as lanças da nossa ilha”, impõe uma missão à sua tripulação: destruir a baleia branca, considerado o terror dos mares e a causa de um dia ter ficado sem uma perna. Ismael segue nesse barco com Queequeg, “um selvagem tatuado e de rosto hediondo” à primeira apreciação do próprio Ismael, “com qualquer coisa de simpático” no seu comportamento; “um George Washington canibalescamente desenvolvido”, originário de uma ilha no Pacífico de onde fugira num baleeiro, adiando o seu destino de rei de um povo, para ser chamado de “selvagem” e “pagão”, muito longe dali, em New Bedford, onde partilhou cama com Ismael na estalagem onde este se abrigou do frio. Ficaram “amigos íntimos”.
“Aqui estava um homem a cerca de vinte mil milhas da sua terra, pela rota do cabo Horn, no meio de gentes tão estranhas para ele com os habitantes do planeta Júpiter; e contudo parecia completamente à vontade, absolutamente sereno, bastando-se a si próprio e sem uniforme. Havia no comportamento de Queequeg um belo toque de filosofia, embora ele nunca tivesse ouvido falar de semelhante coisa. Mas para que nós, mortais, sejamos verdadeiramente filósofos, talvez seja indispensável viver e lutar sem consciência de que vivemos e lutamos. Portanto, quando um homem se apresenta como filósofo, concluo imediatamente que, como a velhota dispéptica, o sujeito deve ter ‘o aparelho digestivo avariado’.”
Publicado originalmente em três volumes, com o título The Whale (A Baleia), o livro foi proibido em Inglaterra, considerado ofensivo à moral política e religiosa, e um fiasco nos Estados Unidos, apesar de Melville, na década de cinquenta do século XIX, estar longe de ser um desconhecido. Só que a estrutura e complexidade do romance desafiavam as convenções e a crítica viu-o como uma história de aventuras de caça à baleia pouco mais do que desinteressante, baseada na experiência pessoal de Melville, que durante dois anos, com pouco mais de vinte, andou pelos mares do Sul em baleeiros, como simples marinheiro. As sobras foram tantas que a fogueira em que se queimaram foi uma das mais célebres da história da cidade de Nova Iorque.
“Quando o livro foi publicado, a caça a baleia já estava a decair”, refere George Monteiro. Professor emérito de literatura americana na Universidade de Brown, no Massachusetts, um dos fundadores e impulsionadores do ensino do Português nas universidades americanas, tradutor e estudioso de Fernando Pessoa, conhecedor de Jorge de Sena, José Rodrigues Miguéis, Camões, ensaísta, poeta. Ou um luso americano “nove anos mais novo do que Eduardo Lourenço", como ele diz, na sala de estar da sua casa em Windahm, no interior do Connecticut. A rede de telemóvel falha no percurso desde New London. Ali, chega- se de táxi ou de carro particular. O taxista hesita quando ouve a morada. “Não vou lá há uns três anos”, e estamos a uns 55 quilómetros. Regateia-se preço e ele aceita. “Sempre para e come uma pizza se for uma viagem de ida e volta.”
“Vim para aqui porque a minha mulher era professora numa cidade próxima e achei que era a uma distância razoável de Brown [em Providence, Rhode Island] para uma viagem de duas ou três vezes por semana”, conta George Monteiro. Nasceu em 1932, filho de pai e mãe portugueses que se conheceram na Nova Inglaterra. A mãe não tinha papéis e meses depois de ele nascer foi aconselhada a sair dos Estados Unidos para poder voltar sem problemas. Ele foi com ela para a Beira Baixa e foi lá que aprendeu a falar e viveu até ter um ano e meio. “Fui um exilado muito novo”, brinca, num português com o s sibilado. É a sua língua dos afectos mas não a do estudo, a da educação, que se fez em inglês. Estudou em Brown, depois em Columbia (Nova Iorque), voltou a Brown e esteve dois anos no Brasil, na Universidade de São Paulo, como bolseiro da Fundação Fulbright, a dar aulas de literatura americana. O que ensinou no primeiro semestre do ano lectivo de 1969/70? Um único livro: Moby Dick. “É um livro a partir do qual se pode ensinar tudo, um dos grandes livros da literatura mundial e, por sorte ou não, havia muitos exemplares na universidade”, conta, sobre esse tal romance que não é bem romance.
A metáfora
Moby Dick não é um romance. Mal é um livro. É mais um acto de transferência, de ideias e evocações presas na vasta e desconhecida forma de uma baleia, uma meditação prolongada no estranho encontro entre a história humana e a história natural. É, acima de tudo, uma criação sui generis que veio ao mundo como uma concepção não natural, imaculada”, escreve na revista New Yorker (Novembro de 2011), sobre a razão da sua paixão por Moby Dick, Philip Hoare, autor do brilhante livro Leviatã (Cavalo de Ferro, 2015) onde explora, entre memória e imaginação, o universo da criação literária, tendo como protagonista nada mais do que Moby Dick.
“Quando foi escrito estava fora da norma. Melville meteu lá tudo o que ele conhecia, o que ele sabia, o que lhe interessava. É um romance contemporâneo. É mais do que um romance, mas é um romance porque está todo escrito na voz do Ismael, desse eu. E tem uma narrativa. Mas é um livro político. Nele está a questão do individualismo, importantíssima para os americanos. E a da excepção”, refere George Monteiro. A primeira vez que leu o livro ainda hesitava entre o estudo da ciência política e o da literatura, que acabaria por seguir. “O livro foi para mim uma grande confusão. Eu esperava um romance e aquilo era outra coisa. Depois tive de aceitar isso. Havia ali ideias que eram muito importantes para mim. A ideia de que o Ahab podia mandar naquele barco e que todos ficavam abaixo dele a fazer o que ele queria, a ideia de subjugação, que encontrei muito mais tarde desenvolvida n’O Banqueiro Anarquista. Fernando Pessoa já estava no Melville. A ideia de que, quando existem duas pessoas, uma vai dominar. Eu não queria aceitar essa ideia, mas não tinha como a rejeitar. As relações humanas são feitas de dominantes e de dominados.”
George Monteiro faz uma pausa. Volta à leitura presente. “Para mim, é, sobretudo, um livro que trata o religioso de um modo muito moderno, apresentando-o em toda a sua complexidade e sob várias perspectivas.” Refere a propósito um ensaio escrito pelo biógrafo de Robert Frost — considerado um dos herdeiros de Melville. Em Melville’s Quarrel with God (1953), Lawrence Thomson faz uma análise crítica à presença de Deus e da religião em algumas das principais obras de Melville, com destaque para Moby Dick e Billy Budd, um conto publicado 30 anos após a morte do escritor. Segundo aquele professor de Princeton, na base do trabalho criativo de Melville estava a premissa de que deus era o demónio e, por exemplo, Ahab é um homem que tenta vingar a ira divina de que se sente alvo. O mal do mundo, nesta perspectiva, é o resultado de um erro de Deus. O argumento tem sido contestado ao longo do tempo. Muitos vêem na escrita de Melville a evidência da força da natureza e do que se pode chamar atitude ecuménica, o divino nas suas várias manifestações, nas várias maneiras de o celebrar e interpretar. Robert Frost, que autorizou Lawrence a escrever a sua biografia, foi um dos que discordaram dessa avaliação e os dois, Frost e Lawrence, acabaram as suas vidas afastados. Para Philip Hoare, a grande questão em Melville é a da metáfora, que pode ser também religiosa, a baleia enquanto símbolo da ambição humana, e que fundamenta tanto a loucura quanto a doença que a partir daí se desenvolvem. É isso que move Ahab.
A leitura de Moby Dick parece ser um desafio e uma provocação. Ou um desafio com várias provocações. Logo a partir da primeira frase. “Chamem-me Ismael.” No conjunto de ensaios Why Read Moby Dick?, o escritor norte-americano Nathaniel Philbrick (National Book Award em 2000, com No Coração do Mar, ed. Presença, 2015) reúne uma série de ensaios onde fala de algumas das provocações, entre elas, a razão de seguir na leitura do livro, mesmo prevendo, ou sabendo, da violência que nos espera, leitores. Há motivo para continuar porque está cheio de referências sobre a cultura e civilização actuais, porque o nível de linguagem é incomparável, pela carga poética e irónica e também — agora um motivo especialmente sensível aos americanos — “porque é o mais próximo que temos” — disse Philbrick — “ao que seria uma Bíblia americana”, um livro com o que o autor chama “código genético” sobre o país em que foi escrito.
Para George Monteiro, são muitos os exemplos para sublinhar a riqueza de interpretações que a obra de Melville suscita, sobretudo no que nessa obra — e não só Moby Dick — é visto agora como politicamente pouco correcto. Noutro conto, Benito Cerino (1855), volta ao tema da escravatura, ou da servidão a que um homem é sujeito por outro homem. Outra vez o comandante de um navio, Benito, que fica refém de um barco onde o seu poder é tomado de assalto pela tripulação escrava negra. E aparece essa palavra “proibida” à luz do politicamente correcto americano, o que faz com que hoje a obra seja considerada por muita gente como xenófoba. Monteiro discorda. “Quando Melville escreve ali a palavra 'negro', ela deve ser vista como substantivo colectivo, no sentido de negritude, uma maneira de ver a experiência. Benito, através dos escravos, fica a conhecer o outro lado de ser (existir), e é abalado com a ideia de existir a partir da negritude.”
A terra
Em New Bedford, o lugar a partir do qual se escreveu Moby Dick, está a marca dessa pluralidade de existir. Até ao século XVII, antes da colonização, era a terra da tribo índia Wampanoag. Vieram depois os ingleses, que dominaram a região até meados do século XIX, e estiveram na origem da designação Nova Inglaterra. A cidade cresceu associada à actividade do porto, com destaque para a caça da baleia que atraía população de outras terras costeiras. Da Escócia, Gales, Irlanda, Açores, Madeira, Cabo Verde, da costa francesa do Canadá, mão-de-obra experiente na pesca, sobretudo na caça à baleia, e atraída pelo emprego de toda indústria a ela associada. A partir de finais do século XIX, foram chegando judeus, da Polónia, sobretudo, ligados a uma nova actividade: os têxteis. Nunca foram no entanto tão importantes que fizessem esquecer o nome de cidade baleeira que ficou para sempre ligado a New Bedford, ainda que dela reste apenas a memória e uma história da qual Melville é indissociável.
A caminho de Simon’s Bethel, no centro da cidade, junto ao Museu da Baleia, procuram-se mais uma vez os ecos. Os marinheiros iam rezar ali antes de sair para o mar e Ismael foi lá ouvir o sermão do Padre Mapple antes de seguir para Nantucket. Falou da baleia bíblica que engoliu Jonas, apresentado como grande símbolo do arrependimento, que lhe valeu depois a libertação divina. “Ai daquele que não for verídico embora minta para se salvar!”, a maldição de Deus pelas palavras de Mapple e a imagem da capela agora segundo John Huston no filme de 1956, Moby Dick, com o púlpito em forma de proa tal como Melville o descreveu no livro. O cinema seguiu a literatura que por sua vez não imitou o real. Não havia esse púlpito em Simon’s Bethel, a capela presbiteriana, a não ser quando leitores e espectadores se desiludiram com a falha dessa realidade face à imaginação e alguém decidiu construir a proa de um barco no interior do templo. Está fechado. Uma fita amarela, uma das fachadas sem tinta e um aviso na porta indicam obras.
Na casa ao lado há uma placa. Mariners House. Tudo parece remeter para Melville e Melville tornou-se uma marca onde não há muito mais para “vender”. Mas até aí se faz silêncio. É outro dia de outra semana de Abril e também chove. Chama-se à porta, enquanto se tenta responder a outra questão: para quê a necessidade de ir ao lugar onde a ficção começou? Perceber o quê? Um homem repete o que está escrito na porta da capela. “Está em obras, não posso ajudar, não tenho chave, ninguém pode ajudar. Está fechada a visitas”, conclui. O discurso depois solta-se. Sim, se ele pudesse. É o pai do mayor, mas nem assim… Fala à entrada da sua casa; sobre a porta tem a escultura de uma baleia em madeira e nela uma frase gravada a metal “Moby Dick dormiu aqui”. Terá sido o lugar que inspirou a Estalagem da Baleia, do livro? Simon’s Bethel é um dos lugares de culto de New Bedford que o culto a Melville ganhou à religião. Com a porta fechada, resta a ficção. “Na capela fui encontrar uma pequena congregação de marinheiros e de mulheres e viúvas de marinheiros. Reinava um silêncio abafado, apenas quebrado aqui e ali pelo uivo da tempestade. Cada devoto parecia ter procurado sentar-se propositadamente isolado dos outros, como se cada uma das dores silenciosas que ali se encontravam fosse insular e incomunicável.”
Como soarão estas palavras de Melville lidas em voz alta no interior de Simon’s Bethel? Há 20 anos que a cidade organiza uma maratona de leitura de Moby Dick. São 25 horas seguidas a ler sem parar as mais de 600 páginas (na edição portuguesa da Relógio d’Água, numa tradução de Alfredo Margarido e Daniel Gonçalves). Num dos artigos de jornal publicados a propósito do aniversário da maratona, falava-se de como Hollywood tinha mudado New Bedford. Foi afinal John Huston e não Herman Melville, o cinema e não o livro, ou talvez o cinema a trazer de volta o livro que o inspirou, e que já nos anos vinte do século passado, a chamada Lost Generation (de que faziam parte escritores como Gertrud Stein, Ernest Hemingway ou D. H. Lawrence) havia recuperado após décadas de esquecimento. Lawrence chamou-lhe um dos livros “mais estranhos e maravilhosos do mundo”, como também lembra Hoare, que, por sua vez, diz que a experiência de ler Moby Dick é como ficar “um pouco pedrado”. “Ismael irá dizer-lhe tudo o que sempre quis saber sobre baleias, e mais alguma coisa que ele inventou. (…) A mesmo tempo, Moby Dick, permanece tanto como uma referência histórica sobre a grande época da caça à baleia yankee, como um trabalho da imaginação no qual as baleias se tornam avatares tanto quanto são animais de verdade.” Melville, escreve Hoare, “nunca teria terminado este livro agora — estaria constantemente a googlar a palavra baleia”.
Se foi por causa de Hollywood ou não, o facto é que no Museu da Baleia e em Simon’s Bethel, a cada início de Janeiro, se lê Moby Dick da primeira à ultima frase sem interrupções. Sobre um tempo em que a cidade era um dos centros baleeiros do mundo até ao dia em que dali saiu o último dos baleeiros americanos para o mar, em 1927. Chamava-se John R. Mantra e foi o que restou dos 199 barcos que no auge da actividade, em 1855, caçavam cetáceos com a bandeira americana no Índico e no Pacífico. Os Estados Unidos aplicaram as políticas de preservação de espécie ameaçada. Era preciso repor stocks. Na década de 30, estima-se que cerca de 50 mil baleias eram mortas por ano. Em 1986, a organização internacional intergovernamental International Whaling Commission aprovou uma moratória para regular as quotas de caça e proibir o comércio de produtos dessa actividade. Desde então o número de grandes cetáceos no mar aumentou.
Os portugueses
Toda a história está contada no Museu da Baleia de New Bedford, o maior do mundo, e um dos centros para o estudo e preservação da vida nos oceanos, tendo a baleia como protagonista. Réplicas de baleeiros, reproduções da vida no seu interior, documentários, esqueletos de grandes e pequenos cetáceos, mapas, citações de Melville, exposições de fotografias, debates e também, desde Fevereiro deste ano, centro de uma mini-maratona de leitura de Moby Dick em português. A ideia foi de Pedro Carneiro, o cônsul de Portugal em New Bedford. “O sucesso da leitura de Moby Dick em inglês, a emoção e a quantidade de pessoas que envolve, fez- me pensar que talvez fosse boa ideia envolver a comunidade portuguesa numa obra que também faz parte da sua história. É uma maneira de integrar. Depois de conhecer um pouco a comunidade, achei que o meu trabalho podia entrar por caminhos menos habituais. Acho que através da cultura, e da cultura contemporânea, podia ajudar nesse esforço. Moby Dick é extremamente contemporânea e une-nos.”
Pedro Carneiro chegou a New Bedford em Agosto de 2013 e encontrou ali uma das comunidades portuguesas mais antigas nos Estados Unidos, “com uma forte presença cultural e económica”, refere, recordando um passado não muito longínquo em que isso era diferente. “Há duas grandes fases da emigração portuguesa para esta zona. A primeira, associada à indústria baleeira, no século XIX, com muitos açorianos, que eram caçadores de baleias e se cruzavam com os baleeiros norte-americanos que faziam escala no arquipélago e começaram a ser contratados. No início do século XX, vieram muitas famílias juntar-se e a comunidade cresceu significativamente”, conta. Fixou-se sobretudo em New Bedford, na cidade de Fall River, a 22 quilómetros, e Taunton, 37 quilómetros a norte. Todas no Massachusetts. Parte dessa comunidade está ainda hoje ligada ao mar, sobretudo à pesca. São donos de embarcações, estão na transformação do pescado, no comércio, restauração.
Uma visita breve ao porto de New Bedford prova essa ligação. Os nomes dos barcos têm frases portuguesas, variações com a palavra Corvo, nome da ilha de onde chegaram muitos pescadores ou armadores. Mas há muitos de São Miguel, Faial, Graciosa… Um deles foi recentemente notícia. Carlos Rafael, 64 anos, o maior armador de New Bedford, dono de 40 embarcações, foi acusado de burla e da autoria de um esquema para tornear as quotas de pescado que cada barco é obrigado a cumprir em nome da sustentabilidade do oceano e da preservação de espécies. Segundo a acusação, Rafael pescava espécies com quotas mais apertadas e declarava peixes mais comuns. Depois de preso no início deste ano, foi libertado sob caução e está impedido de sair do país enquanto espera julgamento.
A história corre como exemplar numa terra onde as quotas de pescado são um assunto delicado desde que em 1996 os barcos de New Bedford tiveram de reduzir bastante a pesca no chamado Georges Bank, junto a Cape Cod. Foi o início de uma crise que não terminou numa terra com uma taxa desemprego que em 2009 era de 12,5% e onde o principal empregador continua a ser a pesca e as indústrias transformadoras de pescado – seguida do sector da saúde, depois de os têxteis terem abandonado definitivamente a zona na década de 1970. Quando a caça à baleia terminou, tinham sido a principal fonte de riqueza em New Bedford.
Pedro Carneiro fala desses ciclos económicos, sempre ligados a tantos outros ciclos de imigração com efeitos na população actual composta por cristãos, católicos, judeus, muçulmanos de todos os continentes. Nas ruas, ouve-se inglês com vários sotaques, espanhol e português. Por todo o lado há marcas de um passado feito de muitos lugares diferentes. “Quem chegava de Portugal tinha uma formação muito baixa, não falava inglês e encontrou uma sociedade muito estratificada e etnizada. Foi muito difícil integrarem-se.” Estavam na base da escada social.
Com a crise dos anos 20, a legislação norte-americana fechou as portas à imigração. A segunda grande vaga de portugueses no Massachusetts acontece em 1958, depois do vulcão dos Capelinhos, e que coincide com a adopção de leis mais flexíveis por parte dos Estados Unidos. O Azorean Refugee Act foi aprovado em 1958 e permitia a entrada no país de 1500 famílias açorianas. “Em 1960 viviam cerca de 90 mil portugueses, e em 1990 o número era de 251 mil. Quase todos os que vieram fixaram-se novamente em New Bedford, Fall River e em Taunton, onde já havia comunidades instaladas”, refere o cônsul, salientando que grande parte encontrou emprego ainda na indústria têxtil. “As coisas mudaram, as pessoas estão mais integradas e já não escondem as suas origens”, adianta. E votam? “Ainda não votam como gostaríamos que votassem. Os níveis de participação são baixos. Acho que de uma maneira geral, e não é exclusivo da comunidade portuguesa, há um grande desinteresse pela política. E falando agora da comunidade portuguesa, acho que essa atitude é resultado de muitas décadas de afastamento e de alheamento.” Faltam elementos concretos para explicar isso e também a intenção de voto de quem o faz, num estado tradicionalmente democrático. Em 2012, Obama ganhou com mais de 60% dos votos e, em 2008, com 47%. No entanto, o governador, Charlie Baker, é republicano. Pedro Carneiro refere apenas uma percepção sobre a posição política da comunidade portuguesa, com todos os riscos de falha que uma avaliação desse tipo acarreta: “Parece-me um bocadinho conservadora.”
No princípio de tudo
Os pais de Michael chegaram na segunda grande vaga da emigração portuguesa. Vieram de São Miguel. Ele já nasceu nos Estados Unidos. Conta as origens com o sotaque bem marcado daquela ilha, sem pôr no discurso qualquer palavra em inglês. “Faço questão. Nasci aqui, mas sou muito ligado às tradições e se é para falar português é português que falo.” Tirou folga da bateria e guia um carro para transportar artistas e convidados no dia do International Portuguese Music Awards. O festival vai na quarta edição e distingue músicos portugueses ou de origem portuguesa com actividade nos Estados Unidos e Canadá. Enquanto atravessa a ponte que une as duas margens do rio Acushnet, entre New Bedford e Fairhaven, em direcção ao Zeiterion Theatre, a principal sala de espectáculos da cidade, conta a digressão da sua banda pelas comunidades portuguesas e pelas romarias açorianas. Teve de desligar o motor do carro. A ponte está a mover-se para deixar passar um barco grande de pesca. É preciso esperar. “Já viu o que é esta vida?”, diz a olhar para o barco. “Vão um mês para o mar, arriscam tudo, para trazer vinte mil dólares.” Pergunto se não é uma quantia boa, se não o faz pensar ir também. “Deus me livre. É preciso não ter amor a nada ou amar o mar mais do que tudo. Mas muitos vão e depois gastam tudo num instante em droga. E outros só vão por isso mesmo. Pela droga.”
Grande parte do crime em New Bedford está associado ao tráfico e consumo de droga. Em 2014, o FBI colocava New Bedford no primeiro lugar das cidades mais violentas do Massachusetts. “É a droga”, diz também Peter, um homem magro, cinquenta e muitos anos, enquanto guia um táxi num domingo de manhã de sol. “Não recomendo a ninguém andar por aqui a pé”, continua, enquanto passa por uma rua ladeada de árvores, do lado de Fairhaven. “Não é que sejam muito violentos, mas se virem uma maneira fácil de fazer dinheiro…”
Os mais optimistas apontam sinais de que as coisas podem mudar. Em 2010, abriu um hotel de três estrelas junto ao porto. Há ruas e edifícios no cento da cidade a serem renovados, um teatro com programação “internacional” que quer mostrar que há público, e há Moby Dick. Sempre, como centro de desenvolvimento cultural e turístico. Simon’s Bethe está a ser recuperada, é verdade. A fachada principal já está pintada, um cinza novo. No Verão deverá abrir, mas não há data, ainda.
“Faz sol”, volta a ouvir-se Peter, vidro do carro aberto, mão de fora a esconder o cigarro que só sai dos lábios quando conduz. O rio mostra agora uma água transparente na maré baixa. Não é Inverno como quando Ismael chegou, no princípio de tudo, quando New Bedford era ponto de partida para a história que parece continuar a estar no princípio de muitas histórias. A nova história do escritor Francisco Goldman começou também assim. “O que me levou a New Bedford foi Moby Dick”, confessa, antes de referir que depois o que o prendeu foi a paisagem — geográfica e social —, de tal forma que a transformou na génese do seu próximo livro, ainda sem título. Natural de Boston, onde nasceu em 1954, filho de pai americano e de mãe guatemalteca, Goldman é jornalista, professor de Literatura em Nova Iorque e na Cidade do México, autor de quatro romances e uma obra de não ficção, vencedor do Femina para melhor romance estrangeiro publicado em França, em 2011, com Say Her Name (O Último Dia de Um Amor Eterno, Matéria-Prima). É uma memória escrita após a morte da sua segunda mulher, a escritora mexicana Aura Estrada, vítima de um acidente de surf, em 2007, antes de fazer 30 anos.
Francisco Goldman passou duas semanas em New Bedford. “Pouco tempo para aprender tudo o que me interessa. Mas encontrei uma cidade cheia de contrastes, com uma estrutura social muito diferenciada e com a base dessa pirâmide neste momento ocupada por sul-americanos, entre os quais guatemaltecos, que fugiram da guerra e da pobreza e encontraram em New Bedford o trabalho que mais ninguém quer fazer: desmanchar e cortar peixe. Há uns anos eram os portugueses que faziam isso. Hoje subiram nessa escada social. Mas além da pobreza, do trabalho duro, o que mais me impressionou foi a capacidade de adaptação. Os guatemaltecos vivem num território montanhoso, interior, muito longe do mar. O oposto do que têm aqui.”
Não quer adiantar muito do livro que já vai a meio e o leva, nesta conversa, a falar de questões sociais, políticas, económicas, mas que, garante, não é nada disso ou talvez também… “Não é um livro político, nem é um livro sobre New Bedford. É um romance onde parto de tudo isso para libertar a minha imaginação.” Como foi para Melville.
Como no princípio de Moby Dick, que está aqui no princípio de tudo. Ou como escreveu Philip Hoare, irresistível no seu apelo “à viagem no tempo” e, num tempo de pouca fé, “um testamento alternativo”.
A série A América pelos Livros é apoiada pela Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento




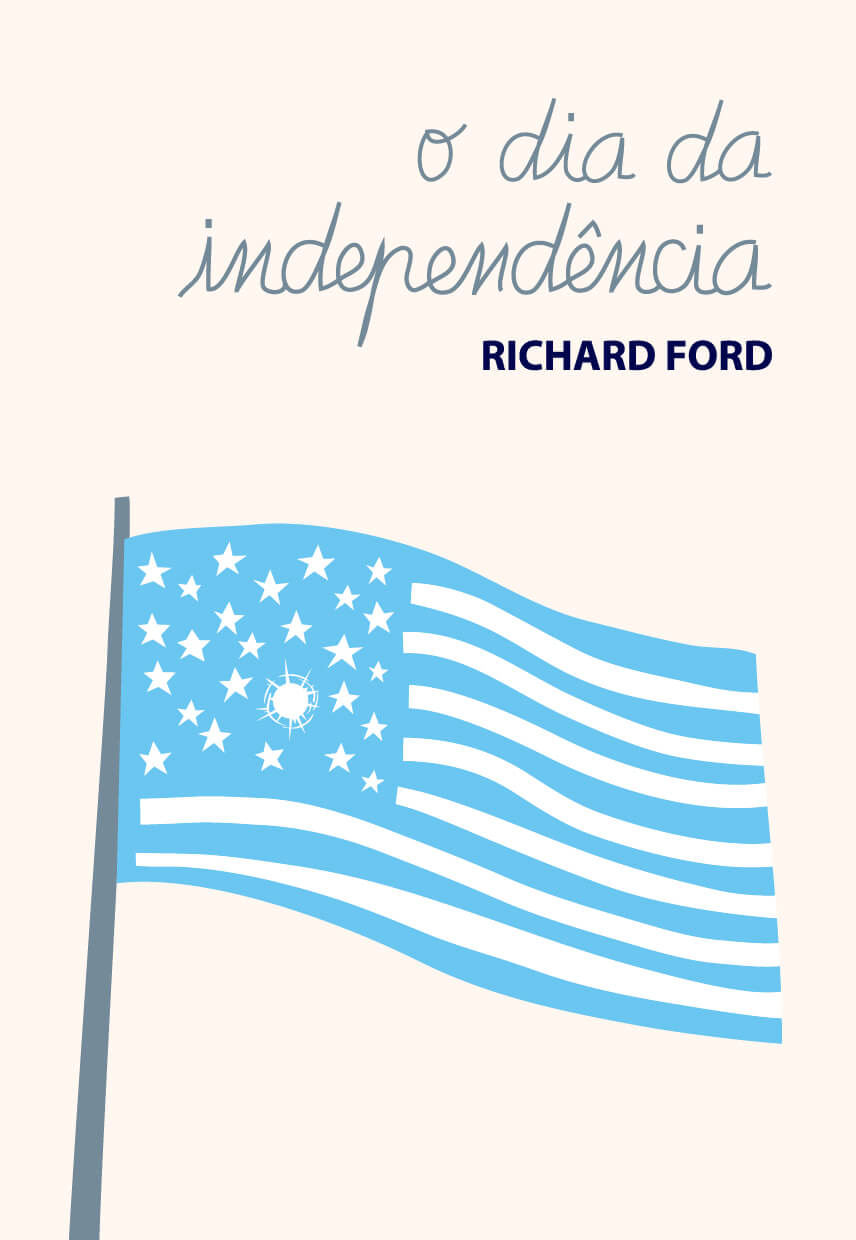

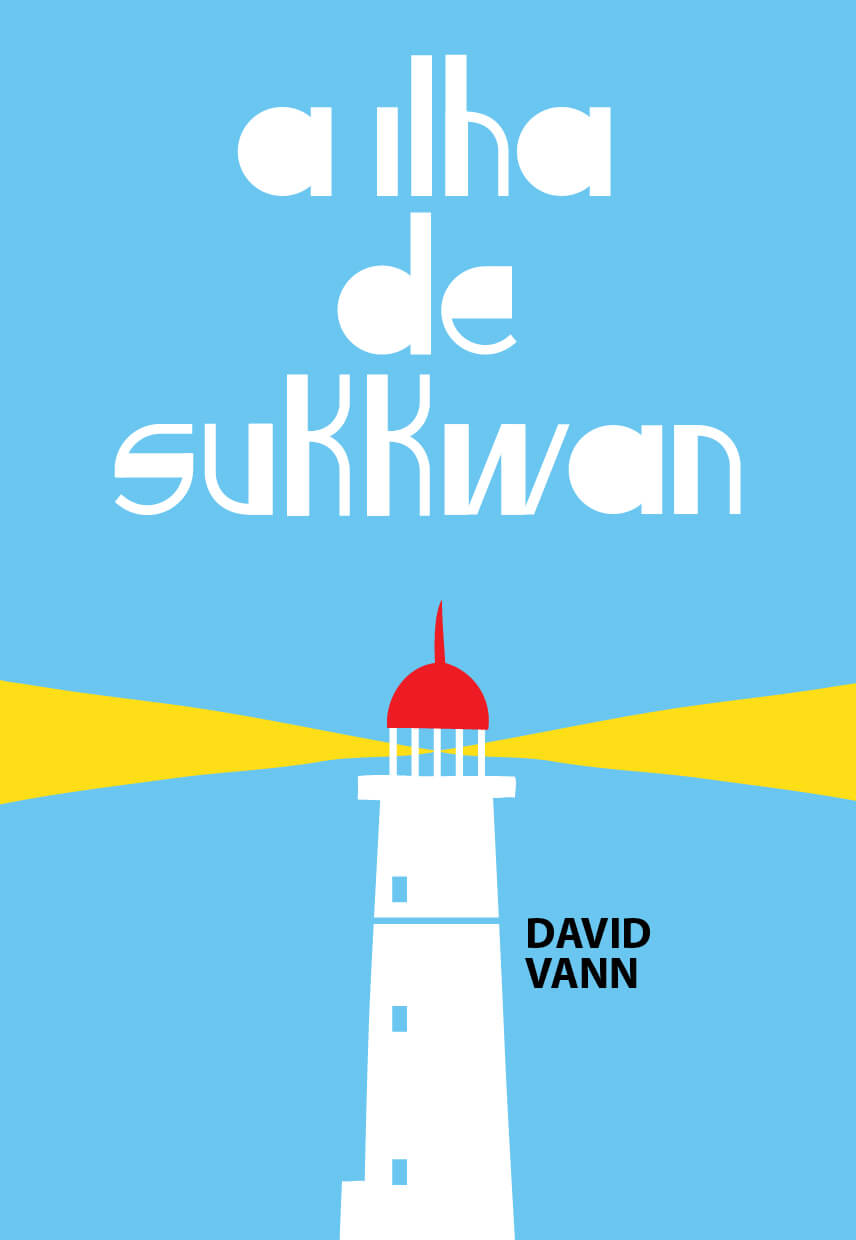
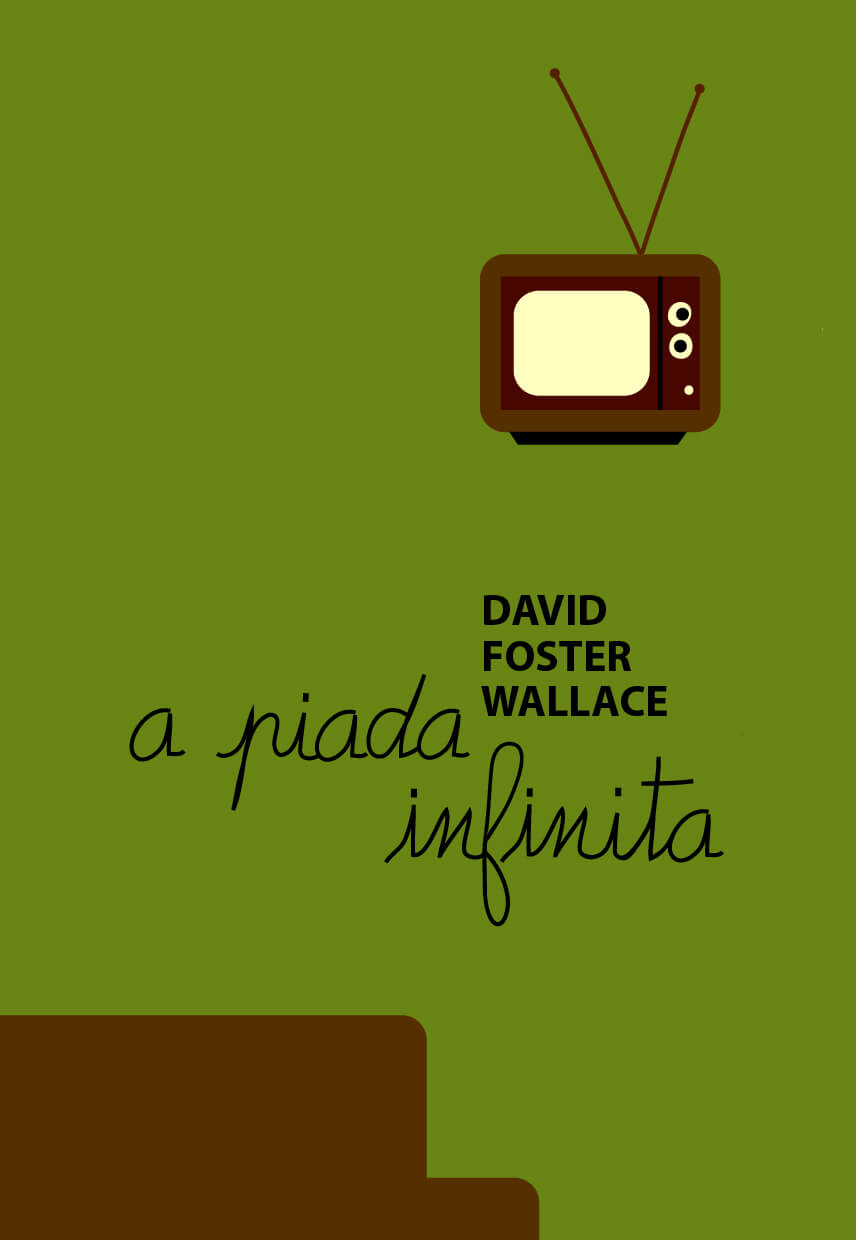


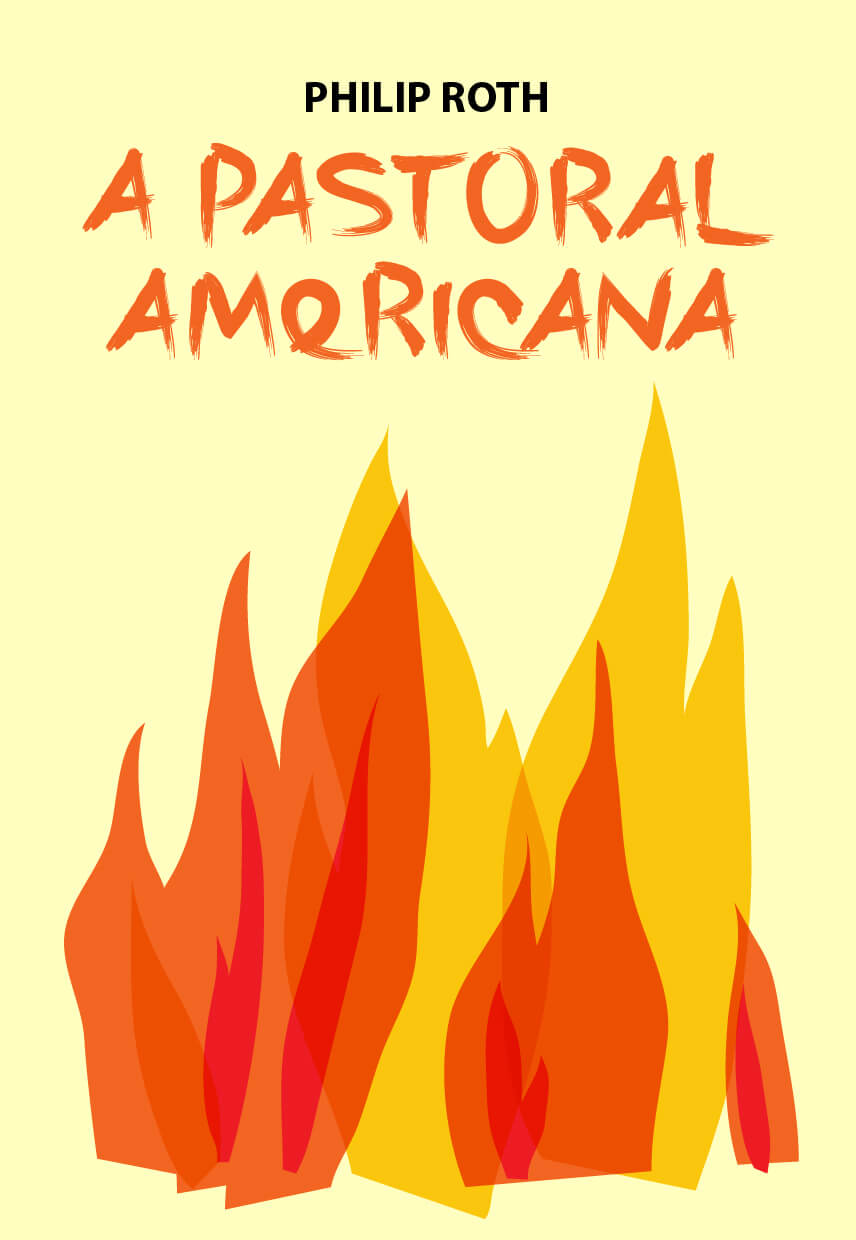
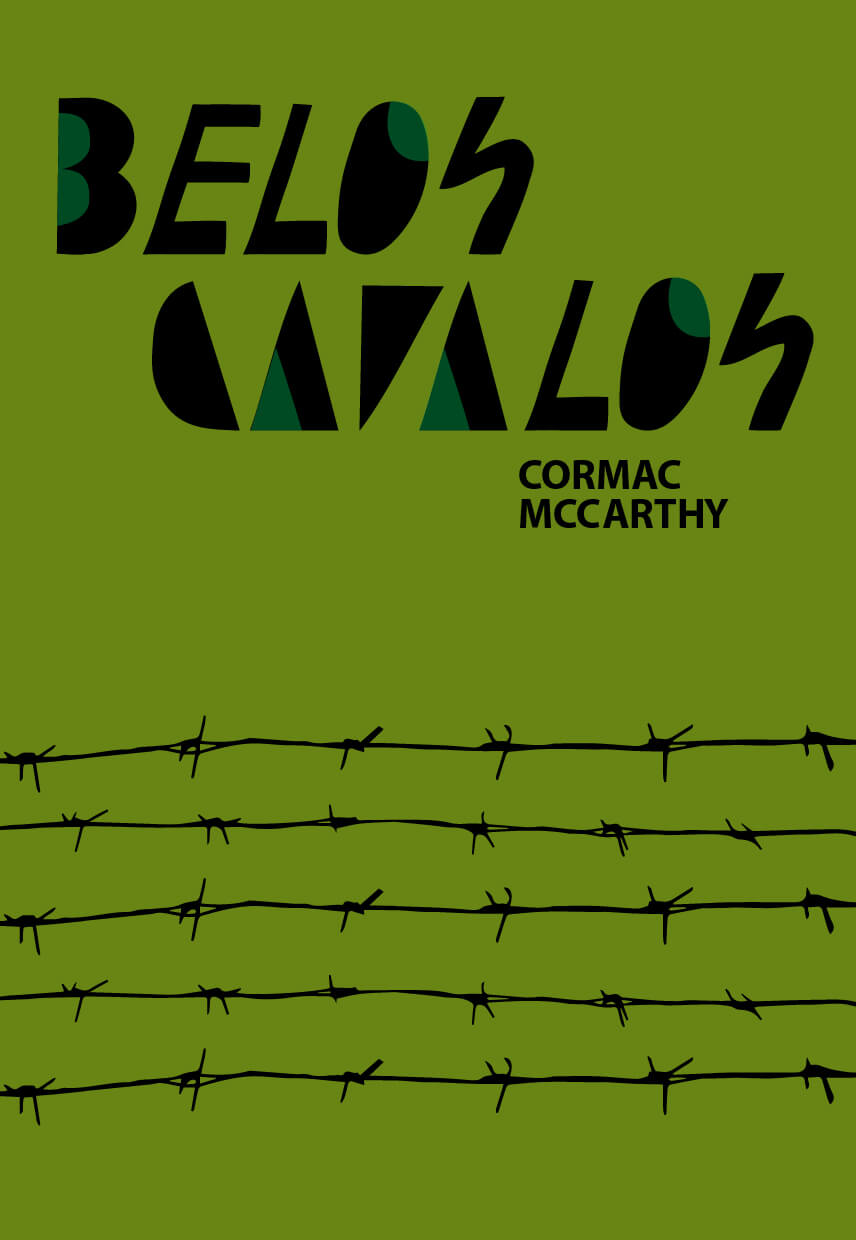
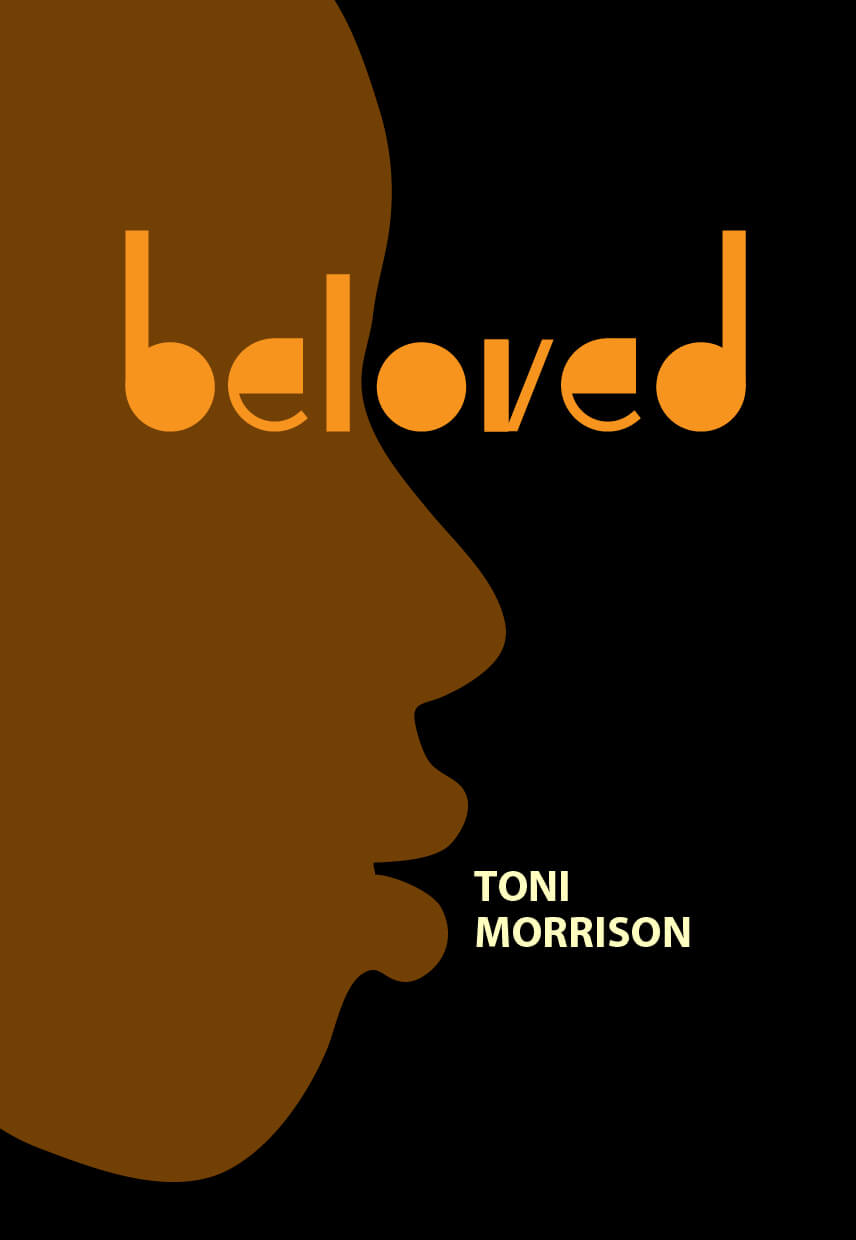
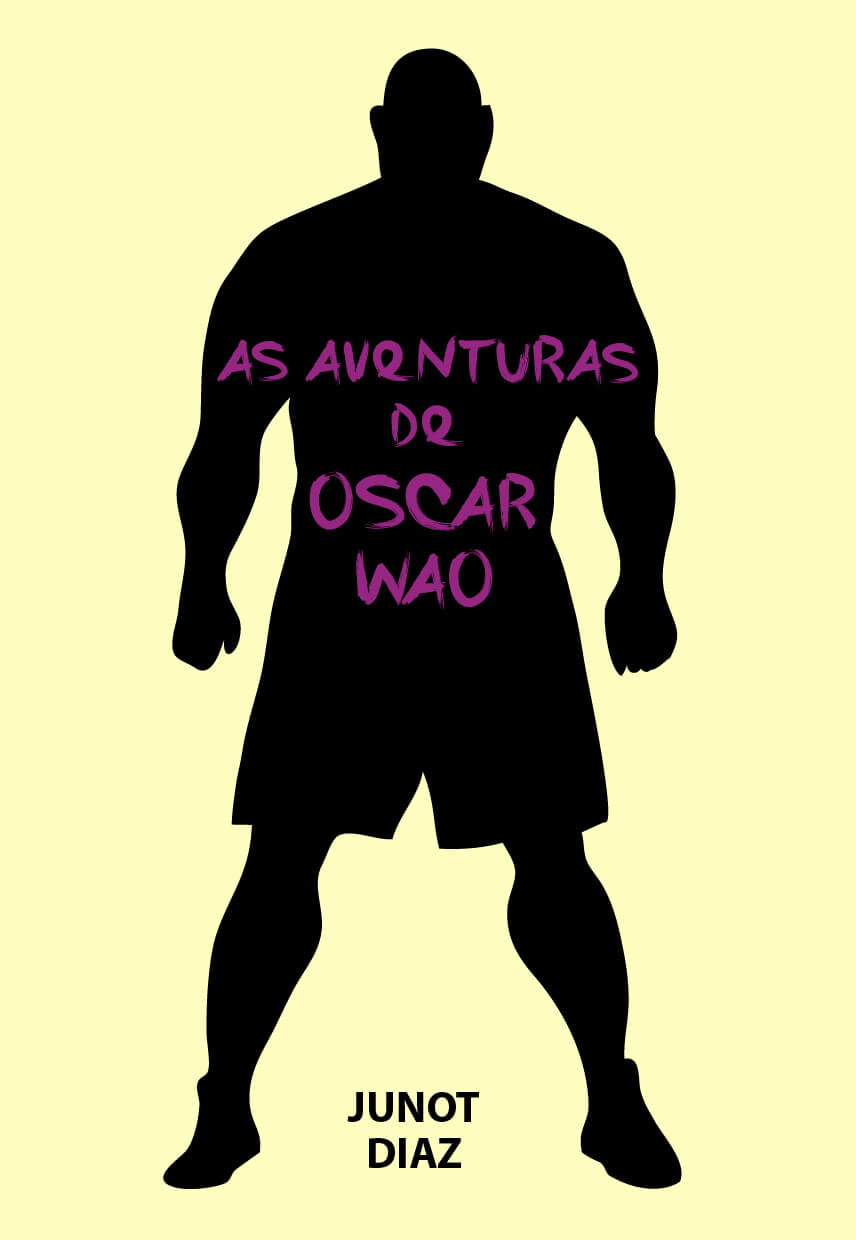



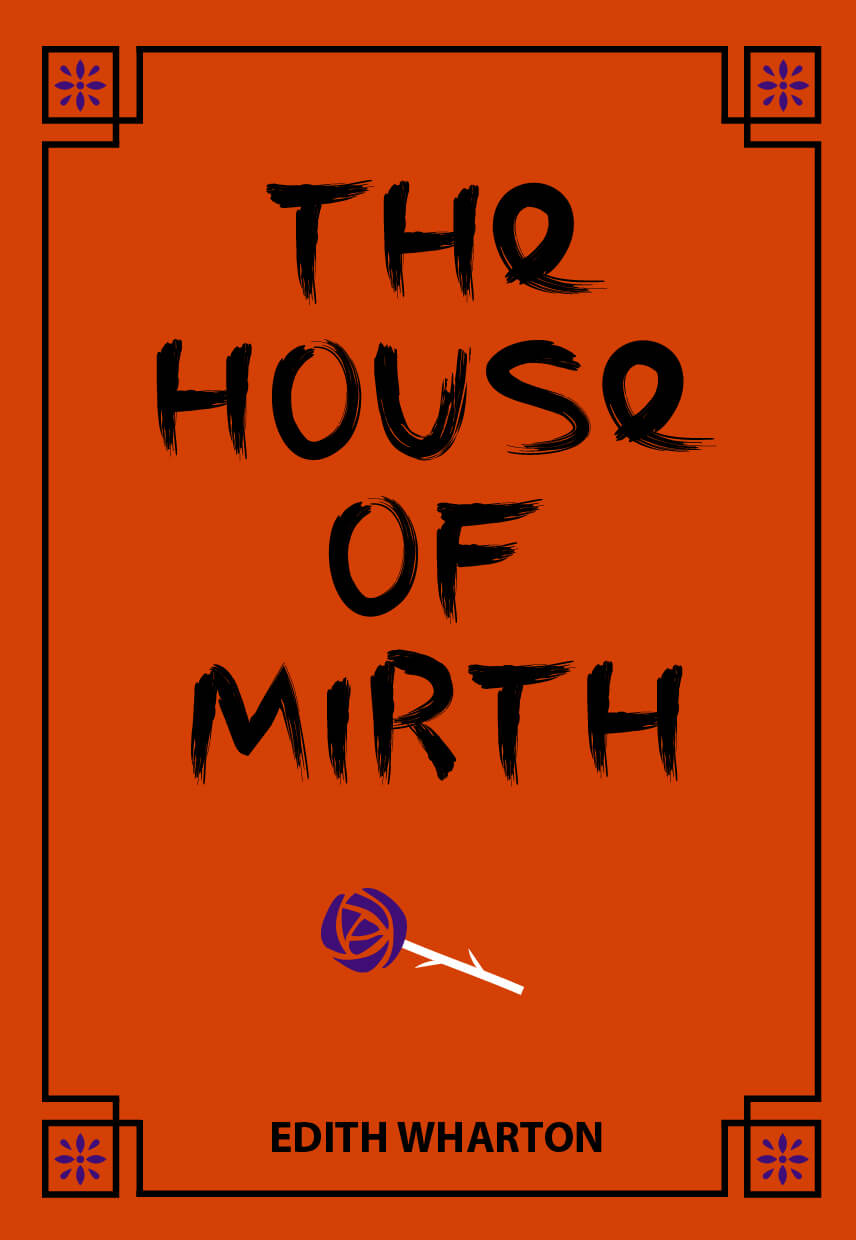



Comentários