Visto do céu, o mundo tem ali um gigantesco espaço em branco, tons ocre, entre o amarelo, o castanho, o vermelho e o cinzento a estender-se por centenas, talvez milhares de quilómetros de terra e rochas, sem uma árvore, uma casa, uma estrada, um homem. Pode ser uma paisagem de todas as possibilidades, o lugar da criação de que fala o livro de Génesis. “No princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia.” Mas há marcas. Pode ser outra coisa, talvez mais verosímil: e se tudo se tivesse ausentado e aquele lugar seja afinal o do êxodo, o sítio de onde todos fugiram como num dia de 1949, depois da morte do avô e do divórcio dos pais, fugiu John Grady Cole, protagonista de Belos Cavalos, primeiro romance da trilogia que o escritor Cormac McCarthy dedicou à fronteira? John Grady tinha 16 anos e cavalgou desde San Angel, cidade de cem mil habitantes na zona Oeste do Texas até ao México, seguindo no mapa sempre para sul. “Saberia que faltava qualquer coisa no mundo para tudo entrar nos eixos ou para ele próprio se sentir bem na sua pele e partiria para deambular por onde quer que fosse preciso, durante tanto tempo quanto o necessário…”
Do interior do avião é possível agora vislumbrar trilhos nas Montanhas de Guadalupe, segui-los para sul e começar a ver árvores, passar a fronteira do México com os olhos e muito depois disso, quando tudo já é imperceptível, voltar ao livro e recordar os vaqueros mexicanos que viram na figura de John Grady, o domador de cavalos, a confirmação de que o país a norte, os Estados Unidos, existia mesmo e não era só um boato distante que vinha nos mapas.
É aqui o far west, o longínquo e velho Oeste selvagem, na perspectiva da conquista americana, no extremo Sudoeste do estado do Texas, fronteira com o México. É o lugar onde Cormac McCarthy situa a acção do livro que o tirou do circuito fechado do escritor admirado por escritores mas que não consegue reconhecimento público. Antes, nenhuma primeira edição dos seus romances vendera mais de cinco mil exemplares. Apesar do elogio unânime da crítica que o considerava um dos melhores autores americanos a par de Don DeLillo, Philip Roth ou Thomas Pynchon. Publicado em 1992, Belos Cavalos ganhou o National Book Award e foi um best-seller internacional. É um romance de viragem, talvez o primeiro onde McCarthy tenta criar um herói — frágil, imperfeito, violento também, inocente no início e a tentar lidar com as suas próprias contradições — para através dele explorar o coração humano. John Grady Cole existe num contexto geográfico, histórico e temporal muito preciso. E como tudo o que nasce de McCarthy ganha, depois, uma dimensão universal.
O mito do lugar selvagem
São três da tarde, menos duas horas do que em Nova Iorque, quando se aterra no aeroporto internacional de El Paso. Estamos no Texas, segundo maior estado da América, depois do Alasca. Dallas ficou a hora e meia de avião e Houston, a capital, está a 1200 quilómetros, mais longe do que as capitais dos estados vizinhos do Novo México ou do Arkansas, e muito mais longe do que Ciudad Juarez, a vizinha mexicana separada apenas pelo caudal do Rio Grande, ou Río Bravo del Norte, fronteira natural entre o Texas e o México. É Outubro, mas o sol queima a pele e a luz obriga a cerrar as pálpebras.
À volta, uma cordilheira de montanhas domina a paisagem numa espécie de barreira protectora daquela que parece ser uma vasta planície de prédios, casas, armazéns, viadutos, tudo envolto numa nuvem de pó ou de calor em contraste com o azul índigo do céu. Há vento, mas não refresca. Assim se explica então o suor a escorrer pelo rosto dos cowboys, imagem vista em centenas de westerns, ou o desespero perante a última gota de água num cantil.
“Não há lugar no mundo onde se vá que não se saiba dos índios e dos cowboys e do mito do Oeste”, disse Cormac McCarthy ao New York Times, em 1992, numa das raras e mais extensas entrevistas da sua vida. Confessava que foi o mito do lugar selvagem que o seduziu e, em 1976, o fez deixar Knoxville, no Tennessee, para viver em El Paso, em pleno deserto de Chihuahua, onde escreveu alguns dos mais notáveis livros da sua carreira: terminou Surtree (1979) e seguiram-se Meridiano de Sangue (1985) e Trilogia de Fronteira, de que fazem parte os romances Belos Cavalos (1992), A Travessia (1994) e As Cidades da Planície (1998), e ainda Este País não é Para Velhos (2005), e A Estrada (2006), todos publicados em Portugal pela Relógio d’Água. “O Oeste faz parte da mitologia americana e se se está interessado em contar a história americana e lidar com alguns dos problemas americanos não é assim tão invulgar que um escritor do Sul, como McCarthy, rume a Oeste para tentar entender porque é que um lugar como El Paso, ou o Sudoeste em geral, funciona como molde, como parte essencial da história e da cultura da América e do que se pode chamar de ideologia americana”, referiu ao P2 Steven Frye, presidente da Cormac McCarthy Society, instituição fundada em 1995 com o objectivo de promover o estudo e a leitura de um escritor que quer viver na sombra.
Não há cowboys à chegada. Um grupo de militares japoneses, todos fardados, tira fotografias antes de entrar no aeroporto. El Paso é uma cidade militar e Fort Bliss sede da 1.ª Divisão Blindada, do 93.ª Batalhão da Polícia Militar e da Escola de Artilharia de Defesa Aérea. Tem a maior pista militar dos Estados Unidos e recebe militares de todo o mundo. Aquele grupo foi apenas o primeiro de muitos que se vêem a passear por El Paso ou a beber uma cerveja num bar da baixa.
Do outro lado do passeio Carlos acena. Ele será o cicerone até ao centro da cidade. Mexicano, de Ciudad Juarez, todos os dias atravessa a fronteira para transportar clientes no seu táxi com jornais em inglês e em espanhol. Diz que é fluente nas duas línguas e observa o espanto no rosto de mais um cliente quando diz que o seu dia a dia é entre o México e os Estados Unidos. "Saio de casa em Juarez pelas seis da manhã, atravesso a fronteira e trabalho em El Paso até às seis da tarde, às vezes mais. Depois passo outra vez a fronteira e volto a casa", precisa. "Vivo entre uma das cidades mais seguras dos Estados Unidos e uma das mais violentas do México, mas já foi pior. Juarez não tem tanto crime e quem conhece sabe como se movimentar. Se quiser levo-a lá ainda hoje. Tem o seu passaporte?"
Carlos não vota nestas eleições americanas, mas tem uma opinião sobre o candidato republicano Donald Trump. "Un idiota”. A expressão sai-lhe em castelhano, a primeira numa longa conversa que termina vinte minutos depois, na baixa da cidade. “Ele pinta os mexicanos como criminosos. Não nos conhece. Nós vivemos aqui, trabalhamos aqui e El Paso quase não tem crime. O crime em Juarez é dos senhores dos cartéis de droga e esses não são mexicanos. São de todo o mundo." E aponta o que parece ser o Sul: “se quiser, é ir andando sempre em frente e chega ao México.”
Uma forma de contar
Como se conta a história de El Paso fora da literatura, do cinema, da mitologia que a alimenta àparte a sua geografia? “Como se conta a nossa história?” Robert Moore repete a pergunta para ganhar tempo. Mais tempo, porque essa é uma questão central no seu dia a dia. É o director do El Paso Times, o único jornal em língua inglesa daquela cidade de 681 mil habitantes (Census de 2015) onde cerca de 84% da população fala espanhol. Sentado no seu gabinete na baixa de El Paso, poucos minutos a pé da fronteira com o México pela Santa Fe Bridge, Moore diz que a história tem sido mal contada e a culpa é de quem lá vive. “Não fizemos um bom trabalho a contar a nossa própria história e deixamos que outras pessoas nos definam.”
E definem, segundo ele, recorrendo a estereótipos: violência, tráfico, imigração ilegal, terra sem lei. “O estereótipo é fácil. Toda a mitologia de fronteira é a de um lugar de violência. Entendo isso do ponto de vista do entretenimento. As pessoas gostam de ver violência e conflito. Ninguém vai fazer um filme sobre o quão tranquila é a vida na fronteira. Isso torna o nosso trabalho ainda mais difícil, porque a imagem que mais passa é sobre droga, violência. Há alguma verdade nisso. Juarez era há uns anos uma cidade terrivelmente violenta. Está menos. Sempre que se tem uma guerra, e pode ser uma guerra entre nações ou entre gangues de droga, há uma altura em que alguém ganha a guerra e foi o que se passou em Juarez. Um dos cartéis saiu vitorioso. Continua a haver alguma luta, algum grau de perigo, mas se não se estiver envolvido nesse estilo de vida não há risco.” Nos últimos cinco anos o número de assassínios tem vindo a diminuir. As autoridades locais falam em 312 mortes em 2015. Em 2011 foram 1900. Do lado americano da fronteira, em El Paso, houve 21 assassínios, dados do FBI.
Moore leva à boca a garrafa de água que tem em frente. “A maior parte das pessoas está aqui para trabalhar, legais ou ilegais. El Paso e Ciudad Juarez juntas são o maior região financeira da fronteira com o México e uma das maiores no mundo americano. Há muita indústria em Juarez, e em El Paso, de transporte ou componentes automóveis." El Paso é a 11.ª cidade americana em volume de exportação e a primeira para o México. Moore continua: "Há mais exportação de El Paso para o México do que de países inteiros como a Grécia, Egipto, Paquistão. Esta é uma comunidade e uma economia que se apoiam no comércio internacional e na movimentação de matéria-prima e de serviços, e de pessoas. Mas por causa da política sobre imigração nos EUA, e também por causa da droga e do crime, a fronteira vive uma vida muito pouco realista. Todos, e especialmente os republicanos, estão focados em alguns dos aspectos mais violentos da imigração, que realmente representam uma fracção mínima do que é a fronteira. A maioria dos imigrantes é gente boa, esteja legal ou ilegal. Estão aqui por uma única razão: ter uma vida melhor para a família e, se estiverem ilegais, só quem ficar invisíveis. Não cometem crimes.”
Falar da fronteira sem a conhecer
Vista do topo de um dos hotéis centrais, a cidade é muito grande quando se combinam as duas, o maior núcleo bilingue do mundo ocidental. Mas há uma fronteira internacional que as divide e desde o 11 de Setembro que a segurança apertou. Depois dos atentados, George W. Bush mandou construir uma vedação em arame farpado ao longo da fronteira com o México, um trabalho que seria terminado já no tempo da Administração Obama e justificado pela necessidade de proteger o país contra o terrorismo. Donald Trump promete agora um muro e o inimigo é a imigração ilegal. Moore irrita-se. “Quando cheguei, costumava ir a Juarez depois do trabalho. Bebia uma cerveja, jantava, e era comum sair para almoçar e voltar. Já não se pode fazer isso porque se leva pelo menos uma hora para atravessar nas melhores condições.”
Moore vive em El Paso desde 1986, é casado com uma luso-americana que dá aulas na Universidade do Texas nesta cidade. Não fala português, mas como toda a gente em El Paso consegue falar espanhol e, em véspera de eleições, está irritado com a narrativa política que envolve a cidade onde vive. “Fala-se da fronteira sem a conhecer”, diz.
“Até para a maioria dos texanos é um assunto desconhecido porque o Texas é tão grande… Houston, Austin, Dallas estão muito longe e as pessoas que lá vivem podem nunca interagir com a fronteira. Isto é uma espécie de lugar estrangeiro para eles”, continua, para justificar a razão pela qual o anúncio de Donald Trump de construir ali um muro não é argumento que demova muitos texanos de votar republicano. “Economicamente, esta é uma das mais importantes regiões do Texas. Uma região de fronteira é uma realidade muito particular, com duas culturas que se juntam e formam outra inteiramente diferente. Vemos isso em El Paso e em Juarez. Há pessoas a movimentarem-se entre o espanhol e o inglês. Tenho amigos que numa conversa usam as duas línguas com frequência. Vemos isso noutros países, mas não vemos com frequência nos EUA.”
O jornal que dirige assumiu publicamente o apoio a Hillary Clinton. A cidade tem votado sempre democrata, é uma pequena mancha azul num estado politicamente pintado a vermelho, à excepção de algumas zonas de fronteira, mas… “A maior parte dos habitantes de El Paso não vota. Nas últimas eleições, em 2012, só 47% dos eleitores inscritos votaram”, salienta Moore com um encolher de ombros, menos de resignação do que de desespero.
É o caso de um homem de 57 anos, natural de Ascención, cidade mexicana 200 quilómetros a sudoeste de El Paso, que imigrou para a América em criança com os pais. Tem dupla nacionalidade, pode votar e diz que se o fizesse seria em Hillary Clinton. Mas não vota. Porquê? “A minha vida é o trabalho. A política não me diz nada.” Põe os óculos escuros antes de sair para a rua bem no centro da cidade, e pede para não escrever o seu nome. “Não é por medo. Sou discreto na vida.” Trabalha num hotel histórico em El Paso, junto ao teatro, aos museus, um núcleo urbano em obras onde ao meio-dia se ouve Elvis Presley entre picaretas, betoneiras e os pregões dos vendedores na rua que leva à ponte onde está a fronteira internacional que divide o México dos Estados Unidos.
“Out in the West Texas town of El Paso, / I fell in love with a mexican girl”, cantou Elvis em 1970 num concerto ao vivo no Coliseu da cidade. Agora é um boneco de ferro, com a tinta a descolar e uma voz de crooner distorcida. Uma rapariga abriga-se à sombra dele enquanto envia mensagens pelo telemóvel. Do outro lado da rua alguém a chama. “Sarita!” Excepto Elvis só se fala espanhol por ali. “Esto es America, A-me-ri-ca” repete uma mulher à bebé que leva ao colo. O homem que não quer dizer o nome seguia calado até que: “Trump bem pode construir o muro. Há sempre formas de o passar. Mas não acredito que ele o faça, um homem sozinho não pode mudar a fronteira. O pior são as outras coisas de que ele fala, o racismo, dizer que somos bandidos.” Mas mesmo isso não o fará votar. Então o que o poderá fazer votar? “Não sei”, responde.
Conta-se a história a Moore e ele não estranha. Está preocupado com a radicalização do discurso e do que pode ficar disso no pós-eleições, ganhe quem ganhar. “Há uma longa história nos Estados Unidos, quando há desafios económicos complicados temos de culpar alguém e culpa-se o estrangeiro. Já culpámos os italianos, os irlandeses, os portugueses, os imigrantes que vinham tirar empregos. Quando a economia fica melhor tendemos a esquecer e ignoramos os imigrantes. As coisas ficaram apertadas outra vez e neste momento os hispânicos, em particular os mexicanos, são os imigrantes mais visíveis. Isto arrasta-se e Donald Trump levou a discussão a um nível completamente radical, e de alguma forma dá permissão a outros para usar o mesmo filme que ele está a usar. Isso é talvez a coisa mais nefasta que está a acontecer nestas eleições. Uma espécie de grande árvore maléfica à qual foi permitido chegar à superfície. Agora é visto como aceitável falar de pessoas de forma que seria impensável há poucos anos. Estou preocupado com o tempo que pode levar a reparar esse estrago.”
Robert Moore insiste na necessidade de contar a história. “Por exemplo, como se conta, fazendo passar a mensagem que El Paso é, entre as cidades com mais de 500 mil habitantes, a mais segura dos Estados Unidos, que já recebeu um prémio por isso, e também que é a cidade mais democrata do estado mais republicano do país? São coisas que quase só quem cá vive sabe.”
Estamos no centro de uma mancha urbana de 2.7 milhões de pessoas que inclui Ciudad Juarez e Las Cruces, no México. “Quando alguém como Donald Trump vem acusar os mexicanos de serem violadores, ladrões ou assassinos e de dizer que a fronteira é um perigo isso causa danos terríveis a esta comunidade; quando se protege a fronteira como sendo um lugar sem lei onde os criminosos se movimentam, é terrível. Quem quer vir viver aqui? Que negócio quer vir para um lugar declarado como zona de guerra? Ele só diz isto porque muitas das pessoas que trabalham aqui estão ilegais, são um alvo fácil, não votam. O voto seria a sua arma de resposta. Nestas eleições será muito interessante ver se hispânicos que podem votar aparecem numa escala mais proporcional à da sua população. Se isto não os fizer votar o que fará?” A resposta do funcionário do hotel ecoa: “Não sei.”
A geografia como protagonista
É este o presente da geografia a partir da qual Cormac McCarthy escreve a América um pouco como Herman Melville fez com Moby Dick um século antes, com a natureza a servir de ponto de partida para questões filosóficas, religiosas, científicas. E o homem nela, sozinho ou nas mãos de um divino que ele se esforça por entender mas que sente abandoná-lo.
Na cidade, entre os prédios altos do centro, a natureza onde McCarthy baseia a sua literatura pressente-se na sua dureza. As montanhas áridas são uma permanência, o ar seco outra. “Ele coloca-se numa região sem que com isso pretenda ser um escritor regional”, afirma Steven Frye, que acrescenta: “Ele prova isso quando se muda para El Paso. É uma personagem que eu colocaria no contexto da literatura mundial de fronteira. É um escritor americano, mas a América é parte do mundo e ele está comprometido com questões que são realmente importantes para todas as pessoas de todos os tempos, em cenários e regiões muito distintas. Ele transcende a região”, defende. E também o tempo. Em cada romance há tempos precisos. Todos se passam em momentos identificados, mas lidamos com parábolas intemporais. “Há a sensação de que o que está a acontecer pode acontecer em qualquer tempo, em qualquer lugar. A batalha entre o bem e o mal que acontece em John Grady pode acontecer com qualquer pessoa. E voltamos à questão bíblica e ao facto de ele estar constantemente a empregar ou a aludir, não necessariamente à Bíblia, mas a Shakespare, Milton e muito em particular a Melville. Está a recontar histórias que já foram antes contadas dando-lhe uma nova pele”, salienta, frisando que a violência não é gratuita em McCarthy, a não ser na perspectiva em que é gratuita na natureza.
McCarthy disse mais ou menos o mesmo nas poucas entrevistas que foi dando, que a natureza é violenta. Foi o mais longe que avançou no tema, sempre esquivo a falar dos seus livros, com o argumento de que tudo o que tem para dizer está neles. Procura-se a explicação nos romances e encontra-se esta passagem de Meridiano de Sangue: “A verdade acerca do mundo, disse ele, é que tudo é possível. Não fosse o caso de vocês se terem habituado desde a nascença a ver tudo aquilo que vos rodeia, esvaziando assim as coisas da sua estranheza, e a realidade surgiria aos vossos olhos tal como é, um truque de magia num número de ilusionismo, um sonho febril, um transe povoado de quimeras sem analogia nem precedente imaginável, um carnaval itinerante, um espectáculo de feira migratório cujo derradeiro destino, depois de montar a tenda tantas e tantas vezes em tantos baldios enlameados, é tão indescritível e calamitoso que o espírito humano não consegue sequer concebê-lo.” Na mesma entrevista ao New York Times, McCarthy diz isto de outra forma. “Acho que a ideia de que a espécie pode ser aperfeiçoada de alguma maneira, que toda a gente pode viver em harmonia, é uma ideia perigosa. Aqueles que são acometidos com esta noção são os primeiros a empenhar as suas almas, a sua liberdade. O desejo de que seja assim escraviza e torna a vida num vazio.”
Considerada a obra mais sangrenta de McCarthy, Meridiano de Sangue conta a história de um rapaz, órfão, na sua jornada solitária pelo Texas. Refém de um grupo de mercenários, ele tem de percorrer o estado, assassinar o maior número de índios que conseguir e voltar com a prova: o escalpe de cada índio morto. “McCarthy explora a ideia do mundo selvagem como um lugar onde o indivíduo vai para ser testado espiritualmente”, sublinha Steven Freye. “Nos seus westerns, as personagens vão para lugares muito desolados para serem de alguma forma transformadas, também espiritualmente. E ele recria esse tipo de mundo selvagem construindo uma realidade apocalíptica, gótica, às vezes mais romântica como em Belos Cavalos, onde vive a mais humana das suas personagens, John Grady, mas sem procurar a harmonia — a não ser literária —, ou a algum sentido de happy end”, diz Frye.
O Sul é uma narrativa própria
McCarthy não nasceu no Sul, a enorme região que não corresponde necessariamente ao Sul geográfico do país, mas ao modo como ele se dividiu na Guerra Civil — sendo do Sul os estados que permitiam a escravatura —, vai do Maryland ao Texas e deixa de fora, por exemplo, o Novo México, o Arizona ou a Califórnia. Foi, no entanto, o Sul que o formou e lhe deu todas as referências pessoais e literárias. O sentido de justiça — dos homens e de Deus, o papel do indivíduo na comunidade, um sentido comum da História. Foi no Sul que conviveu com a pobreza — apesar da sua família ser considerada rica —, com a violência e o crime numa sociedade bastante estratificada e com marcas muito vivas da escravatura.
Foi também no Sul que assistiu ao grotesco muitas vezes enraizado numa religiosidade extremada, e conheceu uma profusão de personagens excêntricas em permanente deriva, pela loucura, pela alienação, pela crença exacerbada num qualquer tipo de salvação. Isso coloca-o naturalmente no mesmo universo de onde saíram escritores como Flannery O’Connor, Eudora Welty ou William Faulkner, nomes associados ao chamado South Gothic, termo supostamente criado pela escritora Ellen Glasgow (1873-1945) com uma conotação negativa. Ela apontava o dedo aos góticos do Sul pelo uso de violência gratuita e abusarem de “pesadelos fantásticos” nos seus livros. Mas o que é ser um escritor do Sul? Flannery O’Connor terá dito, numa frase já muito citada: “O Sul é uma narrativa própria. O escritor do Sul sabe que pode levar mais justiça à realidade contando uma história do que discutindo problemas ou propondo abstrações.” Não se sabe se Cormac McCarthy alguma vez comentou a definição de Flannery, mas a sua literatura parece concordar com ela. Só que ele estendeu essa geografia a Oeste.
Cormac nasceu em Providence, estado de Rhode Island, na costa Leste dos Estados Unidos, filho de uma família de irlandeses católicos, em 1933. Deram-lhe o nome de Charles Joseph McCarthy Jr. e ele escolheu chamar-se Cormac, o gaélico para Charles. O pai era advogado e, tinha Cormac quatro anos, foi colocado em Knoxville, junto dos montes Apalaches, no Tennessee. Durante a infância e a juventude, Cormac nunca se interessou por livros ou pela leitura, desistiu da universidade e aos 23 anos foi servir o exército americano para o Alasca. Aí, leu para matar o tédio e soube que iria escrever porque não tinha jeito para mais nada. As suas suspeitas confirmaram-se. Tinha talento. Foi ganhando pequenos prémios literários e em finais da década de 50 começou a escrever o seu primeiro romance, O Guarda do Pomar. O livro centrava-se na relação entre tio e sobrinho numa pequena cidade do Tennessee e trazia já muitas marcas de McCarthy, entre elas o isolamento e uma espécie de visão bíblica do mundo, não no sentido de fé, mas mais de julgamento, um anúncio do fim dos dias. O livro foi publicado em 1966 e ganhou o William Faulkner Foundation Award.
Depois disso a história de vida de Cormac MacCarthy pode resumir-se rapidamente. Aplaudidos pela crítica, os seus romances vendiam pouco, mas ao contrário da maioria dos outros autores da sua geração ele recusava escrever para jornais, fazer crítica, dar aulas. Vivia espartanamente onde podia, e escrevia ao seu ritmo, quase sempre lento. Em 1981, ano em que ganhou o McArthur Fellowship, bolsa de criação destinada a “génios”, tinha publicado quatro romances: Nas Trevas Exteriores (1968), Child of God (1973) e Surtree (1975), além de O Guarda do Pomar. Saul Bellow fez parte do comité que lhe atribuiu a distinção. Elogiou-lhe “o uso absolutamente avassalador da linguagem”, acrescentando: “as suas frases dão vida e são mortíferas”. Nessa altura, já estava em El Paso. Mudara-se em 1979. Foi só aí, quando escreveu Belos Cavalos, que o amor, no caso a atracção entre um homem e uma mulher, entrou timidamente na sua literatura. A suas personagens eram masculinas, era deles a solidão e eles os únicos elementos no apocalipse. Em 1992, o crítico Richard B. Woodward escrevia no New York Times: “a sua visão apocalíptica raramente se foca nas mulheres. Não escreve sobre o amor, sexo, assuntos domésticos”. Trilogia de Fronteira surge nesse ano e revela-o mais próximo desse mundo “de casa”.
A obra foi construída a partir de um lugar que carrega marcas, cicatrizes e feridas nunca saradas que se manifestam na sua história presente. Essa é uma travessia que interessa a McCarthy. E tem-se perguntado muitas vezes “porquê a partir de El Paso?”. Benjamin Alire Sáenz, poeta, escritor natural desta fronteira no Texas arrisca uma resposta em conversa com o P2: “McCarthy compreendeu El Paso quando a definiu como a última grande cidade da América que está por descobrir. Acho que ele disse isso no sentido em que as pessoas não a consideram como uma capital com cultura. Ele percebeu que tem, e que tem importância cultural, e esse espaço, só por si, tem alguma coisa para dizer sobre a condição humana.”
O bar da coabitação
El Paso nasceu em 1859, mas só em 1899 começou a crescer, quando o comboio ali chegou. Mais de cem anos depois, Cormac McCarthy ouviu-o numa noite, ao longe, enquanto o filho dormia. Foi à janela, viu as luzes da cidade que se colam às luzes de Juarez num manto único iridescente e imaginou as montanhas à volta em chamas. Era o princípio do apocalipse que se pode acompanhar em A Estrada, livro que publicou 2006, e lhe valeu o Pulitzer em 2007, e que dedicou a esse seu segundo filho, John Francis McCarthy, actualmente com 18 anos (fruto do seu terceiro casamento, com Jennifer Winkley). Em 2006, após o divórcio, mudou-se para Santa Fé, no estado vizinho do Novo México. É lá que vive e é lá que estará a escrever — especula-se — o seu próximo romance, The Passenger, com uma mulher como protagonista e Nova Orleães, onde viveu brevemente na juventude, como cenário.
Benjamin Alire Sáenz conheceu-o quando McCarthy vivia em El Paso, mas não se lembra de nenhuma conversa importante entre ambos. Os seus nomes costumam estar juntos quando se fala de escritores de fronteira. “O que define um escritor de fronteira não é o espaço geográfico. Um escritor de fronteira escreve sobre o seu sítio, claro, mas quando se vive num território de fronteira isso dá-nos uma perspectiva diferente sobre muitos temas. Por exemplo, o nacionalismo. É-se automaticamente crítico porque isso nos limita a uma nação quando pertencemos, neste caso, às duas e não pertencemos a nenhuma. A fronteira é um espaço de liberdade a que nos habituamos. Sou um escritor americano, mas não me sinto assim e também não sou um escritor mexicano, mas sou. Não preciso de uma coisa nem de outra”, refere, enquanto sublinha que “a fronteira pode ser uma metáfora, mas é também uma paisagem com matéria prima-real”. Em síntese: “ser um escritor da fronteira é olhar para nós próprios como sendo cidadãos e escritores do mundo. A tendência em falar sobre um escritor de fronteira é encará-lo como provinciano. É o oposto.”
Muita da literatura que se escreveu é do tempo da livre circulação na fronteira. Com Cormac McCarthy, os viajantes solitários atravessavam como podiam, onde queriam. Em Manual Para Mulheres de Limpeza, Lucia Berlin, a escritora nascida no Alasca em 1934 e criada em El Paso, conta sobre como se andava por ali, comendo nos cafés de Juarez e El Paso como se se estivesse em casa. Lucia podia ter sido personagem de McCarthy se ele algum dia tivesse escrito sobre mulheres. Pela solidão, pela tragédia, por viver no limite do sofrimento. No caso de Lucia, com muito humor, menos negro do que o de McCarthy. Um e outro exploraram a fronteira como lugar que conheciam. Lucia fez disso quase autobiografia, McCarthy transforma-a numa sofisticada parábola dos tempos modernos. “Esta é uma fronteira sensível, mítica, com muitas implicações políticas”, diz Steven Frye. “Mas é também a fronteira entre bem e mal, entre o sonho e a consciência de si. Há todo o tipo de fronteiras a atravessar ali”. Refere-se agora em concreto à Trilogia de Fronteira.
Autor de uma vasta obra, Benjamin Sáenz nasceu numa pequena vila do Novo México, Old Picacho, em 1954. Estudou filosofia, teologia e durante alguns anos foi padre católico em El Paso. Em 1985 desistiu, voltou à universidade e começou a escrever poesia e livros para crianças. O primeiro romance, Carry Me Like Water, uma saga familiar com muito do realismo mágico e dos clássicos vitorianos, foi publicado em 1996, estava McCarthy a meio da sua trilogia. Em 2000, com 54 anos, assumiu-se gay, contou que fora sexualmente abusado em criança e começou a explorar o tema LGBT na sua escrita. “Há uma diferença entre o meu trabalho e o de McCarthy”, ri, continuando a falar sobre o que é estar na fronteira, real e metaforicamente: “ele é muito melhor escritor do que eu. Além de que temos uma essência diferente na literatura que fazemos e no que somos neste país. McCarthy é branco de boas famílias, do Sul. Eu sou mexicano-americano da fronteira e nasci numa família muito pobre. Somos pessoas muito diferentes, e vimos de sítios muito diferentes. Ele veio viver para El Paso já com uma certa idade e foi embora. Eu vivi na fronteira toda a vida e não vou a lado nenhum. Porque não quero ir. Não vim aqui ficar por uns momentos. Esta é a minha casa. Para mim não viver na fronteira é viver no exílio. Porque é que eu haveria de escolher viver no exílio?”
Vive junto ao centro de El Paso, 35 minutos a pé do Kentucky Club, um bar que considera ser um símbolo do que é a fronteira, metáfora de encontro entre americanos e mexicanos. O Kentucky Club fica do “lado de lá”, quando se está em El Paso, em Ciudad Juarez, na Avenida Benito Juárez, a artéria que é a continuação, no México, da El Paso Street à saída dos Estados Unidos. É sempre a mesma rua, num país e outro, seguir nela é ir em frente pela ponte onde está a fronteira internacional, só passar os postos de controlo que “excluem apenas os pobres”, acusa Sáenz.
“É um bar. Abriu quando houve A Lei Seca nos Estados Unidos [decretada em 1920, proibia o fabrico, transporte e venda de álcool no país], chamaram-lhe Kentucky porque fabricava o Kentucky Bourbon”, conta, referindo-se a uma das bebidas mais populares na América. Fala daquele lugar com paredes verde-garrafa cheias de fotografias de ilustres da História e cantores populares como o “sítio de todos” e dedicou-lhe um volume de contos, Everything Begins and Ends at the Kentucky Club (2012). “Tem um grande significado histórico e tornou-se uma metáfora de coexistência. A El Paso da minha geração e da anterior, e também a seguinte conhece o Kentucky Club. Os bares são uma espécie de templos e aquele é um tempo que serve os dois lados da fronteira. Muita gente famosa ia lá para conseguir um divórcio rápido em Juarez. Marylin Monroe, Elizabeth Taylor passavam por ali e tomavam uma bebida. E costumava-se ir ao Kentucky quando havia touradas em Juarez. Conseguiam-se lá os bilhetes”. Diz-se que a margarita foi criada lá.
O princípio da transitoriedade
Na rua, o calor persiste. A sombra mal se vê no chão. O sol está a pique. Algumas pessoas caminham em passeios pouco povoados, muitas lojas fechadas, outras em trespasse, edifícios de início de século meio abandonados, janelas com vidros partidos e uma ideia de opulência perdida. Mas reconstrói-se. O centro parece um grande estaleiro. Num banco, um homem de guarda-sol aberto vê quem passa e um rapaz limpa o suor do rosto com a T-shirt que carrega sobre o tronco nu. Mas há quem diga até que está mais fresco. Mais fresco do que o quê? “Do que ontem”, responde a rapariga que serve café gelado numa esplanada junto ao teatro. Há borrifos de água a cair do toldo. Um casal de motards senta-se e pede água gelada e ouve-se um sino, apesar de não serem horas certas. Ao forasteiro, nada o faz esquecer que está num lugar limite. Os de lá, sabem disso. Pela geografia e pela inclemência que ela impõe, mas também pela incerteza do que virá depois.
John Grady, o protagonista de Belos Cavalos parte para a sua descoberta de si tendo bem presente a última coisa que o pai lhe disse. “As pessoas já não se sentem seguras”, era uma lição sobre a mortalidade das civilizações e o papel de cada homem nesse efémero colectivo. Continuava o pai: “Somos como os comanches eram há duzentos anos. Não sabemos o que vai acontecer à nossa porta quando romper a alvorada. Nem sequer sabemos de que cor serão os fulanos.” A paisagem no entanto, mantém-se, espectadora impassível pela sua dureza e quase esterilidade. É o deserto, lembrará alguém. Fez-se sentir logo à chegada, ainda não se tinha visto nada. Como referiu McCarthy na mesma entrevista de 1992, não se chega ao Texas virgem sobre o Texas; já se leu, viu e ouviu tanto que logo ao primeiro impacto há o confronto com o mito ou com o cliché. Ou seja, entre o modo como a história foi sendo contada e a história que é preciso contar para se entender alguma coisa. É nesse intervalo que encontramos a literatura de Cormac McCarthy.
Continuamos com Benjamin Sáenz. “Subestima-se o que acontece no território de fronteira entre o México e os Estados Unidos. Culturalmente, naturalmente, economicamente. Ignoramos. Os americanos e a comunidade internacional. Todos os países do mundo têm um tipo qualquer de relação com os EUA e se não entendem o que se passa na fronteira não entendem realmente o que são os Estados Unidos. Embarcamos em clichés e em deturpações, seguimos o mau jornalismo, ignora-se o que foi escrito antes. Há um olhar cego…”
McCarthy escolheu esse lugar, de génese ou êxodo, para se aproximar de respostas, perseguindo o lado selvagem da natureza e do homem, povoando o território de criminosos, loucos, gente amoral e descendo com eles ao fundo da condição humana, devolvendo-a violenta, inclemente, naturalmente sangrenta e procurando nesse aparente caos alguma ordem antes de novo regresso ao caos. Nisso, é quase religioso. “Não há vida sem matança”, afirmou o escritor em 1992, o ano da publicação de Belos Cavalos — curiosamente o livro onde a violência de McCarthy se torna mais suportável —, para sublinhar que ele escreve do lado da vida mesmo que não haja nenhum autor contemporâneo “a escrever tão bem sobre a morte”, como referiu por sua vez ao P2 Don B. Graham, escritor e professor na Universidade do Texas, em Austin, onde tem uma cadeira sobre Cormac McCarthy desde o final da década de noventa.
Don é um apaixonado pelo escritor, nunca o conheceu pessoalmente, mas já teve zangas públicas com ele. Não lhe perdoa, por exemplo, a ida ao programa de Oprah Winfrey, em 2006, quando publicou A Estrada depois de ter rejeitado todos os convites para homenagens locais, evocando uma privacidade que quebrou porque não foi capaz de dizer não ao maistream. Em 2008, Don Graham publicava no Texas Monthly um artigo sob o título Please Go Away, e num tom familiar dirigia-se directamente ao escritor: “Ao assistir ao teu surgimento enquanto celebridade pública, descobri uma coisa que já sabia até certo ponto: a maior parte dos escritores falha quando tenta impressionar falando de qualquer outra coisa que não a sua escrita.” E pedia-lhe que regressasse à sua toca.
É Paulo Faria, tradutor português de Cormac McCarthy, quem conta como poucos a relação entre o escritor e o lugar de escrita no prefácio de A Travessia, segundo livro da trilogia. “‘Acho que foi a escrita dele que o levou até lá.’ Foi assim, com esta frase luminosa, que Jim Long, amigo de infância de Cormac McCarthy, me explicou a inflexão ocorrida na obra deste com Meridiano de Sangue (1985), deslocando o eixo da sua escrita dos Apalaches para o Oeste Selvagem. Jim Long, o J-Bone que McCarthy imortalizou em Surtree (1989), não andou na universidade, não concluiu sequer o liceu, mas resumiu nesta formulação tão bela o que uma legião de críticos literários nunca exprimira com tanta clareza. Cormac McCarthy, o escritor da aridez e do silêncio que antecede o trovão, poeta da brutalidade e da luta do ser humano contra a inevitabilidade do caos, das convulsões viscerais da vida orgânica e dos cataclismos geológicos, cronista das cicatrizes do passado a cauterizar a pele do presente, Cormac McCarthy tinha inevitavelmente de povoar com a sua prosa, alterando-a e redesenhando-a, a imensidão da paisagem árida do Oeste selvagem e também esse outro mundo misterioso, cativante e ameaçador: o México.”
Nesse processo, Steven Frye compara-o a um “olheiro” cruzando o Texas, Novo México, Arizona e depois, atravessando o Rio Grande e já no México, Ciudad Juarez, Sonora e Coahuila em busca do lugar certo que lhe permita o acesso ao mais recôndito, doloroso e humanamente suportável e ver como se resiste — se for possível resistir — nesses limites. “Ele usa o lugar como um meio de ir muito fundo em temas filosóficos”, continua Frye, afirmando que essa é a grande marca de Cormac McCarthy, um grande observador do que o rodeia e que sabe passar ao papel como poucos.
Segue-se do centro para norte, a pé. “Pode-se caminhar à vontade, mesmo de noite”, as palavras de Carlos ecoam. Chega-se ao primeiro bairro habitacional a ser construído em El Paso, em final do século XIX. É um núcleo urbano de ruas largas vivendas com jardim, muito espaço. Chama-se Kern Place e foi o bairro onde Cormac McCarthy viveu. Não se vêem pessoas na rua. “Toda a gente se desloca de carro por aqui, à excepção do centro”, diz em espanhol uma mulher que corre para uma boleia.
Como na baixa de El Paso, Cormac McCarthy também é invisível por ali. Robert Moore era vizinho dele. Vivia na esquina da minha rua”, conta. “Era muito reservado. Poderia ser visto na mercearia mas nunca dava discurso públicos. Vinham pessoas de fora ver a casa de Cormac McCarthy. Ele vendeu a casa e quem vive lá imagino que não a sinalize.” Era outra vez a tentativa de compreender o enredo. McCarthy foi a El Paso para reinventar a fronteira e devolvê-la enquanto parábola. Uma parábola sobre o fim da civilização ocidental? Frye responde: “Dizer que ele escreve sobre a decadência da civilização ocidental é valido, mas ele está mais preocupado com a ideia de que há uma transitoriedade para todas as coisas. Não apenas para a civilização ocidental, mas para qualquer civilização. Ele usa frequentemente imagens primordiais e de rituais. A grande experiência em McCarthy é que ele quer ver como é que os seres humanos, as personagens, podem conter e lidar com essa transitoriedade.”
No fim de Belos Cavalos, John Grady continua sozinho, ele e a aridez onde espera descobrir-se. Não é um fim, porque isso não existe enquanto tal na escrita de McCarthy. O tempo é eterno, mas nós não e é o tempo o que ele se propõe seguir, é esse o rasto que persegue, como uma poeira vermelha a sair dos cascos do cavalo de John Grady no crepúsculo do deserto.




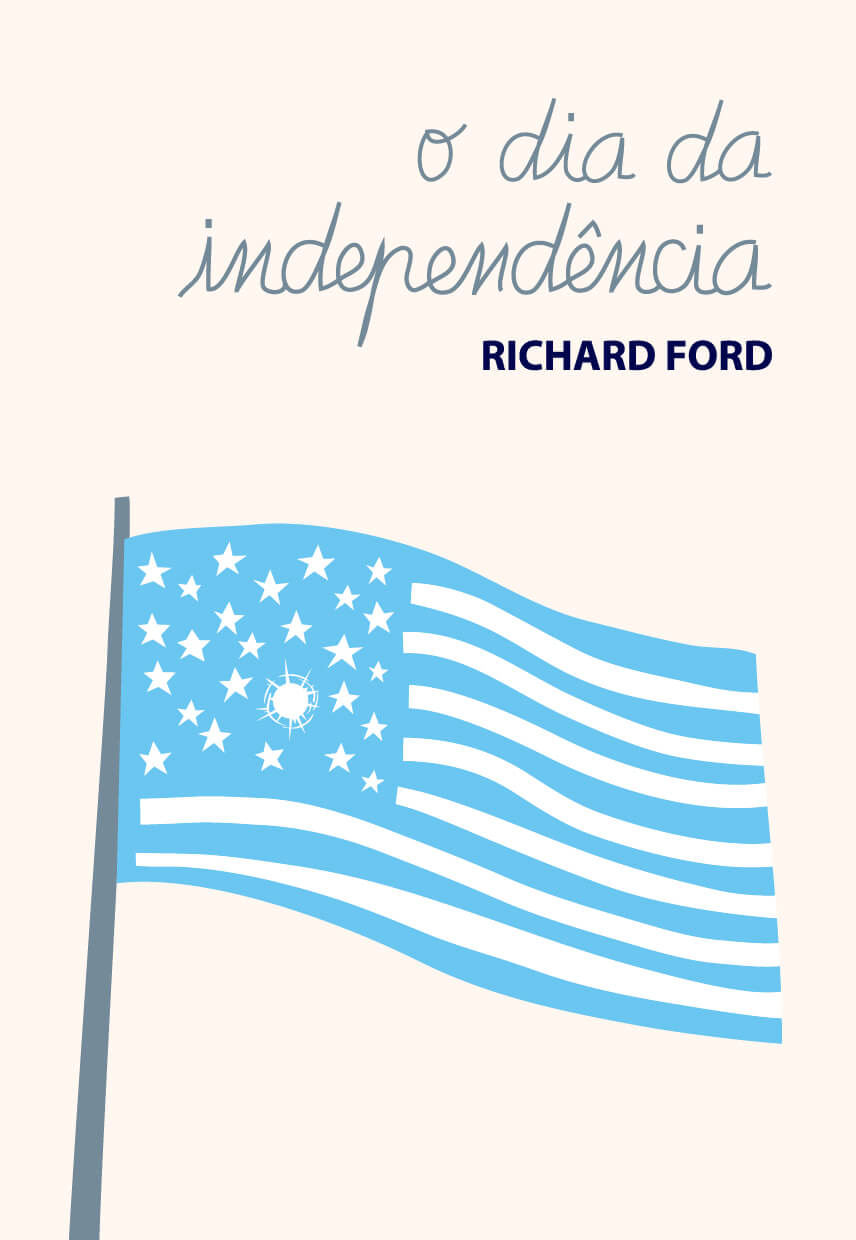

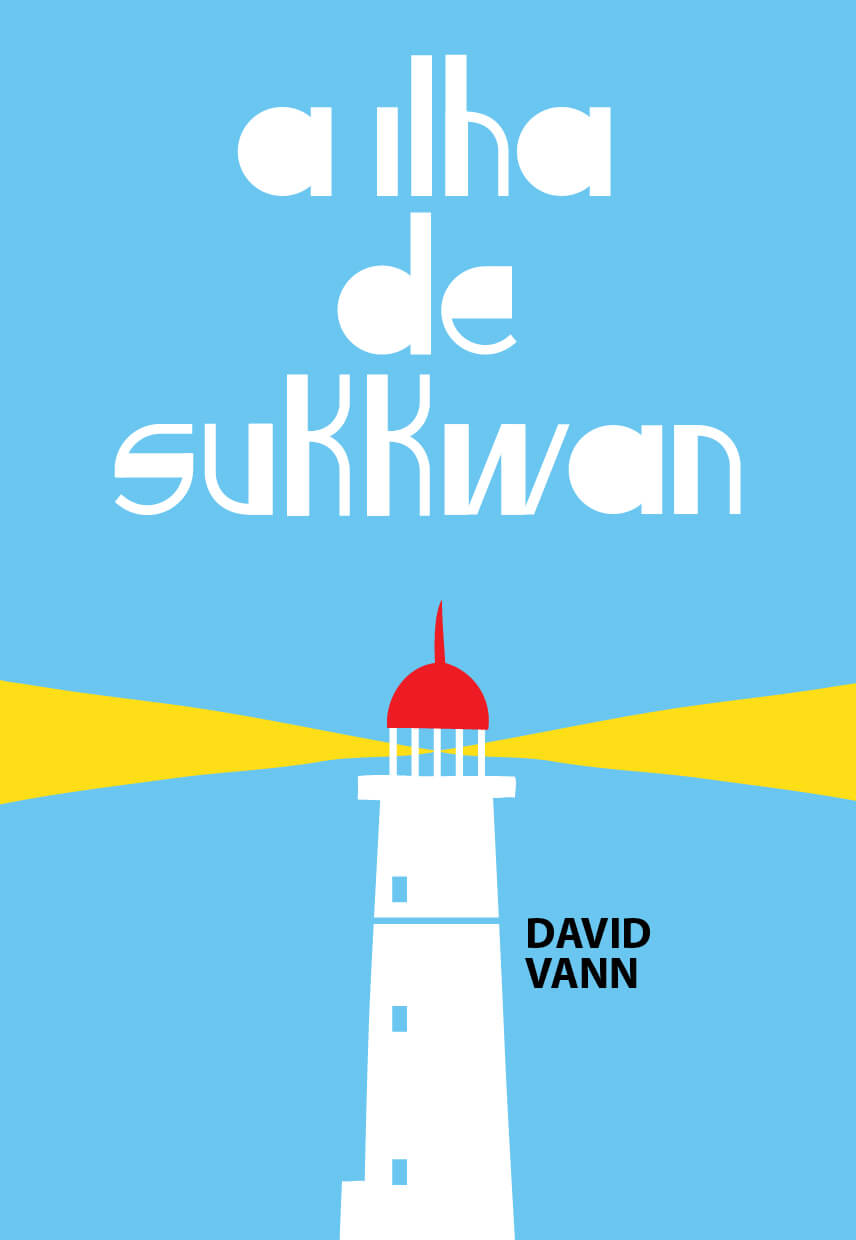
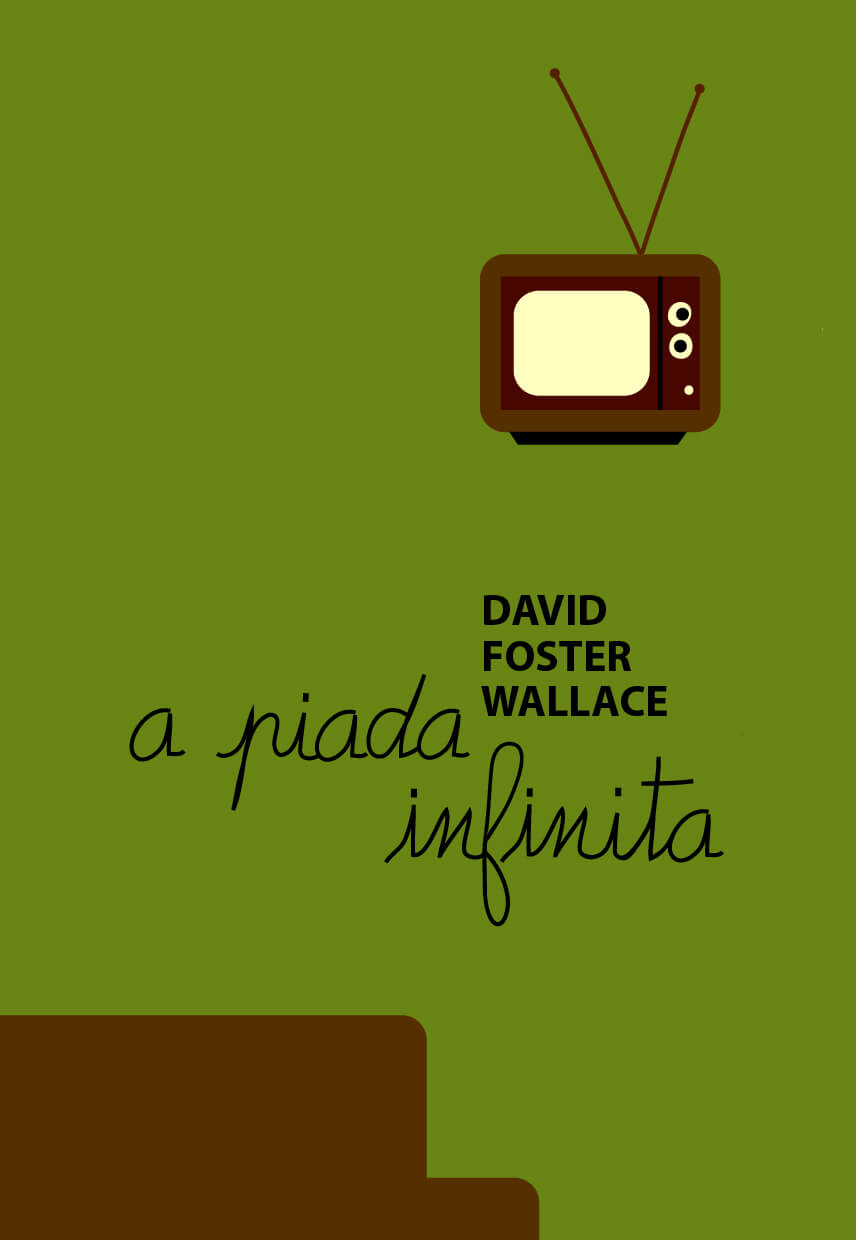


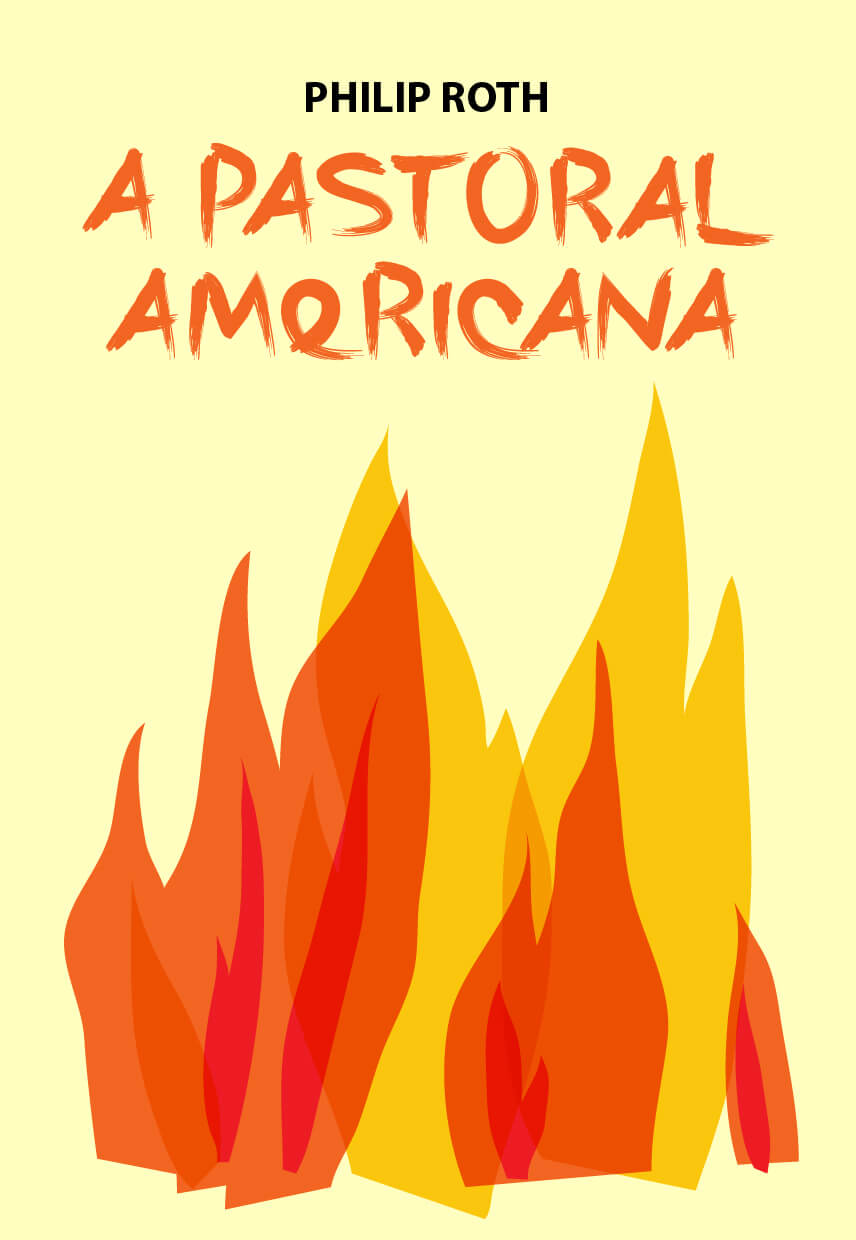
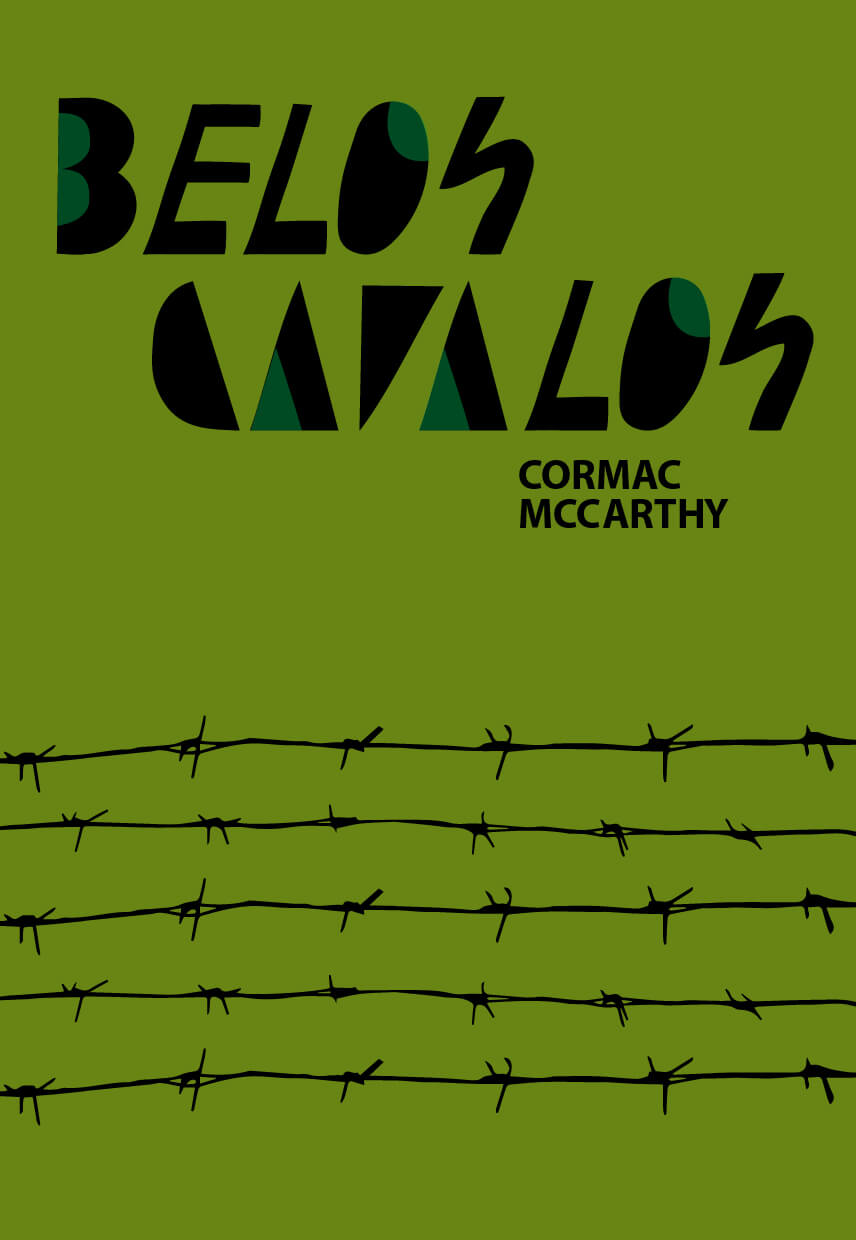
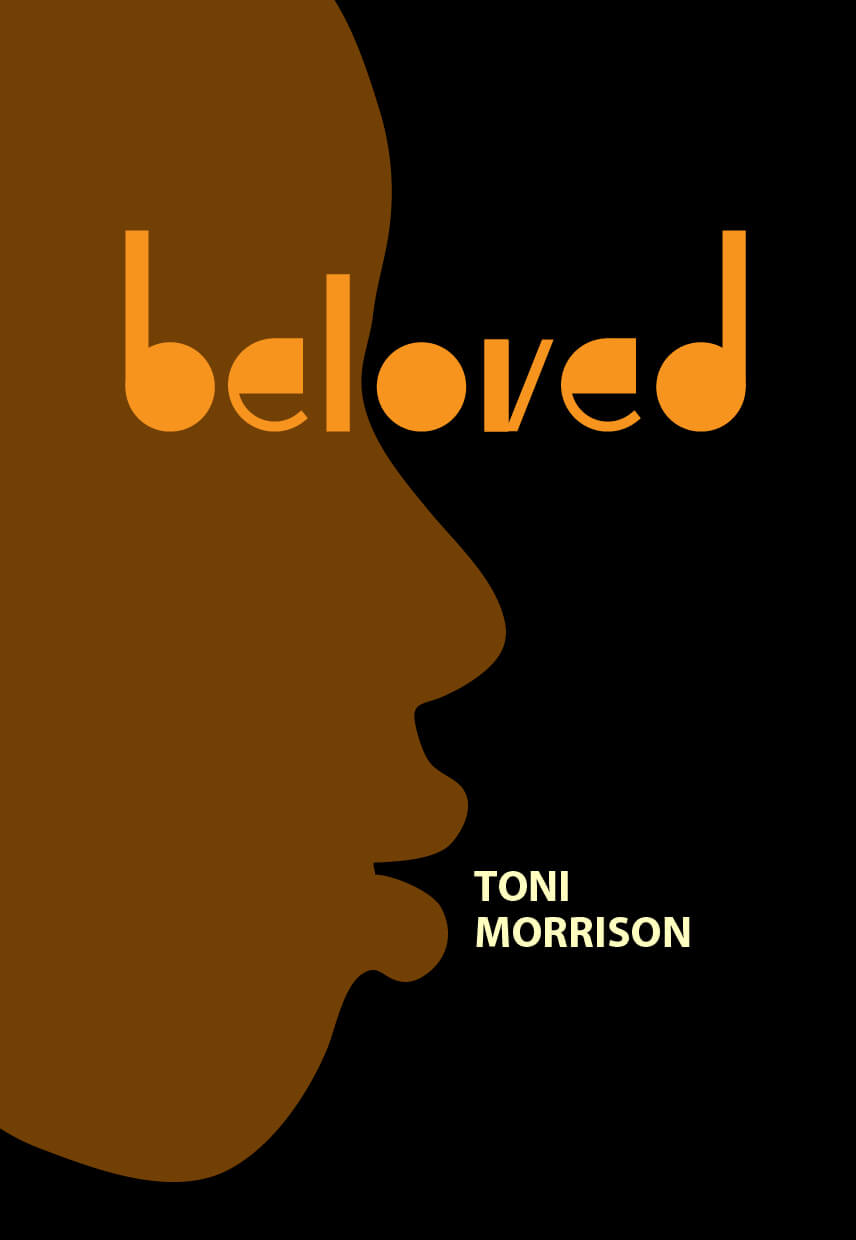
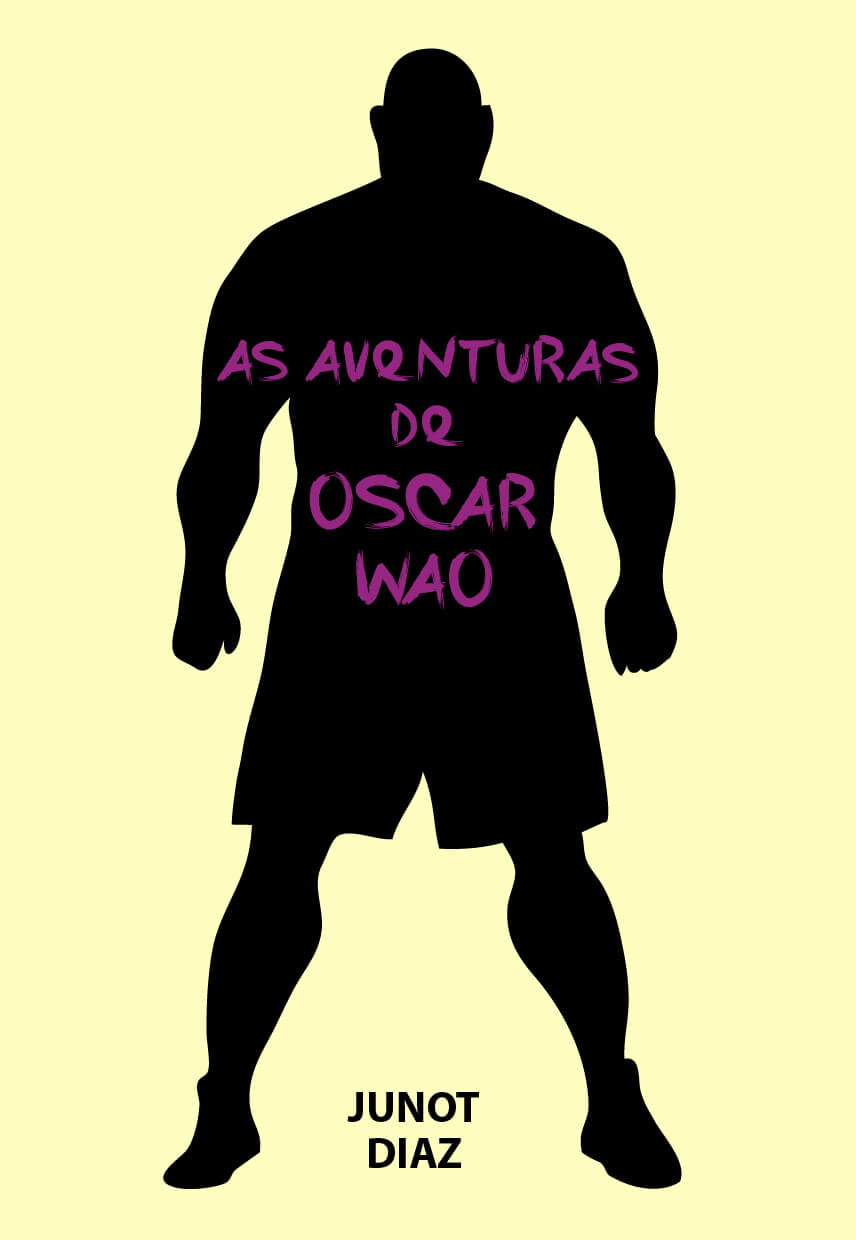



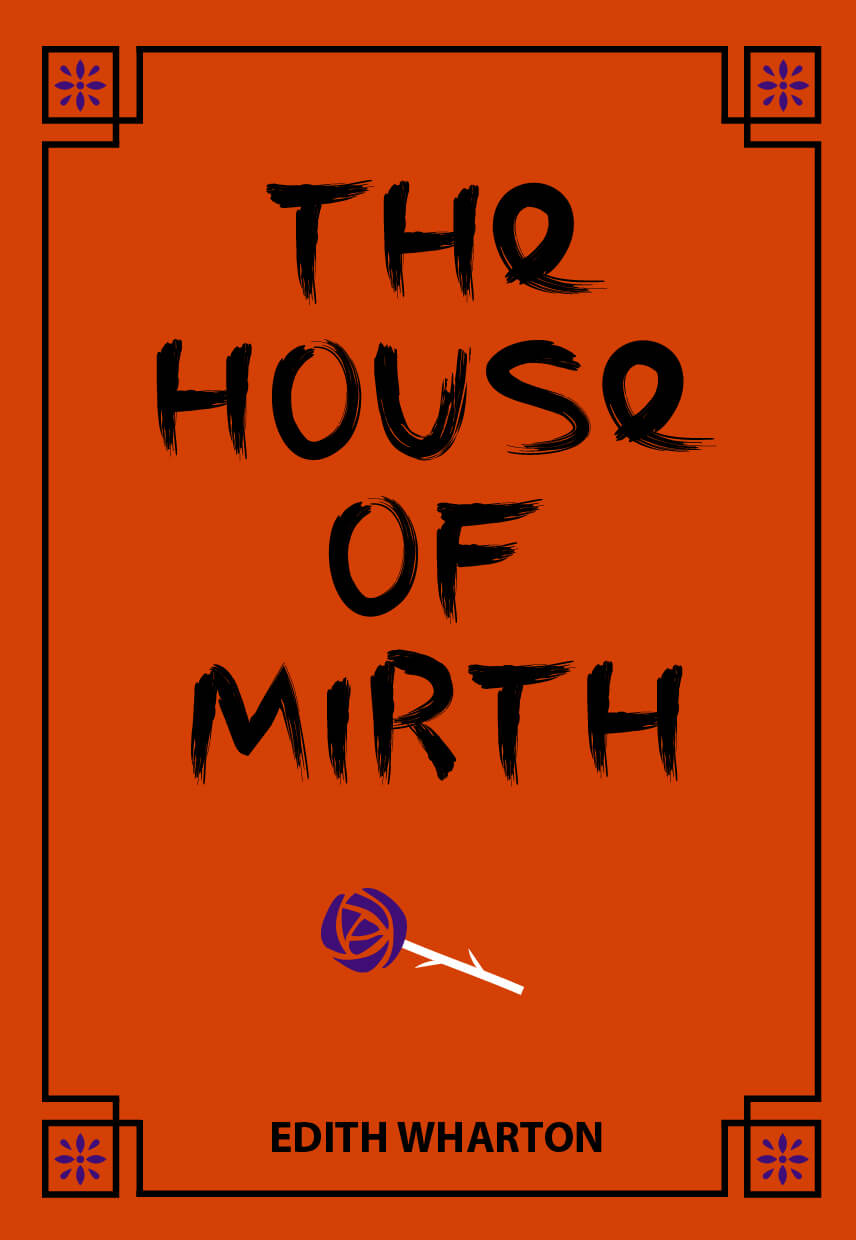



Comentários