A confiança nas grandes cidades – e mesmo fora delas – está mesmo ali à esquina. Literalmente. É naquele café que os miúdos comem um bitoque quando a comida na escola “não presta” (leia-se peixe). “A mãe paga amanhã, pode ser?” Claro que pode. Também é lá que fica a chave de casa, a salvo de crianças com grande tendência para tudo perderem, para que ninguém fique à porta. A confiança é mútua. E circula, sólida, por entre as ruas do bairro, em Lisboa, no Porto, pelo país fora.
O fiado ainda existe?, há quem pergunte, na dúvida. Existe, sim senhor. Talvez não seja o fiado do século passado, inscrito em cadernos de capa preta, rasurado ao fim de um mês, quando finalmente chegava o dinheiro. Agora é mais o “posso pagar amanhã?”, um crédito sem data marcada, por vezes até sem livrinho onde assentar as contas. Um crédito alicerçado nos laços de vizinhança, num conhecimento de anos, na certeza que o outro é de confiança.
Mas para que essa confiança se entranhe há ingredientes essenciais. O mais importante é o comércio de proximidade, os senhores Josés, Antónios, as donas Marias, que subsistem nos bairros mais antigos e que com os vizinhos foram estabelecendo laços a que chamam, sem hesitação, “familiares”.
Esta “família” não medra em qualquer lado. Precisa de um bairro que seja mais do que um mero aglomerado de ruas. Tem de ser daqueles onde ainda há o bom dia, a boa tarde e a boa noite; onde se pergunta pelos filhos, pela saúde, enfim, pela vida; onde se conhecem as caras, há muito, a maioria das vezes desde o tempo em que a pele da cara era uma tela esticada que se foi vendo engelhar. “Nas zonas mais novas ou mais turísticas da cidade, nos dormitórios, já não se pratica o fiado”, assegura Carla Salsinha, presidente da União das Associações de Comércio e Serviços (UACS). “As pessoas não se conhecem….”, explica.
O bairro
Acabada de chegar ao bairro da Madragoa, vinda de outra zona de Lisboa desertificada pelos serviços, a espontânea familiaridade intimidava. Era a cliente, mas a desconfiança morava mais do lado de cá do que do de lá. “Quanto é?”, perguntava na mercearia do sr. António. “Ó menina, deixe lá, paga depois.” Nunca o via apontar nada. “Na hora de fechar as contas, este vai meter a mão, está-se mesmo a ver”, pensava, taxativa nos julgamentos apressados do alto de uns tenros 20 anos.
Talvez metesse, ninguém controlava. Mas para o sr. António sobravam apenas as pequenas compras, esquecimentos de quem se abastece a sério no supermercado. “Ó menina, eu só quero que continue a vir aqui, não se esqueça de mim”, pedia amiúde. Se cobrava, ou não, mais pacotes de açúcar do que realmente vendeu, já ninguém levava a mal. Era um pequeno contributo para o comércio local, uma desculpa para ver um sorriso iluminar uma cara engelhada.
Do outro lado da rua, o talho fazia o mesmo. Já não num caderno de capa preta, mas num bloco comum, cada vizinho tinha direito à sua folha. Nelas se reflectia a solidão de quem já só consumia para si mesmo. As famílias grandes migraram para os supermercados, onde a carne é mais barata. “Mas não é tão boa”, jurava o sr. Luís. Verdade comprovada. Nos dias imprevidentes, com a despensa em baixo, lá atravessavam os miúdos a rua para comprar o jantar, pendurando a conta. A prática instalou-se. O sr. Luís nunca conseguiu substituir o supermercado, mas ganhou o seu espaço, deu a sua confiança e ganhou a nossa.
Mais acima, na farmácia, os idosos tentavam evitar aviar toda a receita, perguntando, envergonhados, quais seriam os medicamentos que não lhes eram vitais. Nem pensar, ripostava “a doutora”, como todos lhes chamavam: “Paga quando puder, era só o que faltava.”
Passeio abaixo, passeio acima, da drogaria ao alfaiate, só se pagava quando tinha mesmo de ser ou se insistia muito. Esta era uma maneira de manter os laços, a fidelidade. A confiança.
Assim era o bairro da Madragoa na década de 90 do século passado e na primeira deste século. Agora, o sr. António fechou a mercearia, porque os anos entorpeceram-lhe as pernas e o ânimo, o talho foi expulso pela lei das rendas e a farmácia fechou pelo cansaço da doutora, face a um modelo de negócio que já não compreendia nem aceitava.
E agora o século XXI destruiu este alicerce de confiança? Nem pensar. Aos cafés, padarias, drogarias que sobreviveram juntam-se agora os indianos. Sim, também eles confiam em nós, porque querem que regressemos. O mundo muda, as cidades evoluem, mas as pessoas são as mesmas, carentes de laços.
Um lastro antigo
Numa pequena mercearia na Rua de S. José, aberta desde 1900, o senhor José Santos acumula memórias e histórias. De um tempo longínquo, recheado de pobreza e solidariedade. O seu tio, o senhor Costa – que ainda dá o nome ao estabelecimento –, era um homem “como já não há”. Ajudava toda a gente, “dava muito bodo”. A todos fiava, a muitos ajudava, lembra o sobrinho: “Antes do 25 de Abril, houve uma noite que viu um casal com um filho a dormir nas escadas de um prédio, acercou-se e eles assustaram-se, juraram que se iam embora. Respondeu que não era isso que queria, só lhes queria dar uns cobertores.”
Nessa altura, o fiado era a prática e “todos pagavam ao fim do mês”. Mas também “comprava-se pouca coisa, era tudo mais barato”, diz. Agora “o que mais há são cravas, pagam dois ou três meses e desaparecem”, conta, triste.
Acumula calotes, alguns tão antigos que já nem liga, diz, enquanto abre o caderno onde aponta os fiados. Então já não fia a ninguém? Sim, ainda sim. “Há menos confiança, não podemos facilitar, mas ainda dou”, admite.
Um pouco mais acima na rua, o senhor Ribeiro é mais cauteloso: “Tenho de conhecer há muitos anos.” Quando aparece um desconhecido a pedir, já tem a desculpa pronta: “Sou o empregado, não sou o patrão, não posso fazer isso.”
Umas portas abaixo, Lúcio de Almeida conta a sua receita para se defender dos que quebram o código da confiança: estabelecer um limite – “Vinte a 30 euros e não há mais. Se depois desaparecerem, já não dói tanto”, explica. A sua total confiança é, nestes dias, apenas dada a empresas, mais certas nas contas.
Mas os calotes são de hoje? “É claro que não, sempre houve, mas está pior”, afirmam todos. “Mas, sabe, isto não é só aqui. A minha filha emigrou para França, onde abriu um estabelecimento, e há tempos ligou-me muito espantada: ‘Ó pai, não vais acreditar, aqui também pedem fiado’”, conta José Santos.
Teias de solidariedade
Mas, ainda hoje, ninguém nega ajuda. A fruta é dada a crianças e idosos. “O comércio tradicional continua a cumprir um papel de apoio social, talvez o faça hoje com mais cuidado, mas continua a ser prestado”, assegura Carla Salsinha. E esse apoio não é só em géneros. “Tomamos conta dos nossos idosos, vemos se continuam a passar para nos cumprimentar, quando passa um tempo sem aparecer, vamos procurar, damos o alerta”, relata.
“O fiado era um serviço prestado à comunidade, sobretudo nos bairros operários onde os comerciantes sabiam que, se não fossem eles, as famílias não comiam”, explica Daniel Alves, historiador da Universidade Nova de Lisboa que estudou o comércio em Lisboa de 1870 a 1910. “Também não venderiam, se não dessem fiado”, acrescenta.
Estes comerciantes do início do século passado constituíam também um sistema bancário paralelo às instituições de crédito oficiais. “Aos clientes que pagavam sempre era concedido crédito com juros”, adianta o historiador. A ele recorriam aqueles que não reuniam todas as condições para ir ao banco.
Havia pois o crédito em géneros e em dinheiro. A todos se aplicavam juros: “Havia a ideia de que o lojista que dava fiado vendia mais caro, os juros estavam implícitos.”
Talvez hoje ainda seja assim, as lojas de bairro são geralmente mais caras, pois não têm economias de escala para praticar preços competitivos. Talvez, também por isso, acrescentem um “juro” aos produtos que deixam os clientes levar sem pagar no momento: a confiança.
Uma confiança que muitos juram não dar. Um pouco por todo o lado, nas pequenas lojas e cafés, das prateleiras espreita o Zé Povinho a fazer um manguito e a jurar que “aqui não se fia”. Também pululam os azulejos com dizeres vários para afastar os cravas. Mas não é verdade. A porta pode já não estar escancarada, mas continua entreaberta – porque queremos confiar.



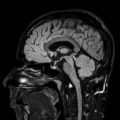























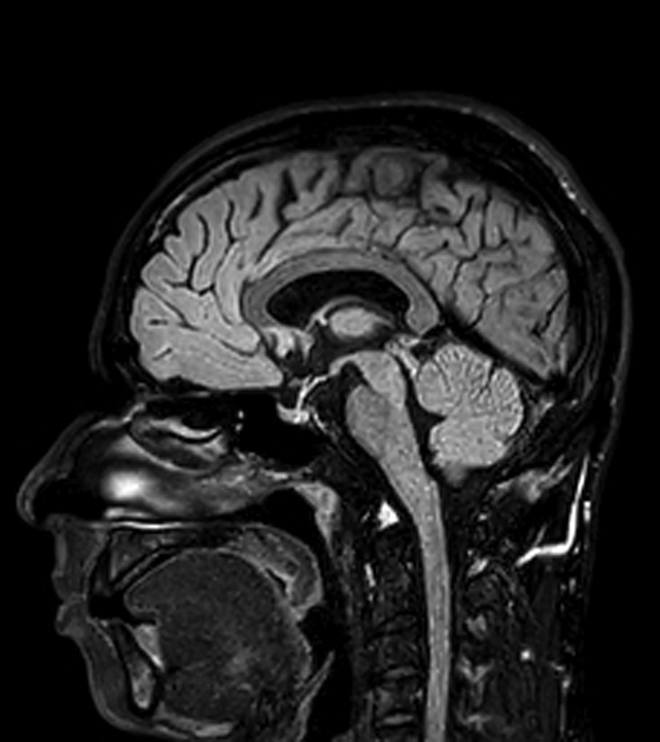










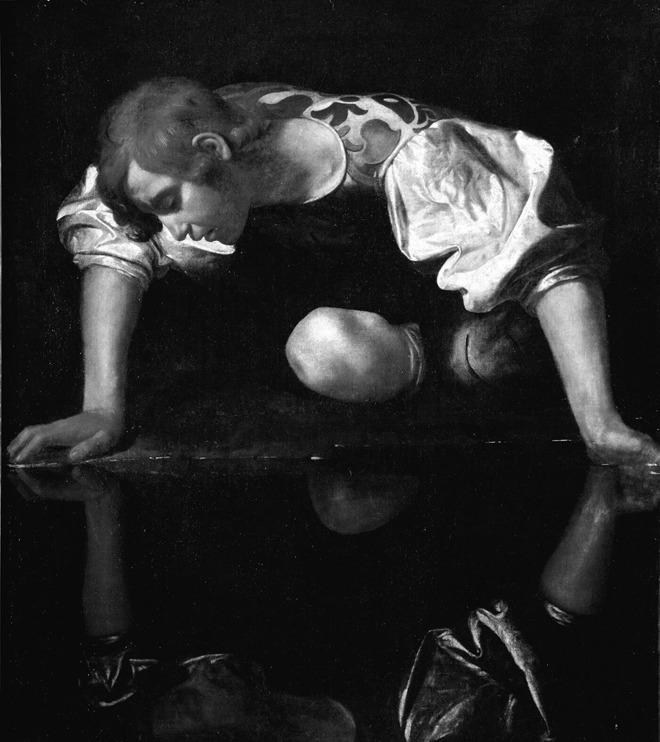












Comentários