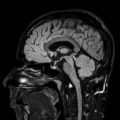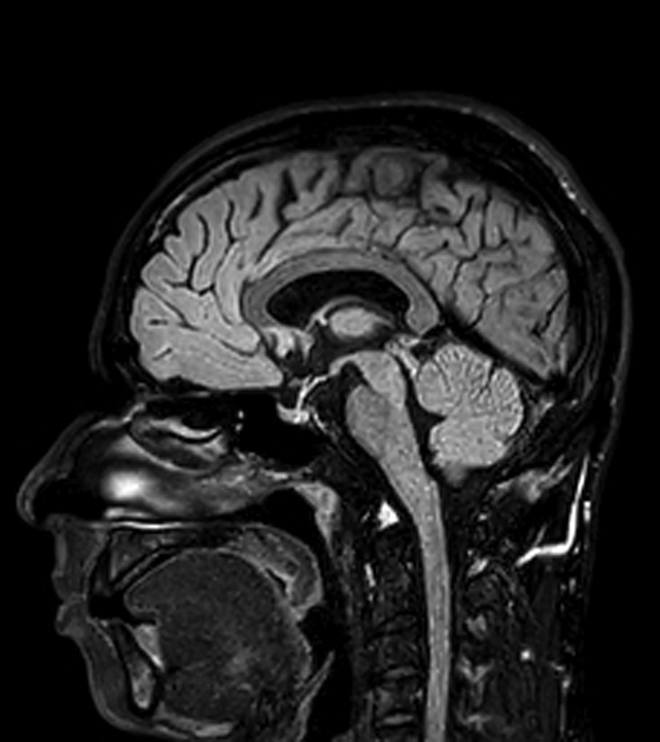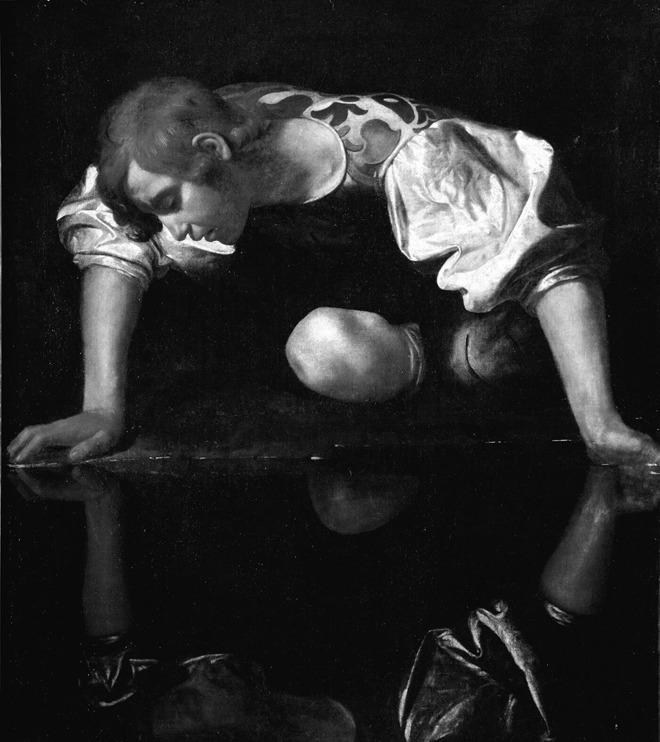Dezanove ideias sobre o estado da confiança em Portugal
Confiamos nas instituições, nas ideias, nas representações? Confiamos no presente? No futuro? Temos enquanto país valores, razão e causas para acreditarmos na política, no futebol ou nos jornais. O PÚBLICO pediu a resposta a 19 personalidades da vida pública.
1.
As arbitragens na Primeira Liga garantem a verdade desportiva?
A arte de desconfiar supera como poder de atracção a simplicidade de confiar. Esta última convida-nos a “não pensar”, a desligar o espírito crítico. O verdadeiro homo sapiens é aquele que critica, duvida e, no limite, sai à rua de sobrolho carregado e a trincar a língua. Esta imagem, com ou sem dimensão caricatural, não anda longe do perfil tipo de quem, na pantalha, tabernas ou escritórios, fala hoje de arbitragens dos jogos de futebol.
Agora pensem num ser vivo capaz de correr veloz de costas, meio virado de lado sobre uma linha sem perder o equilíbrio e olhando ao mesmo tempo para dois lados diferentes, com uma bandeira na mão, que deve levantar quando travar de repente. Você confiará num ser humano a fazer uma coisa destas sem errar? É o fiscal de linha no futebol.
A questão torna-se mais específica, porque metemos Portugal (ou “uma certa ideia de Portugal”) na busca dessa resposta. Nada na vida garante a verdade. No futebol, o máximo a que podemos ambicionar (porque é um jogo) é que garanta a honestidade, mesmo a da “mentira”, do erro, do que vemos, afinal.
“Verdade desportiva” é uma composição de duas palavras em que se quer meter à força conceitos objectivos, quando o jogo só existe a correr com subjectividade. Nasceu assim. Sempre viveu assim. E só não morrerá assim porque é imortal.
“Se podem confiar na isenção”? Sim, mas com que interesse? A adaptação livre da realidade, as multirrepetições de ângulos diferentes, a leitura da intenção, da conspiração. O que faria esse adepto sem isso tudo? Querer que confiança seja o estado natural da relação entre homens e futebol é uma “guerra perdida” face ao conflituoso poder de sedução da desconfiança.
Um bom árbitro nem está tanto em questões técnicas. Mais do que conhecer as regras, deve conhecer o jogo. Em geral, no plano disciplinar, tira-se logo “a pinta” ao árbitro no início. Quando dá indícios de fragilidade, os jogadores “comem-no”. E condiciona-se. Quando entra mais duro, é o público que o tenta sufocar. É quando os adeptos acham que “algo se passa nas suas costas”.
A melhor forma de os árbitros então se defenderem é clara: mais do que combater a tese da conspiração ou falar da dificuldade física da tarefa, basta dizer perante o erro: “Não, nós, árbitros, não somos desonestos, apenas incompetentes.” Simples. Tão simples quanto a consciência de que se uma frase tão assustadora para a verdade do jogo (que reconhece ineptidão) deixa todos mais sossegados, é porque o debate futebolístico perdeu mesmo o mínimo de sensatez.
Se não confiam nos árbitros, confiem na sua sombra.
2.
Depois da Conferência de Paris temos razões para acreditar que a ciência e os líderes políticos vão ser capazes de resolver os dramas ambientais com os quais a humanidade se confronta?
O Acordo de Paris foi um marco efectivo e determinante no combate às alterações climáticas. A sua assinatura deixou claro que o tempo do paternalismo, da superioridade moral do Norte, da imposição sobranceira acabou, dando lugar ao multilateralismo, ao compromisso, à unidade dos princípios que respeitam a diversidade na ação.
Discutir as alterações climáticas é discutir o futuro da vida na Terra, respeitando as opções individuais e a diversidade das formas de organização social. Tudo isto num mundo profundamente desigual. Só que esta não é uma contenda. E Paris reconheceu que há muitas partes, muitos ritmos, muitos olhares, e, sobretudo, muitas e diferentes condições de partida.
Paris fixou uma meta de grande ambição. Chegar ao fim do século XXI com um aquecimento global do planeta que nunca ultrapasse os 2°C, tomando como referência a temperatura da era pré-industrial, mas tudo fazendo para que esse aquecimento não aumente mais de 1,5°C. Posto isto, todos os países, mais de 190, fixaram os seus planos de acção, os quais irão sendo revistos, com mais ambição, a cada cinco anos. Que ninguém aponte modéstia a uma conquista como esta.
Depois de Quioto (só para os "ricos"), de Copenhaga (que pretendeu fazer prevalecer a legitimidade de alguns), Paris gerou um compromisso global, uma forte vontade de combater o cinismo, o reconhecimento de que a ciência não se enganou quando provou que o planeta estava a aquecer e deixou a mensagem clara de que, se a culpa é de todos, é também de todos a responsabilidade para mitigar a emissão de gases que provocam o eeito estufa (GEE).
Portugal tem uma posição de que se pode orgulhar, e sinto que posso escrever esta frase sem receio de vitupério, pois era ministro do Ambiente há quatro dias quando começou a COP21 de Paris.
Paris não foi o alfa e o ómega das alterações climáticas. Percebo a desilusão dos que gostariam que de Paris saísse uma solução fechada. Mas ter esse desejo é não conhecer a diversidade do mundo; e pensar que depois das frustrações anteriores teríamos aqui uma saída salvífica corresponde, afinal, a contemporizar com o paternalismo que nos conduziu às anteriores desilusões.
O mundo ainda é o mesmo depois de Paris, mas o compromisso de o mudar é muito diferente. Contrariando o fatalismo de Casablanca, o filme de Michael Curtiz, que não se "prendam os suspeitos do costume", nem nos fiquemos pelo "princípio de uma bela amizade". "Teremos sempre Paris", e, sobretudo, a responsabilidade de melhorar a nossa ambição já nos próximos anos – e a discussão mais difícil já passou.
3.
A medicina vai ser capaz de encontrar uma resposta para doenças como o cancro?
A medicina já encontrou forma de controlar diversos tipos de cancro, mesmo em estádios avançados. E é de esperar, com inteira confiança, que venha a ser capaz de controlar, no futuro, muitos outros. Estas são boas notícias a juntar à evidência de que a medicina, através da cirurgia, da endoscopia e da radioterapia, é já capaz de curar doentes com cancro desde que os tumores sejam diagnosticados em estádios precoces. Neste aspecto a situação continuará a melhorar, acompanhando o desenvolvimento excepcional da inovação nas tecnologias ligadas à saúde.
Embora a minha confiança no futuro seja, como se vê, enorme, os leitores mais atentos terão reparado na diferença dos verbos "controlar" e "curar". Vamos curar cada vez mais doentes com cancros em estádios iniciais, aproximando-nos dos cem por cento, mas provavelmente nunca seremos capazes de curar a maioria dos doentes com cancros avançados. O objectivo em relação a estes últimos é progredir na capacidade de controlar a doença, tornando-a uma doença crónica não mortal – ou com mortalidade muito adiada – que curse sem dar cabo da qualidade da vida dos doentes. Estou convencido – de novo a questão da confiança – que a medicina continuará a descobrir formas de se aproximar deste objectivo. Recentemente, por exemplo, começaram a obter-se resultados terapêuticos muito interessantes em algumas formas de cancro “avançado” com a chamada "imunoterapia" e é de esperar que os bons exemplos possam ser estendidos para outros tipos de doença cancerosa.
Sem pretender minar a crença no desenvolvimento (quase) imparável da medicina, valerá a pena recordar que o cancro é uma doença que surge a partir das células dos nossos tecidos, fruto de erros que ocorrem no ADN dos genes, como consequência da acção ambiental (hábitos, comportamentos…). Esses genes e essas células são nossos, isto é, o cancro é uma doença “de dentro” por oposição às doenças “de fora”, como as infecções. Em termos biológicos o cancro é quase uma inexorabilidade associada ao facto de sermos uma espécie que continua a evoluir e, ao mesmo tempo, a ficar cada vez mais longeva; daí a dificuldade em conseguir a sua cura, a não ser que seja extirpável. Daí também que seja difícil, ou mesmo impossível, “matar” um cancro avançado sem pôr em risco a vida do doente, o que justifica a importância que se atribui ao conceito de controlo como objectivo major do tratamento.
4.
A igualdade de oportunidades no acesso a bens ou serviços públicos está a ser garantida pelo Estado?
Igualdade de oportunidades é, em primeiro lugar, igualdade formal de todos perante a lei, é Estado de direito. E é, em segundo lugar, o acesso pleno de todos os cidadãos aos meios de construção e preservação da sua humanidade e sociabilidade, instrução, saúde, habitação, alimentação e reformas. Como diz a letra tantas vezes cantada: “Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, educação, saúde, habitação…”
O Estado, para cumprir a sua obrigação constitucional de promover a igualdade de oportunidades, deve garantir o acesso, de todos, a serviços com qualidade, desde o nascimento até à morte, em condições de igualdade, isto é, independentemente da sua condição económica ou social, de raça ou de género. Por isso, a igualdade de oportunidades exige políticas públicas de diferente tipo e natureza, para reduzir desigualdades de partida e para remover obstáculos e compensar os défices de recursos essenciais ao acesso à plena cidadania.
Os 40 anos de democracia foram ricos no desenvolvimento de políticas públicas promotoras da igualdade de oportunidades em vários domínios. Na área da educação, medidas como o alargamento da educação de infância a todas as crianças e da escolaridade obrigatória a todos os jovens, o apoio às famílias através da Acção Social Escolar e do abono de família, a construção da rede de estabelecimentos do ensino superior em todo o país, os programas de bolsas de doutoramento e de formação avançada melhoraram o quadro de oportunidades de milhares de jovens de várias gerações. Se hoje, em Portugal, há mais jovens altamente qualificados e com acesso às mais variadas profissões, isso é o resultado das oportunidades criadas com políticas públicas de democratização do ensino.
Duas questões permanecem.
Em primeiro lugar, a verificação da efectiva promoção da igualdade de oportunidades só pode ser assegurada por via política, pelas escolhas dos eleitores, e pelo voto ou o não voto naqueles que, no governo ou no Parlamento, podem promover tais políticas. Confiar que o Estado garante a igualdade de oportunidades significa confiar na lucidez do universo dos cidadãos eleitores na defesa e na promoção dessas políticas públicas de igualdade de oportunidades. A garantia da igualdade de oportunidades depende, afinal, da política e não só do direito.
Em segundo lugar, o cumprimento da igualdade de oportunidades é uma tarefa sempre inacabada. Podemos olhar para o passado e avaliar o que se cumpriu. Porém, é necessário também olhar para o futuro com uma ambição actualizada. Continuar a promover a igualdade de oportunidades requer o alargamento permanente do nosso entendimento sobre o que significa a igualdade de direitos, ampliando o alcance da igualdade formal. E significa também a opção por políticas públicas centradas na constante melhoria da qualidade dos serviços públicos. Serviços públicos pouco qualificados, supletivos, são instrumentos de reprodução das desigualdades, fornecendo apoios mínimos aos que não têm capacidade económica para adquirir recursos no mercado. Em contrapartida, serviços públicos de elevada qualidade e por isso necessariamente universais são uma melhor garantia de construção de uma sociedade organizada em torno dos princípios da igualdade de oportunidade e de redução das desigualdades.
5.
A escola está a ser capaz de preparar as crianças e os jovens para os desafios dos novos tempos?
Se fizermos um balanço dos últimos 15 anos da sociedade portuguesa, o saldo obtido não nos deixará confortáveis. A economia não nos trouxe nem maior bem-estar. O país deixou-se cair na teia imobilizante da dívida externa (pública e privada). A população deixou de crescer. O sistema político, as instituições centrais, a Justiça, o sistema financeiro deixaram de merecer a já reduzida confiança dos cidadãos. As recorrentes reformas estruturais, de há muito identificadas e debatidas, estão na sua maioria por fazer.
E a Educação? Surpreendentemente, parece ter escapado a esse quadro de estagnação, apesar do ruído constante que a desvaloriza. Temos uma população mais escolarizada e o abandono escolar precoce reduziu-se de uma taxa de 44,8% em 2001 para 13,7% em 2015. Os resultados dos alunos nos testes internacionais de leitura, matemática e ciências, passaram dos últimos lugares para uma posição próxima da média dos países da OCDE. O número de diplomados com formação superior duplicou nos dez anos anteriores à crise de 2008, tendo estagnado a partir de então.
Tivesse a economia e os restantes sectores uma evolução semelhante à Educação e decerto não viveríamos a incerteza do presente. Por isso arrisco defender que a escola em Portugal está mais bem preparada para formar as novas gerações do que estava há 15 anos. O problema está em saber, em primeiro lugar, se a economia e a sociedade estarão preparadas para criar as oportunidades para que essas gerações mais qualificadas possam encontrar no seu país as condições para a sua realização como pessoas e como cidadãos. Em segundo lugar, importa questionar se a escola está preparada para uma sociedade “imaginada” para daqui a 15 anos. Para a primeira questão só encontramos uma resposta: mais e melhor crescimento económico de forma a criar mais oportunidades de emprego qualificado. Para a segunda, sugiro que se dê continuidade ao esforço de organização e racionalização do sistema educativo, ao mesmo tempo que se investe na mobilização e qualificação dos professores.
Num contexto de incerteza só temos um caminho a seguir: centrarmo-nos sobre o fundamental, o conhecimento e o saber pensar, a cultura e o saber criar, a abertura ao mundo e o saber comunicar. Este centramento irá obrigar a escola a repensar as suas práticas e a valorizar no seu currículo o desenvolvimento dessas novas capacidades. Por isso precisamos de currículos menos prescritivos e mais flexíveis, menos extensos e mais aprofundados, menos compartimentados e mais coerentes, mais centrados sobre o conhecimento e as maneiras de pensar de base científica e menos sobre o senso comum e as vulgatas pedagógicas de inspiração romântica.
6.
Que custos e benefícios – para as contas públicas, o Estado, os funcionários públicos e aposentados – teve o chumbo dos cortes salariais na função pública e nas pensões decidido pelo TC com base na violação do princípio da confiança?
O princípio da confiança é absolutamente imprescindível num Estado de direito. Sem ele perdemos estabilidade e segurança. Os funcionários públicos, fazendo parte da estrutura do Estado, são pilares a que qualquer governo deve prestar a máxima atenção no respeito do princípio da confiança. Sem eles, não haverá certamente um Estado eficiente na sua acção.
Desde sempre que para se ser funcionário público é necessário preencher um conjunto de condições da maior exigência, com carreiras díspares e altamente exigentes nos diversos sectores, sem a segurança laboral que frequentemente lhe são atribuídas. Por seu turno, o Estado teria de comprometer-se com comportamentos de rigor, de não discriminação e de gestão adequada dos seus recursos humanos. Em simultâneo, os requisitos de aposentação eram específicos para atrair os melhores recursos humanos, retê-los e dispensá-los numa determinada idade para assim atender à necessidade da sua boa gestão, com impacto na produtividade. Assim se justificavam salários mais baixos na função pública para níveis equiparáveis de formação em relação aos praticados no sector privado. Haveria, no futuro, um salário diferido, a pensão de velhice.
Cumprir o disposto deste contrato, seja em termos do montante do salário, seja em termos do montante da pensão, é da maior relevância. O mesmo é verdadeiro em relação a todos os aposentados do sector privado abrangidos pelo sistema de Segurança Social. Acontece que desde 2005 foram estabelecidos mecanismos de convergência do regime de protecção social da função pública com o regime geral da Segurança Social no que respeita às condições de aposentação e ao cálculo das pensões, o que já poderia perfilar uma quebra de expectativas criadas. Assim, o chumbo de medidas discricionárias de cortes salariais na função pública e nas pensões apresenta-se como benéfico à manutenção de relações de confiança. Caso contrário, o potencial ganho de curto prazo nas contas públicas trará consequências gravosas de longo prazo no funcionamento.
Infelizmente, a desregulamentação que se tem vivido desde meados dos anos 80 do século XX, um pouco por todo o mundo, acompanhada por quebras de confiança e de ética, tem-se reflectido em crises económicas, financeiras e sociais mais frequentes e preocupantes, traduzindo-se no aumento das desigualdades. Diversos economistas como Stiglitz, Akerlof e Shiller, entre outros, têm chamado a atenção para a crescente necessidade de o Estado cumprir e fazer cumprir o princípio da confiança.
7.
A geração entre os 30 e os 50 anos tem razões para acreditar na sustentabilidade do sistema de pensões até ao momento da sua aposentadoria?
A confiança não se decreta, nem se proclama. Constrói-se durante longo tempo, ainda que se possa erodir com erros políticos e fascínios eleitorais. É património imaterial de qualquer provisão social pública, privada ou mista.
No nosso sistema de pensões – baseado no contrato geracional e na lógica sinalagmática entre obrigações e direitos – a ideia da confiança é decisiva, ainda que enfrente, sobretudo em conjunturas severas, expressões (às vezes, crípticas) de desconfiança.
Drummond de Andrade dizia que “a confiança é um acto de fé, e esta dispensa raciocínio”. Acrescentaria que, no domínio do catastrofismo que assedia os sistemas sociais, esta asserção é certeira para a desconfiança. Desobriga o raciocínio e prova real e alimenta-se freneticamente do “diz-se”.
Os sistemas de pensões em regime de repartição apresentam algumas vulnerabilidades a prazo. A solução, porém, não é a de passar para uma lógica de fundeamento das responsabilidades futuras (regime puro de capitalização), pois que é de todo irrealizável. Este debate é até estéril: exigiria que uma geração completa duplicasse o esforço (para a geração anterior e para a sua), dificilmente cobriria o risco da inflação e não ofereceria mais segurança em tempos de crise.
As debilidades do sistema prendem-se com a nefasta convergência de uma demografia estruturalmente “adversária” e de uma economia conjunturalmente com menos capacidade de criar riqueza e com elevado desemprego.
A chave da questão está na capacidade de, por via do aumento da produtividade, se compensar o efeito da deterioração do peso da população empregada versus inactivos e desempregados. Isto, para além de medidas paramétricas já concretizadas para ajustar o sistema, a começar pelo “factor de sustentabilidade”, que funciona como “estabilizador automático”.
A evolução demográfica deve ser perspectivada dos dois lados. Vive-se mais tempo e nasce-se menos. Ora, isto significa que, se o peso das pensões é maior, também o mesmo valor (real) de salários de há 40 anos é agora repartido por menos filhos e, assim sendo, há maior capacidade de aforro familiar. Por isso, a confiança pressuporá também a não demonização da necessária complementaridade da protecção na velhice, nem o envenenamento ideológico dos tectos contributivos do sistema público com que alguns se entretêm.
Em suma: produtividade, sentido estratégico das reformas paramétricas, pedagogia da poupança são as chaves da confiança geracional. Em vez de incitamentos indirectos e perversos à fragmentação geracional, bom será não delapidar a confiança no contrato social– passando do exclusivismo de um Estado providencialista (de prover) para uma sociedade mais previdencialista (de prevenir).
8.
Ainda podemos acreditar nas promessas dos políticos nas campanhas eleitorais?
Em 2005 José Sócrates prometeu recuperar os 150 mil empregos perdidos nos três anos anteriores pelos governos PSD-CDS/PP, caso vencesse as eleições. E o que aconteceu? O PS venceu as eleições, mas entre 2005 o total de população empregada baixou de 5 para 4,9 milhões. Por seu lado, em 2011, Passos Coelho garantiu que não aumentaria impostos. Um ano depois, o ministro das Finanças Vítor Gaspar anunciava um “enorme aumento de impostos”. Poderíamos adicionar exemplos, mas estes chegam para ilustrar o problema.
O que aconteceu nos últimos actos eleitorais em Portugal foi um choque entre promessas de longo e curto prazo. Foi preciso sacrificar as promessas em relação ao emprego e aos impostos – promessas com visibilidade e de curto prazo – em nome de uma promessa implícita de longo prazo feita entre os principais partidos portugueses e os eleitores: a nossa permanência no centro do projecto europeu.
Em política como na vida, surgem pois sempre imponderáveis que obrigam a incumprimentos. É aí que entra a necessidade de fazer política e de comunicar eficazmente as razões pelas quais por vezes é preciso sacrificar promessas de curto prazo em nome de objectivos de longo prazo.
Mas além da parte substantiva das políticas que foi compreendida e aceite a julgar pelo conjunto dos resultados eleitorais tanto em 2011 como em 2015, houve algo de estruturalmente desestabilizador do ponto de vista da legitimidade política: com a entrada da troika em Portugal e a implementação da união monetária a soberania política do país foi fragilizada. Estes últimos tempos mostraram à saciedade os limites da liberdade de fazer e implementar promessas políticas, independentemente de serem de curto ou longo prazo.
O que tem de existir é uma visão de conjunto – um projecto político – que se consiga implementar e que se consiga comunicar como credível, apesar dos incumprimentos que serão sempre inevitáveis. Isso significa que Passos Coelho, que sempre se afirmou como um liberal, não pode agora, porque serve ao PSD, afirmar-se como social-democrata e centrista. Mas essa visão de conjunto, é preciso que a esquerda perceba, tem de ser articulada num quadro de pertença à Europa que é a principal promessa de longo prazo do nosso sistema político. Tem sido possível a António Costa fazer a quadratura do círculo. Mas para já o europeísmo da coligação ainda não foi seriamente testado.
9.
A globalização vai criar um mundo menos desigual e distribuir oportunidades em todo o mundo?
Em Fevereiro de 2011, a Sociedade Geológica de Londres adoptou uma designação sugestiva para nomear uma nova época da história da Terra – o Antropoceno. Até há pouco tempo, vivíamos no período designado por Holoceno, a longa era que se seguiu à última glaciação e que ficou caracterizada pelo surgimento das civilizações agrícolas e urbanas. A fase geológica em que estamos a entrar apresenta como marca mais assinalável a influência da acção humana no clima, nos grandes equilíbrios ambientais e na biodiversidade. O homem é assinalado como o grande agente perturbador que desafia a perpetuação dos longos ciclos naturais.
Michel Serres elaborou um conceito novo para traduzir o processo histórico de transformação da natureza e do homem pelo próprio homem – o conceito de hominescência. De acordo com este filósofo francês, a humanidade dedicou-se na sua etapa mais recente à construção de “objectos-mundo” (a decifração do genoma humano, a bomba atómica, a Internet), os quais têm o condão de alterar radicalmente a forma mesma de se ser humano. Recém-saídos de um mundo predominantemente agrícola, passamos a habitar um universo de artefactos que simultaneamente possuímos e nos possuem enquanto espécie – verdadeiros artefactos-artífices. Somos assim transportados para uma exposição ao risco individual e colectivo de uma magnitude até hoje nunca observada.
A globalização, palavra semanticamente empobrecida pelo seu uso quase irrestrito, só pode ser verdadeiramente compreendida se projectada neste pano de fundo. Traduz um impressionante acréscimo de proximidade, de visibilidade e de instantaneidade, de que resultam alterações profundas no direito, na moral, na política, na economia e no estatuto da ciência e da técnica. Olhemos apenas para o que tem vindo a acontecer à categoria do Estado-nação: assiste-se hoje à sua progressiva diluição, provocada por factores diversos, tais como o surgimento de agrupamentos supranacionais, a parcial precarização do princípio da soberania ante o avanço do direito de ingerência, ou a proliferação de projectos universalistas de cariz messiânico.
Perante isto, é ainda possível falar de confiança? Creio que sim, se não cairmos numa fé cega numa ideia, num sistema, num fundamento ou num destino. Afinal de contas, o grande espectáculo do nosso tempo também é o do triunfo da razão, desarmadilhada de pretensões totalizantes, e, nos seus melhores aspectos, claramente colocada ao serviço do homem. É preciso ter em conta que nos últimos 25 anos se verificou uma redução drástica da pobreza à escala universal, um eloquente recuo da mortalidade infantil, um enorme aumento da esperança de vida e a emergência de uma nova classe média planetária. E, por fim, convirá ainda não esquecer que, apesar de todas as dificuldades, a aspiração democrática tem vindo a ganhar terreno no nosso planeta.
10.
As ideias políticas que resistem do passado são suficientes para os desafios do presente ou são necessárias novas ideologias?
Fala-se no fim ou na crise das ideologias com sentidos e propósitos muito diversos. Umas vezes, trata-se de sublinhar uma espécie de cristalização da economia política, trazida pela globalização e pelos desastres com que terminaram as experiências de "socialismo real". Outras vezes, pretende-se antes sublinhar a exaustão das ideologias tradicionais do século XX, facto que estará associado ao declínio da participação política nas sociedades desenvolvidas e "afluentes".
Ora a ideia de que o desenvolvimento económico e a complexificação das sociedades modernas eliminariam os problemas para que as ideologias tradicionais tinham resposta, dando lugar a um mundo mais tecnocrático, com novas necessidades e novas soluções não organizadas em sistemas rígidos de valores, tem ainda pouco sentido relativamente a Portugal. O senso comum e a literatura especializada convergem neste ponto: talvez essa seja uma boa descrição do que se passa em algumas economias ricas, mas está longe de constituir uma boa leitura das sociedades periféricas do mundo desenvolvido.
É verdade que, mesmo nestas geografias, as arrumações tradicionais não classificam suficientemente os fenómenos políticos. A direita era patriótica e nacionalista, e a esquerda internacionalista e aberta, por exemplo; mas hoje, sobretudo na Europa, a direita moderada – com excepção dos conservadores ingleses – é europeísta do mesmo modo que o é a social-democracia, ao passo que a extrema-esquerda e a extrema-direita convergem num ideal soberanista e autárcico, mostrando desconfianças semelhantes face à globalização.
Mudou o conteúdo da ideologia, mas não a divisão ideológica. Os mais novos tenderão a identificar com a direita os valores morais tradicionais, a defesa da identidade da nação, a protecção do “mundo dos negócios”, e a associar à esquerda a defesa do ambiente, da igualdade de género e do multiculturalismo – farão ainda hoje a distinção clássica, embora se sintam provavelmente mais mobilizados com temas transversais (clima, sustentabilidade, paz ou desigualdades) do que com os que marcavam a distinção entre direita e esquerda há 40 anos.
Creio, por isso, que a maior parte das pessoas pensa e age como pertencendo a um dos lados da referida distinção, ainda que não tenha sempre consciência disso mesmo. A necessidade de investir fortemente na educação e na inovação, para podermos competir no mundo globalizado e combater as desigualdades, afigura-se como a única verdadeira expressão desse alegado “consenso tecnocrático”. Admito que talvez também se esbatam as diferenças quando se discute o futuro da Europa: uma grande maioria aceitará que se precisa de segurança e de disciplina, mas que a tolerância, a abertura e a criatividade não são menos necessárias.
11.
Os alimentos que compramos no dia-a-dia obedecem às boas regras de utilização de fertilizantes químicos e de produtos fitofarmacêuticos?
Para a Deco a pesquisa de resíduos de produtos fitofarmacêuticos tem sido uma preocupação já há muitos anos. Segundo um inquérito que realizámos em 2015 sobre hábitos de compras para mais de metade dos portugueses, os químicos e pesticidas nos alimentos estão entre as principais preocupações em matéria de segurança alimentar.
Tendo em vista regulamentar a aplicação de pesticidas em produtos alimentares e, consequentemente, garantir a segurança dos consumidores, a Comissão Europeia publicou uma lista que inclui cerca de 1100 pesticidas agrícolas e as quantidades máximas de vestígios dos mesmos que podem ser encontrados nos produtos alimentares.
Em Março de 2015, realizámos um teste a vinhos no sentido de pesquisar e quantificar os resíduos de pesticidas, tanto os autorizados como os proibidos na uva para vinho, verificando se respeitavam os limites máximos de resíduos (LMR) impostos pela Comissão Europeia. Apesar de os resultados apontarem para um uso generalizado de pesticidas nos vinhos de produção convencional, dado termos detectado resíduos na maioria dos vinhos analisados, verificámos que os teores encontrados estavam muito abaixo do limite legal. Estes resultados podem ser um indício da prática de boas regras de utilização.
Verificámos ainda que a maioria dos vinhos continha mais do que um resíduo de pesticida. Contudo, ainda não há dados que permitam avaliar o chamado "efeito cocktail" dos pesticidas, que resulta da combinação de vários resíduos. Aliás, a legislação europeia é omissa quanto ao número de substâncias químicas acumuladas permitidas.
As investigações existentes são manifestamente insuficientes para perceber os resultados para a saúde da combinação de várias substâncias, quando presentes num mesmo alimento. É, por isso, imperativo que se legisle quanto ao número máximo permitido de pesticidas acumulados no mesmo alimento, para a segurança do consumidor.
12.
Os restaurantes com mais estrelas Michelin ou os vinhos com mais pontuação são de facto os melhores ou são os que melhor constroem as suas imagens a partir do marketing?
Os restaurantes com mais estrelas Michelin estão geralmente entre os melhores dentro daquilo a que se pode chamar “cozinha criativa”, já que o guia privilegia esta vertente e liga menos à cozinha tradicional, valorizando a “personalidade” do chefe. Mas, felizmente, a cozinha não cabe toda no guia Michelin e há excelentes restaurantes que nunca terão nem nunca pretenderam ter estrelas. O guia Michelin existe há mais de cem anos e viu passar muitas modas e técnicas de marketing, por isso não me parece que sejam muito influenciados por elas. Se para ganhar estrelas Michelin bastasse investir em marketing, certamente que não faltariam empresários e cozinheiros dispostos a fazê-lo, porque o retorno financeiro é quase sempre muito apetecível.
Nos vinhos, creio que há mais influência do marketing. Um enólogo conhecido, um rótulo bem desenhado, garrafas pesadas, boas histórias no contra-rótulo e na informação que se envia, juntamente com a própria garrafa, a jornalistas e críticos influenciam bastante. Mas o mais importante é o preço. Quando é elevado, ou muito elevado, a percepção de qualidade aumenta também. E vice-versa.
Ao contrário da solidez da cozinha (muito mais fácil de decifrar, até porque quase toda a gente cozinha em casa), no mundo do vinho impera a abstracção e adoptou-se uma linguagem pouco clara que não ajuda nada. Não é por acaso que as pontuações dos vinhos variam imenso de guru para guru, mesmo que nos queiram convencer, cada um deles, que a sua avaliação é a mais rigorosa de todas, quase científica, que o gosto pessoal não é para ali chamado. No entanto, essa aparente segurança de quem classifica os vinhos não consegue ocultar que estamos numa área em que poucas coisas são seguras, por vezes nem as uvas que se utilizam ou as regiões de onde são originárias. Uma área demasiado vaga, em que o marketing pode fornecer argumentos concretos, frequentemente recebidos de braços abertos.
13.
Depois do caso Volkswagen podemos continuar a acreditar nas grandes marcas globais?
Podemos acreditar e precisamos de acreditar, porque a alternativa não é atraente. Mas devemos reservar e cuidar com prudência da nossa confiança, até porque precisamos cada vez mais de confiar.
Podemos acreditar e precisamos de acreditar, porque a alternativa não é atraente. Mas devemos reservar e cuidar com prudência da nossa confiança, até porque precisamos cada vez mais de confiar.
A confiança nas marcas e nas empresas liberta-nos da necessidade de uma miríade de informações e experimentações e, ao mesmo tempo, alivia-nos da angústia que acompanha a nossa incerteza, mormente quando esteja em causa a nossa integridade. A reputação mundial de uma marca é um conforto adicional, reforçado, aliás, quando o país de origem da empresa se associa à excelência do produto em causa. As empresas aprenderam que são bancos de confiança e que tal confiança pode ser reposta se a resposta a uma crise for rápida, responsável e claramente a favor da proteção dos consumidores e do público em geral.
O caso recente da VW não envolveu falhas técnicas ou acidentes na estrada. O que houve foi uma trapaça rasca mediada por computadores, à escala mundial. Como se não bastasse, os dirigentes da VW tentaram logo tirar o carrinho da chuva, como se a dimensão e complexidade do grupo fossem fontes de negação plausível. Tinham querido que a VW fosse a maior do mundo dos automóveis e tinham conseguido. Agora sabemos melhor como o fizeram.
Os casos como este da VW são, no fim de contas, casos exemplares de má gestão no topo das empresas. De má gestão praticada por administradores e executivos que se deixaram dirigir, apanhados no rolo dos “mercados”, na crença de que é imperativo fazer crescer as vendas para fazer crescer o valor da empresa na bolsa. Dirigentes guiados por incentivos que os tornam accionistas de fachada, na crença de que isso é bom para os accionistas a sério. Dirigentes guiados pela crença de que ser líder significa agir com risco ampliado. Crenças demais. Qualidade de gestão a menos. E a nossa confiança que se esvai.
A confiança é um extraordinário substituto do conhecimento. Se alguém me disser que dois vezes dois são quatro, não preciso de acreditar. Basta-me o que sei. Mas se me disserem que este é o carro certo, como posso saber? E se me disserem que aquele é um investimento seguro? Não posso saber, por isso, preciso de acreditar. Por isso a confiança nos é essencial. Sem confiança a nossa vida seria um inferno. Sem confiança, aliás, não haveria mercado que resistisse.
O nosso mundo é cada vez mais global e mais digital. Descobrimos, com surpresa, que o “nosso” mundo é cada vez mais interligado, interdependente e integrado com o “resto”, quer queiramos, quer não. Que tal mundo global é novo, emergente e incompreendido – e, assim, muito mais incerto. Sentimo-nos confusos com o presente e angustiados com o futuro. Nunca precisámos tanto de confiança como agora. Mais uma razão para a oferecer cuidadosamente.
14.
Podemos estar descansados com a protecção informática que existe nas transacções comerciais on-line?
Vamos ser realistas: há todo um conjunto de razões para todos fazermos compras online. As possibilidades de negócio estão em quase todas as páginas que visitamos, a oferta online anda muitas vezes de braço dado com a exclusividade, os tempos de espera das encomendas são cada vez menores. Contudo, devo confessar que continuam a existir alguns riscos com as encomendas online. A segurança informática está cada vez mais aprimorada, mas uma grande fatia dos riscos continua a surgir da combinação entre segurança física e segurança informática. Um exemplo bastante concreto diz respeito à memorização de passwords ou dados de um cartão de crédito, escrevendo-as num papel que trazemos sempre connosco na carteira… até ao dia em que a perdemos. A partir do momento em que os hackers têm acesso aos nossos dados, aumenta a complexidade de uma ferramenta informática conseguir distinguir o que é um cliente legítimo de um ataque fraudulento.
Actualmente, as lojas online “de referência” levam a segurança muito a sério e não se ficam apenas na implementação de ferramentas de protecção contra casos como phishing ou spoofing, complementando-as com mecanismos de detecção de fraude para proteger os seus clientes e a sua reputação. Face aos dados que são processados pelos sistemas de segurança, os sistemas antifraude apresentam medidas complementares de protecção para os compradores que assentam no enriquecimento dos dados de perfil do utilizador. Pegando no exemplo inicial dos dados de cartão de crédito perdido, poderia usar um conjunto de validações extras de perfil antes processar a compra do utilizador. Como a maior parte das pessoas se faz acompanhar pelo telemóvel, porque não pedir uma validação do comprador através de sms, caso seja feita uma compra online numa localização diferente daquela onde o telemóvel se encontra?
Em conclusão, as compras online são cada vez mais seguras, mas existe um critério que muitas vezes é descartado face ao potencial de um negócio atractivo que é a credibilidade. A credibilidade é um activo que cada vez mais entidades certificam através de auditorias externas e não deve ser descartada no momento em que ponderamos uma compra, nem que para isso tenhamos de pagar um pouco mais pelo produto que desejamos.
15.
O jornalismo português cumpre suficientemente as boas regras de rigor, pluralismo e liberdade de expressão para que possa ser considerado confiável e credível?
Sufocado por diversas pressões, o jornalismo em Portugal apenas sobrevive porque, entre a classe jornalística, sobressai um grupo de profissionais que assegura, aqui e ali, trabalhos que lá vão neutralizando os sucessivos deslizes que o campo multiplica em todas as plataformas. Hoje, os jornalistas não se sentem livres e isso constitui um enorme perigo para a democracia. É esse debate à volta das ameaças da profissão, com consequências directas na qualidade dos produtos informativos, que urge fazer. Já e em força!
Asfixiados financeiramente, os projectos editoriais não têm fôlego para inovar, para investigar processos, para nos surpreender com os reflexos da vida de todos os dias. Percorrendo o noticiário diário em diferentes media, destaca-se uma agenda repetitiva e sem rasgo que passa muitas vezes ao lado daquilo que importa saber. Não estando em causa o rigor do que se escreve, deve ponderar-se frequentemente a relevância do que se noticia e que lá vai estruturando o debate público...
A declinação da actualidade por uma espécie de confraria que se perpetua nos palcos mediáticos é outro dos problemas que hoje subtraem qualidade ao jornalismo. Esse pensamento dominante que se instalou no espaço público mediático à custa de tiranias estratégicas de fontes cada vez mais profissionalizadas retira autonomia aos media para se assumirem como contrapoder. Tirando partido de uma crise que aprisionou o jornalista à sua cadeira da redação, as fontes lá vão impondo as suas versões, muitas vezes sem qualquer contraditório e nós lá vamos acedendo apenas a uma parte daquilo que acontece.
Quem resgatará, pois, este jornalismo que se afunda? Os jornalistas e os cidadãos. É este binómio que, bem coeso, poderá fazer reverter caminhos. Precisamos de jornalistas corajosos, bem formados, com conhecimentos cruzados de diferentes campos e que saibam ler o mundo contemporâneo. E necessitamos igualmente de cidadãos que coloquem a informação jornalística como um bem essencial e que paguem por isso o seu justo valor, a fim de dotar os projectos editoriais da indispensável independência financeira.
Os media noticiosos estão em crise e os jornalistas nunca estiveram tão mal, é um facto. Mas a verdade, o rigor, a criatividade são ainda traços bem presentes em muitos produtos noticiosos. Cabe a cada um de nós o desafio de os revitalizar.
16.
A fé religiosa é a representação suprema da confiança humana?
A confiança nasce fora de nós, mas depois cresce por dentro, porque, da concepção ao dar à luz, somos apelo a que nos cuidem. Ainda depois, os pedidos ficam à espera de resposta. Se a obtemos, para necessidades básicas de sustento, defesa e consolo, vamos ganhando confiança.
Quando não é assim, a confiança não pode crescer, por falta de resposta ao apelo que somos. Tão “simples” como isto, tão verificável também. Porque a desconfiança generaliza-se por falta de resposta social e afectiva; e, pelo contrário, a confiança sustenta as sociedades que a sustentam, das famílias às vizinhanças, dos grupos às organizações.
Quando encontramos resposta, tornamo-nos resposta também. É isto ser “pessoa”, como ser em relação, que quanto mais se aprende, mais se pratica e vice-versa. A maturidade atinge-se pela interiorização da confiança. A responsabilidade exerce-se depois a partir de dentro de cada um, como gerador da confiança dos outros.
As tradições religiosas proporcionam confiança, quando respondem a apelos inevitáveis de sentido. Apelos que ocasionam gritos e silêncios, histórias, artes e poesias. Numa definição de dicionário (Verbo), a religião é «crença na existência de um poder ou força sobrenatural de que o homem depende e a que, como tal, deve obediência e adoração». Etimologicamente, obediência significa escuta, acolhimento activo; e adoração traduz-se por viver do que vem de Outro, como sopro vital, vivendo e convivendo disso mesmo.
Por vezes, nada mais sustenta ou explica atitudes e práticas. Quando um jornalista disse a Teresa de Calcutá que não faria o que ela fazia – “cuidar daqueles moribundos como estavam por todo o dinheiro do mundo” –, ela respondeu-lhe simplesmente: “Eu também não.” Respondia, por dentro, como já sabia ser ela própria respondida.
Por isso as religiões proporcionam confiança. Por vezes, são mesmo o seu único sustento. Quando representam e transmitem seguranças interiores garantidas por testemunhos, alheios e apropriados.
Não é por acaso quando, entre emigrantes, as tradições religiosas recrudescem. Nasceram por vezes em vidas “emigradas”, que em vários tipos de deserto só podiam contar com o que levavam por dentro. Cresceram depois, comprovando que bastavam para abrir futuro, até mais do que futuro. E nas vozes que os levavam reconheciam um étimo acolhido. Pode ser assim.
17.
As estatísticas dos organismos oficiais sobre os indicadores económicos são credíveis?
As estatísticas não têm boa reputação. Churchill só acreditava nas que ele havia instruído. Para Disraeli haveria três tipos de mentiras: as mentiras, as malditas mentiras e as estatísticas. O que há de justo em tudo isto? Como as gravuras, as estatísticas não sabem nadar, não podendo evitar o mau uso que delas se faça, na política e não só. Se bem torturadas, acabarão por confessar o que queremos ouvir. Alteram-se as escalas dos gráficos, escolhem-se as datas de início ou do fim do período em análise, usam-se valores reais ou nominais consoante as conveniências – um sem-fim de truques que têm contribuído para que se desconfie das estatísticas, confundindo uso (e abuso) com a qualidade do produto em si.
Ser parte da União Europeia e, em particular, da União Económica e Monetária, implicou também na construção das estatísticas, sujeitar-se a um escrutínio apertado dos procedimentos que se estreitou com o advir da crise e, em especial, com a constatação de haver países que aldrabavam as estatísticas à vontade do freguês. O Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal superaram esses testes sem especiais dificuldades. No caso do INE, um resultado contranatura, face à míngua de recursos, numa instituição cujo papel não tem sido bem compreendido e valorizado, tornando-a vítima da mesma política remuneratória cega que tem contribuído para delapidar o património de práticas e conhecimentos e para decapitar outros organismos da função pública. Está para se ver se a tentativa recente para corrigir estes erros será suficiente para estancar a sangria de técnicos e estabilizar o quadro de pessoas e competências.
Se, no plano técnico, as estatísticas produzidas são confiáveis, nem sempre a política de comunicação tem estado à altura, contribuindo para criar desconfiança junto da opinião pública e facilitando usos políticos abusivos. Em alguns casos, a tecnicalidade não ajuda. É o que acontece com o desemprego: os dados produzidos pelo INE estão conformes aos procedimentos internacionais, garantindo comparabilidade com outros países, mas deixam o comum dos cidadãos baralhados com o que é desempregado para fins estatísticos e na vida real. Falta jeito ou orçamento para mais pedagogia?
No fundo, é preciso perceber que as estatísticas são apenas números, abstracções da realidade e não a realidade em si, nomeadamente na sua dimensão social. Voltando a Churchill, as estatísticas hão-de ser como o lampião para o bêbado: é mais útil o amparo do que a luz.
18.
As universidades portuguesas formam cidadãos com melhores capacidades para se adaptarem mercado de emprego?
As universidades e os institutos politécnicos portugueses são instituições muito diversas, que respondem hoje a públicos variados (350.000 alunos inscritos em 2015). Poderá dizer-se que as suas missões não têm sido anunciadas de modo audível pelas suas lideranças e pelos académicos que as integram. Porém, se nos concentrarmos na missão de educar e formar, seria bom entender-se que a educação superior tem respondido a desafios que mudaram profundamente ao longo dos últimos 50 anos.
Em trabalho recente, feito junto de variado leque de grupos de interessados, ouviram-se vozes sustentando a preferência por diplomados com adequada preparação para se integrarem em pequenas e médias empresas, dotados de capacidades, aptidões e conhecimentos técnicos próximos das exigências profissionais desse universo empresarial. As opiniões com origem em grandes empresas apontam para um leque mais variado de requisitos, aptidões e conhecimentos. Sustenta-se o valor de um diversificado leque de perfis de diplomados, alguns associados à missão das instituições politécnicas, outros mais condizentes com o que se espera da oferta vinda do sector universitário, valorizando-se a capacidade de investigação científica, as competências interdisciplinares e transversais.
O desemprego para a população com um curso superior tem sido sistematicamente inferior ao valor médio do desemprego observado para o país. Quando se exerce profissão requerendo qualificações superiores, os níveis remuneratórios são elevados em termos comparativos. E a procura de trabalho fora de Portugal tem criado oportunidades para demonstrar o elevado grau de apreço pela qualidade dos nossos diplomados em variado leque de domínios. Os alarmes que têm soado recentemente são, pois, desproporcionados e escondem carências em várias áreas, para as quais é urgente requalificar e reorientar diplomados em domínios em que o emprego é escasso.
Portugal vive tempos pobres em contributos para ultrapassar estrangulamentos e dificuldades associados ao nosso desenvolvimento económico, social e cultural. Como têm faltado reflexões sobre a nossa história e cultura, as nossas qualidades e os débeis níveis de autoconfiança que alimentam o quotidiano dos portugueses. Missão das instituições de educação superior também e mal cumprida esta! De facto, os entes com autoridade e responsabilidades por iluminar e estimular caminhos de mudança profunda são abafados por ruídos e interesses variados, muitos deles longe de estarem alinhados com a responsabilidade de servir o bem comum.
19.
Perante os desafios actuais, que âncoras têm os portugueses para poder acreditar no futuro?
As principais âncoras que me fazem acreditar no futuro do nosso país são a qualidade do nosso capital humano e o dinamismo das nossas empresas.
Portugal apostou, e bem, na qualificação da população jovem, abrindo-lhe oportunidades no ensino superior sem termo de comparação na nossa história. Nunca tivemos uma geração tão próxima dos países europeus mais desenvolvidos.
Em especial nas duas últimas décadas, Portugal lançou o maior programa de formação avançada até hoje realizado, em especial nas áreas da ciência e da tecnologia.
De 2000 para 2014, Portugal passou de 3 para 7 investigadores por 1000 habitantes activos, uma evolução sem precedentes em qualquer outro país da Europa, e já acima da média da União Europeia.
Este potencial de gerar conhecimento, convenientemente utilizado pelas empresas e pela sociedade em geral, permitirá a Portugal dar um grande salto na competitividade da sua economia e na sua capacidade de inovar.
Aliás, a evolução dos três últimos anos (2013, 2014 e 2015), tal como a projecção para 2016, revelam um consistente superavit da balança de bens e serviços – o que acontece pela primeira vez desde o final da II Grande Guerra – e é bem demonstrativo da grande alteração da nossa capacidade competitiva.
Do mesmo modo, importa também sublinhar que as nossas exportações em relação ao PIB aumentaram de 27% em 2009 para mais de 40% em 2015 , o que igualmente confirma esta tão positiva evolução, hoje já em linha com os valores médios da União Europeia.
Se continuarmos a apostar na qualificação da população activa e se incentivarmos a inovação das empresas através da maior incorporação da capacidade de gerar conhecimento do nosso sistema científico e tecnológico, estou certo que assistiremos a mais investimento, a mais criação de emprego, a mais sucesso no combate à desigualdade.
Todos temos de ser mobilizados colectivamente numa estratégia de longo prazo que transforme o nosso país numa sociedade mais moderna, mais livre e mais justa. Esses são também a missão e o compromisso da Fundação Calouste Gulbenkian.